QUINZE FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO
Sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos
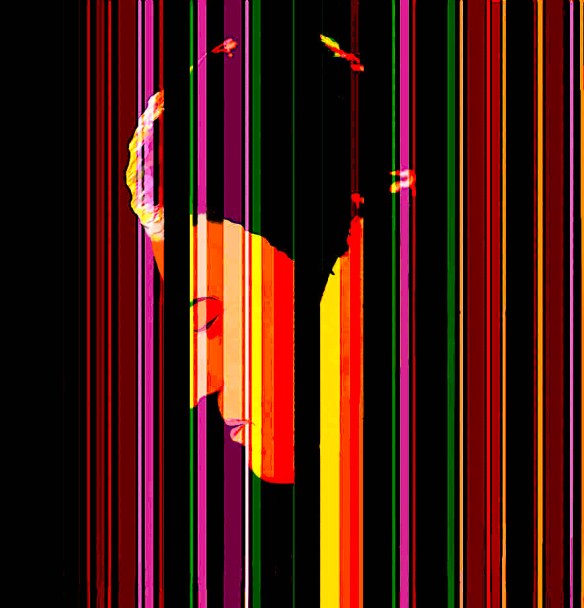
“O Poeta”. JAS. 08-2023
NOTA PRÉVIA
Retomo e reescrevo, numa série de textos que irei publicar, e de que este é o primeiro, as respostas mais significativas que dei aos meus leitores digitais de poesia. Estes textos valem por si, não necessitando de apoio nem de referentes, pois foram reescritos precisamente com este fim de compreensão autónoma. Publicarei, sim, aqueles comentários que considero mais relevantes e necessários para que se compreenda melhor as minhas respostas em próxima publicação (que acontecerá ainda este ano): o meu “Poesia II” (pelas Edições ACA).
I.
UM POEMA É UM OÁSIS ou um sonho no deserto. O sonho, que é sempre incerto e codificado, convertido em obra de arte, também ela codificada na sua linguagem e segundo as suas regras. Um sonho que resgata outro sonho. Duplo resgate: da vida vivida e do sonho sonhado. O poema dá-lhes voz. “La vida es sueño”, dizia o Calderón de la Barca. E o outro poeta dizia que o sonho comanda a vida. A vida é sonho e o sonho comanda a vida. Um círculo virtuoso num mundo de sinais. E é bom sonhar de olhos abertos, quando há alguma areia no caminho. E há sempre areia. Impossível não haver. Sonhar é criar oásis no caminho algo desértico e arenoso da vida. É ser livre. É beber numa fonte de água fresca depois de uma dura caminhada. É pelo sonho que o mundo pula e avança (tem razão o poeta), embora seja verdade que, como diz o Bernardo Soares, no “Livro do Desassossego”, “o que há de mais reles nos sonhos é que todos os têm”. Mas estes, os que fazem avançar o mundo, não se têm a dormir – são sonhos a olhos abertos e que vêem para além do circunstante, vão ao fundo da existência, antecipam e constroem futuro. Não, não são sonhos banais ao alcance de um qualquer adormecido da vida.
II.
Sonho redentor do poeta: aquele que comanda a vida e com o qual se confunde. Sim, se o sonho é o oásis onde se redime e onde encontra a feiticeira, a sua feiticeira, as palavras são o veículo que o conduz na travessia do deserto arenoso até ao oásis poético. Na travessia há sempre essa melancolia que não o larga, mesmo que o veículo poético o leve a essas regiões sobrenaturais onde se conforta e se aninha. A melancolia anda sempre colada às palavras, não desaparece quando elas são ditas. A poesia é como o divã do psicanalista e, como nele, ela precisa de interpretação, de descodificação. Ele, o paciente poético, acredita no sonho, sem ser sonâmbulo (embora às vezes pareça), e, graças ao poder palavra, até o identifica com a vida ao sonhar de olhos abertos, mesmo quando os fecha para que a alma veja melhor. É com a alma que o poeta vê. Então, chove-lhe na alta fantasia e molha-se, mas, em tempo de seca existencial e de areia, a chuva faz germinar a sensibilidade e nascer o canto. “La vida es sueño”.
III.
A poesia é um “pulsar de alma”. Pulsação anímica, o batimento poético, quando as palavras correm nas veias. E quando o sonho teima em não acontecer, o poeta inventa-o. Sonha com palavras, cantando, levado pela inspiração. Levado pela musa. Se te sonhar, canto-te. E se o sonho teimar em não despontar, nasce o poema onírico. Sonho induzido. O que não pode acontecer ao poeta é ficar num doloroso vazio. Onde o silêncio é só silêncio. Mudo. Não, ele existe para converter o vazio em pleno, a ausência em presença, a perda em descoberta, o silêncio em melodia, o peso em leveza. É esta a beleza da poesia.
IV.
Todos os sonhos têm um fim… até ao próximo. Até os sonhos inventados como poemas. Privilégio dos poetas que fazem dos poemas sonhos e dos sonhos poemas. E chove-lhes na fantasia, como dizia o Dante Alighieri. Chove-lhes na alma, germinam poemas e renova-se a vida. A primavera poética, depois do inverno da alma. Os poetas olham de frente a dor, a perda, a melancolia e metabolizam, digerem os sentimentos, transformando-os em linfa. Em arte. É assim que nasce a poesia. Um estremecimento, a dor como propulsão e, depois, a levitação num território habitado por musas e fantasmas. Os poetas levitam nele, já sem obstáculos, embora sujeitos a poços de ar e a repentinas perdas de altitude. Lá no alto procedem à transfiguração dos sentimentos em palavras com sonoridade e toada melódicas. As palavras têm asas. Mas só quando o processo criativo atinge a velocidade de cruzeiro a levitação se pode aproximar do sublime, esse destino inatingível. É então que o poeta se sente como se atingisse o Nirvana. Mas sem deixar de sentir a dor, só que a sente e a vive transfigurada e poeticamente metabolizada. Por exemplo, como feliz melancolia. Em toda esta viagem há sempre um risco: os versos serem bebidos pelos fantasmas durante o percurso (Kafka). É que os fantasmas alimentam-se deles para sobreviverem. Riscos, como tudo na vida. Mas desconfio que os poetas enviam mensagens ou mesmo beijos com o vento para que os fantasmas os bebam… Não sei. Mas que exista uma enorme cumplicidade entre os fantasmas e os poetas disso não tenho dúvidas. Os fantasmas animam a relação difícil e delicada entre o poeta e a musa. A musa visita-o e os fantasmas aparecem… Eliot dixit. E eu confirmo.
V.
No “fio da navalha” é onde está permanentemente o poeta. E a navalha faz sangrar. Está-lhe na natureza. Melhor: está-lhe no sangue. Se não fizer sangrar, nega-se como navalha. Mas aqui é um sangrar fininho, lento, que só a poesia pode estancar… por momentos. É este estado que mantém o poeta ligado à vida (através da dor e do sangue). Como se fosse o prolongamento (na memória viva) de um “estado de facto” realmente vivido. O poeta sangra-se e obriga o organismo a reagir. Os poetas não têm pudor do que viveram, exploram-no, com fins poéticos. Exploram, sim, para sobreviverem. Isto dizia o Nietzsche. E bem. É legítimo? Sim, é. É imoral? Não propriamente, porque é desejo de redenção ou mesmo de sobrevivência e, assim, acabam por se expor, arriscam e conservam a dor sob forma de arte. E reavivam-na. E dói. Dói mesmo. Se não doer não sai poema que valha. Nem as palavras se ajeitam. As palavras precisam de dor para se sentirem vivas. E sangram sempre um pouco, mas assim o corpo e a alma regeneram-se. É coisa homeostática.
VI.
No altar poético às vezes está uma magnólia branca para ser celebrada, apesar de no palco do Jardim Encantado haver outra, a magnólia cor-de-rosa/lilás. A branca sobrevive como pintura e poesia, depois de as pétalas brancas se terem despedido… com Março. Canto a uma magnólia, poderia ser o título de um poema que a cante. O “Reencontro” é sempre em Março, mês fatal, tal o fascínio desta magnólia, com aqueles farrapos brancos sobre a nudez dos seus ramos. Só depois chegam as folhas. Vão-se os farrapos brancos e chega a folhagem verde. Mistérios de Março. A neve que dá lugar ao verde da primavera? Acho mesmo que sim – por que razão haveriam estes farrapos brancos (como os da neve) de aparecer ali, em meados de Março, para logo desaparecerem e darem lugar ao verde da sua folhagem? Viagem do tempo que se anuncia numa magnólia. Toda uma filosofia, a narrativa desta magnólia. Tinha mesmo de a cantar com versos e com pintura. Há uma musa que fala através dela? Não ouso perguntar ao poeta. Nem ele responderia. Melhor, diria: está lá tudo, no poema, e nem eu sei falar de outro modo. Sou mudo em prosa e isso também me provoca uma prosaica surdez. Perguntas, mas eu não ouço. É a alma que ouve, mas ela é surda para certas perguntas.
VII.
O poeta voa sempre lá para o alto da montanha – a levitação é o seu destino -, levado por uma magnólia voadora. Descola sempre da sua pista preferida, que é o Jardim Encantado. E aí regressa sempre. Lá no alto, respira fundo e vê o mundo com maior nitidez, apesar de nunca conseguir vislumbrar a musa, que se mantém oculta e silenciosa. O ar é mais rarefeito e a distância é grande. Por isso, a sua fala é sempre interior. Só comunica com a alma. “Telegrafia sem fios”, lá em cima, dir-se-ia antigamente. Por artes mágicas (vai lá ao fundo da memória) ele recria a musa, interpela-a e torna-a mais bela do que ela é ou era. “Muse, maintenant tu es plus belle que toi-même”. É assim que a vê, com a alma e com grande nitidez. O reino do intangível. A aura. Recriei de ti o que mais ninguém conseguirá ver, porque só os olhos da alma o podem enxergar. Desnudei-te com um olhar de alma para te eternizar. É, pois, uma apropriação não abusiva, legítima, livre, bela. Mas é uma apropriação. A única forma de posse possível, e até legítima, como dizem o Pessoa e a Yourcenar. A que atinge a alma, a recria e a devolve mais bela e mais rica. E universal. Para fruição dos amantes de poesia. De todos. O poeta entrega a musa à eternidade. E, assim, não a perde.
VIII.
A poesia é metabolização e viagem para a Primavera e seus aromas, suas cores, seu céu azul. Isto só acontece porque houve inverno, frio, chuva, nevoeiro e neve. É um veículo que nos transporta mais alto, para além das nuvens, mas sem sairmos donde estamos, sem fuga ou salvação. É mover-se sem sair do lugar onde nos encontramos. É uma espécie de libertação sem deixar de estar prisioneiro. É pintar o real com cores mais intensas do que as que ele tem. É libertá-lo da sua inevitável transitoriedade. Aquele pôr-do-sol termina no fim do dia, mas as palavras que o descreveram continuam e mantêm-no presente. Até é possível oferecer um pôr-do-sol. O poeta é useiro e vezeiro nisso. E o pintor também.
IX.
Os poetas habitam a Casa da Inquietude. E os italianos traduzem desassossego por “inquietudine”. E bem. Também lá vive o gémeo pintor. De forma diferente, mas vive. E ambos pintam a mesma inquietação: um, com palavras, o outro, com riscos e cores. Normalmente quem dá o primeiro passo é o poeta, o que tem a sensibilidade sempre à flor da pele porque a vida o castigou. Experimentou esse estremecimento criativo. Abalo telúrico. Nasceu assim como poeta. Sob o signo do estremecimento e da dor. O que, em parte, não foi o caso do pintor. Se com as palavras o poeta levita sobre o vale da vida, o pintor, com riscos e cores, constrói-lhe pontes de arcos-íris, criando um ambiente de luz e cor que tempera as palavras com que o poeta levita, se “confessa”, se liberta, se redime. É um autêntico bailado. “Pas de deux”. No fim, creio que a sinestesia dá origem a uma feliz melancolia ou a uma alegre nostalgia. O poeta fica pronto para recomeçar. Mas é como Sísifo, a tarefa nunca acaba, porque a moinha permanece. Uma espécie de eterno retorno, já que vive irremediavelmente na Casa da Inquietude e de lá não pode sair, não pode mandar o passarinho embora da janela porque seja feliz. Porque não é. Se mandasse, seria eutanásia poética. Sem dor não há poesia. E a dor não passa e a poesia já é um modo de vida. Os poetas não se reformam. E a felicidade não consta dos anais da poesia. No Jardim Encantado haverá sempre passarinhos. Eles ajudam a suportar melhor a dor. São amigos dos poetas.
X.
“Corpo transformado”- pela luz e pela fantasia. É essa a beleza da poesia. Esculpir corpos e almas com palavras. Mas a beleza é ainda maior quando se projecta numa pintura, criando-se um duplo reflexo cintilante. Talvez o poeta, ao falar, num poema, de “catedral de palavras” (o poema que motivou esta reflexão chamava-se “Teu Corpo numa Catedral de Palavras”; a pintura chamava-se “Luz”), estivesse a pensar na Mesquita de Córdova, nesse magnífico colunado, nesses espaços vazios iluminados pela penumbra, quando ouviu o silêncio da musa, induzido por esse corpo atravessado por raios de luz (na pintura: um corpo nu, de mulher), e a cantou. O pintor lembrara-se de uma obra do Man Ray, de 1931, inspirando-se nela. O silêncio que se desprende dele, desse corpo, pode ser pleno e vazio, ao mesmo tempo. Silêncio-ausência e silêncio-linguagem. Como uma Catedral. Vazia fisicamente e plena espiritualmente. Uma dialéctica superior. Essa luz que incide sobre o corpo nu também pode ser feita de palavras que dão voz ao seu silêncio. É essa voz do silêncio que o poeta ouve e canta. Corpo em catedral de palavras. Poeta-Arquitecto que constrói uma catedral para esse corpo silencioso. Sim, é um hino à pulsão de vida, ao Eros. O pano de fundo é o espaço interior de uma catedral e o eco do silêncio que atinge a alma do poeta. O poema é uma resposta a este eco. O vazio que gera o pleno. É esse o destino da poesia, gerar o pleno através do vazio.
XI.
No vazio do silêncio se constroem os sonhos de um poeta. O vazio que, assim, se torna pleno. A ideia de catedral está para simbolizar isto mesmo. A Mesquita de Córdova, que nos deslumbra, física e mentalmente, é uma inspiração. Também nela, no seu interior, sentimos esta presença do vazio e do pleno, em simultâneo (Yourcernar). Uma espiritualidade intensa que se desprende do sofisticado colunado em penumbra. Este corpo é atravessado por raios de luz que também podem ser palavras, versos de um poema que lhe dão vida e o espiritualizam. Sim, é verdade. A pintura é o modo de dar o máximo de fisicidade e até de vericidade ou referencialidade ao poema. Creio ter conseguido o que sempre vou perseguindo: a sinestesia. Silêncio, palavras, corpo nu, catedral – o pleno e o vazio.
XII.
Esse raio de luz que dá origem a tantos outros gera uma penumbra difusa no interior da qual é possível dar vida e transfigurar essas sombras que nos visitam durante uma vida. A poesia nasce dessas sombras que assumem a forma de melancolia, uma espécie de tristeza sem concreto objecto e mais leve. Melhor: onde o referente já não tem a intensidade que antes possuía. Já só é penumbra, “sfumato”. Por força do tempo e da persistente catarse poética. Cristalização. Espiritualização quase indiferente à rugosidade do corpo real que fez estremecer o poeta. Isso acontece nas catedrais (a luz é filtrada pelos vitrais). Penumbra.
XIII.
Por ali andam fantasmas à solta, não tivesse o poeta sido visitado pela musa. Fantasmas nas catedrais de palavras, onde o murmúrio é a linguagem. Um poema é sempre um murmúrio. Há fantasmas na catedral, pois há. Os poetas vão para lá suspirar de tão melancólica vida viverem. Protegem-se assim do ruído do mundo e inventam um tempo que é só seu. E criam cânticos com ecos de catedral. A poesia propaga-se como eco. Os poetas vivem em catedrais porque nelas tudo se conjuga para a perfeita levitação, o som, a luz filtrada, a penumbra, o vazio, o silêncio, a grandiosidade das colunas e das abóbadas… o pleno. Poética religiosidade onde a invocação é à musa. Musa e fantasmas são por isso os habitantes da poética catedral. E ali está o poeta a cantar o seu trágico destino como oficiante do ritual em que se transformou a sua vida. É lá que ele constrói as suas pontes entre o desejo e o impossível, sobre um imenso espaço vazio. Felizmente que há arcos-íris sobre o vale da vida por onde o poeta pode caminhar…
XIV.
Maravilhas da rede, diz o poeta a um Amigo que o interpelou a propósito de um poema: tu, aí, no meio do vasto oceano a receberes esta poética mensagem, este sonho poeticamente induzido, e a devolveres o teu agrado pelo sonho e pela pintura. As tuas palavras trazem, como gotículas invisíveis, a frescura oceânica que refresca o poema e acalma os calores que a musa sempre provoca no poeta . “Flâneur” oceânico, condição mais bela do que a humana errância nesse mar ondulante da multidão que vagueia sob o olhar distraído do “flâneur” citadino (diria o Baudelaire). Sinto aqui essa frescura do areal desse mar onde sempre repouso o meu inquieto olhar. Mas não ouso atravessá-lo, tal como a poesia (não) atravessa a vida.
XV.
“A poesia arrasa as fronteiras do real” – gosto desta formulação proposta por um Amigo. Mas não creio que seja convertível, porque ela precisa da ausência que provoca dor, vazio. E é resposta a este vazio. E tem poder sedutor? Tem. Mas só perante almas sensíveis e num plano superior ao da fria rotina do dia-a-dia. Ela exige uma saída da rotina que invade e ocupa a alma. “Ausgang”, diriam o Kant ou o Foucault (“O que são as Luzes?”). Porque de certo modo a rotina é um estado de menoridade e de preconceito. Sublima, sim. E é por isso que ela pode arrasar as fronteiras do real. Mas não sai de si. Não é convertível. Arrasa as fronteiras porque cria uma ponte sobre o vazio. Mas não sai de si, porque não pode, sob pena de se anular por efeito de desilusão e da contingência do real. Sim, o poema é o voo do desejo impossível no horizonte infinito. Mas se me perguntarem se esse desejo existe, respondo que sim, que existe ou existiu. E continua a existir, mas transfigurado, poeticamente transfigurado. Não me canso de repetir a Yourcenar/Michelangelo: “Gherardo, maintenant tu es plus beau que toi-même”. O que ficou foi o mais belo dele, de Gherardo, ainda por cima tocado pelas divinas mãos de Michelangelo. Tocado pelo sublime. Também a musa, tocada pelas mãos do poeta, agora é mais bela do que ela própria. Só que não sabe.

