AS EUROPEIAS 2024
E suas consequências
João de Almeida Santos
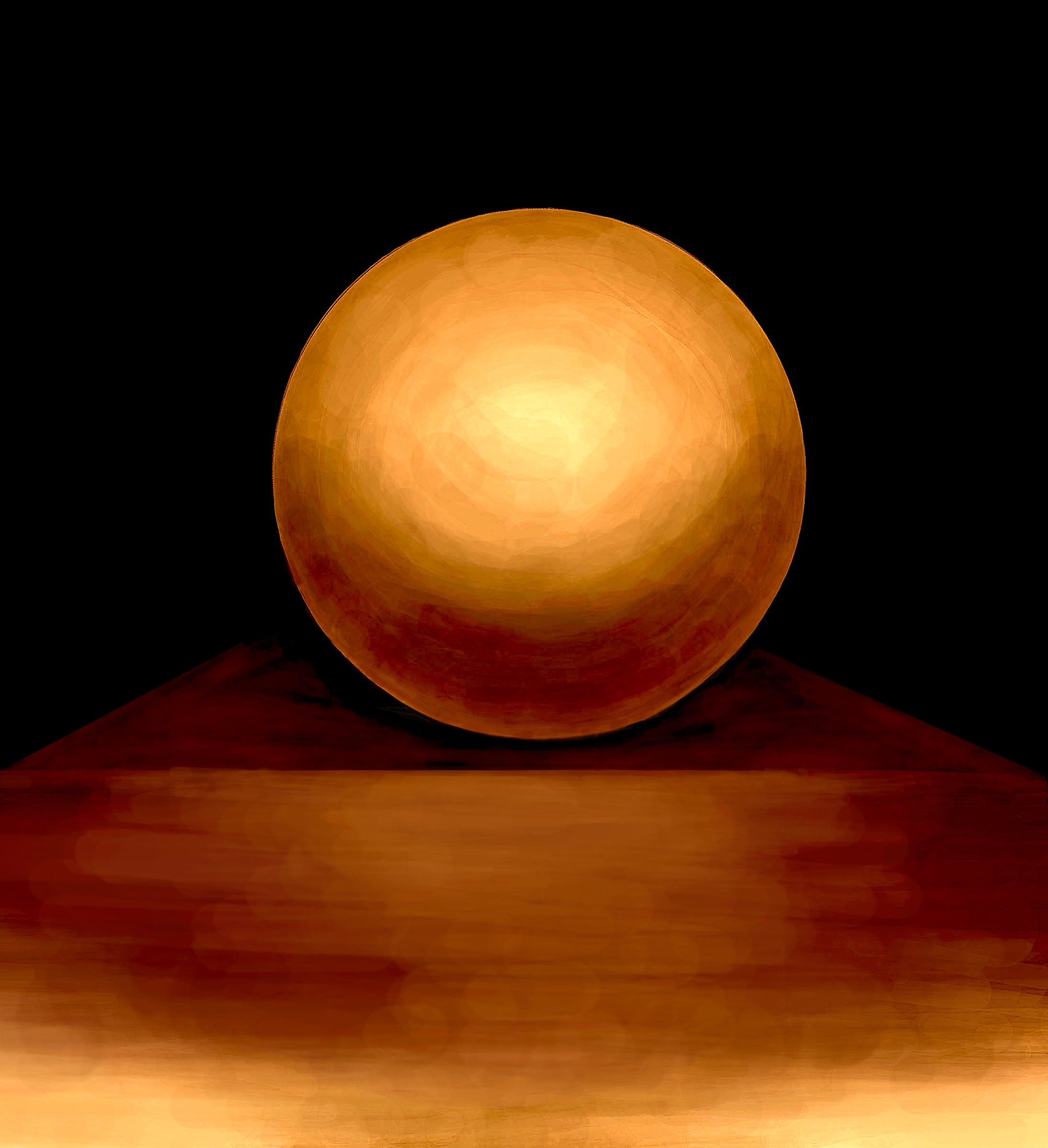
“S/Título”. JAS. 06-2024
SE ANTES DAS ELEIÇÕES é sempre conveniente formular a pergunta “Para que serve o meu voto?”, depois do voto ainda o é mais. Votei e, agora, o que irão fazer do meu voto os representantes e os seus proponentes? Uma primeira resposta é óbvia: o voto serve para eleger representantes para a instituição em causa no processo eleitoral. Neste caso, para o Parlamento Europeu. Sim, mas a questão não se esgota nisto. O voto serve também para legitimar (ou para pôr em crise de legitimidade) as forças políticas proponentes, os partidos, ou seja, tem efeitos decisivos a montante. O voto tem, pois, duas funções essenciais: a da designação dos representantes e a da legitimação dos mandatos e das forças políticas proponentes que, de acordo com a Constituição, se mantêm decisivas no processo político. O mandato é não imperativo, sim, mas ele tem uma correspondente a montante, naquelas instâncias que detêm o monopólio da propositura, ou seja, nos partidos políticos. Este segundo aspecto é mais relevante no caso das eleições europeias por uma razão essencial: não tendo os 21 mandatos atribuídos, numa câmara com 720 mandatos, a importância que têm quando se trata de um parlamento nacional, a expressividade do voto recai também com muita intensidade sobre as forças políticas proponentes, conferindo-lhes ou retirando-lhes legitimidade e densidade política para efeitos de participação no processo político nacional. Não creio que seja muito difícil de perceber isto. A legitimidade é mais ampla do que a que fica inscrita em cada mandato, porque é ela que confere consistência e credibilidade às forças políticas e à sua expressão institucional para prosseguirem numa determinada direcção política. Sendo certo que os mandatos são autónomos e universais, a legitimidade decorrente da atribuição do número de mandatos retroage sobre as forças políticas proponentes na exacta medida em que a constituição prevê uma relevante função dos partidos políticos no sistema democrático, mas também por serem eles que detêm o monopólio de propositura e por a escolha se efectuar (no boletim de voto) sobre a sigla partidária e não sobre os concretos candidatos. O voto tem, pois, estes efeitos: a designação dos representantes, a gestação de um governo, com base no princípio da maioria, e a legitimação dos mandatos e das forças políticas proponentes.
1.
Assim sendo, tendo a AD perdido estas eleições quando quase 4 milhões de eleitores se pronunciaram, fazendo a sua escolha precisamente numa sigla (não num nome), é claro que estas eleições têm um impacto político interno e directo sobre uma maioria e um governo que já exibiam uma legitimidade eleitoral extremamente frágil (assente em menos de um ponto percentual, se comparada somente com a do PS) e que agora ainda fica mais diminuída. Subtraídos os votos do CDS/PP e do PPM, o PSD (sobre o qual recai a responsabilidade do governo) fica a quase 300 mil votos do PS nestas eleições (cálculo baseado nos resultados do CDS e do PPM nas eleições europeias de 2019), o que representa cerca do 7,5% dos votantes nestas eleições. Não é coisa de somenos, do ponto de vista da legitimidade. A AD perdeu e o PSD, comparado com o PS, perdeu muito mais, não se vislumbrando, pelo que já se viu, grandes melhorias na sua acção política.
2.
Para que serve, pois, o voto? Serve para clarificar a situação política global de um país quando se trate de milhões de cidadãos a manifestarem a sua confiança numa determinada marca ou sigla política, ou seja, numa determinada proposta política. Por isso, a legitimidade do actual governo, depois desta clarificação, ainda ficou mais frágil na medida em que não tem a preferência da maioria dos eleitores intervenientes nestas eleições (e o mesmo já se verificara em relação ao PSD nas eleições legislativas). Digamo-lo de forma mais clara: este é um governo do PSD e este partido, que já não era o partido mais votado, viu mais diminuída ainda a sua dimensão depois das eleições, e nos termos que acima referi. Não tendo, como é óbvio, estas eleições aplicação directa em matéria de governação, ficará para o momento decisivo da discussão do orçamento a pronúncia sobre a legitimidade (a que resulta do voto e a que resulta do exercício) e da densidade política desta maioria de governo, sendo certo que, não considerando a posição do CHEGA, do que se trata é, de facto, de uma minoria que pode ver o orçamento recusado pela maioria relativa de esquerda que existe no Parlamento. Macron, vistos os resultados das europeias, não hesitou e decidiu, de imediato, perguntar aos franceses o que querem em matéria de formação de um novo governo. Foi uma decisão sensata (perguntar ao povo soberano o que é que, afinal, quer) e não é seguro que o vencedor destas eleições, o Rassemblement National do senhor Jordan Bardella, confirme em eleições legislativas a vitória, tendo em conta o sistema eleitoral francês, maioritário em duas voltas. Poder-se-á, todavia, dizer que a hecatombe do SPD de Scholz (ficou em terceiro lugar, com 13,9% contra 30% da CDU/CSU e 15,9% do AfD) nestas eleições europeias não o levou à demissão, apesar de a soma da coligação semáforo que sustenta o seu governo ter ficado somente um ponto acima da CDU/CSU, ou seja, 31%, ou seja, tendo-se verificado uma fortíssima quebra na legitimidade da coligação. Sim, mas Scholz ainda dispõe de 416 deputados num Parlamento com 736 deputados, ou seja, ainda dispõe de uma robusta maioria absoluta no Bundestag. Gasta, sim, mas efectiva, o que não acontece entre nós – aqui temos uma dupla minoria, em relação ao número total de deputados e em relação aos deputados da esquerda.
3.
Por cá, de facto, isso não se verifica, tendo a esquerda a maioria, desde que o CHEGA não entre na equação, proibida que está pelo “não é não” de Luís Montenegro. A clarificação da situação fica assim dependente de uma posição favorável no orçamento ou mesmo de uma integração daquele partido na solução de governo, o que não é certo que aconteça. É claro que o fraco resultado obtido por este partido nestas eleições pode levar André Ventura a temer uma ida às urnas por risco de perder a força de que dispõe actualmente no Parlamento. Sim, é verdade, mas parece ser útil lembrar que também a AD e o PS perderam, relativamente às eleições de Março, 585.704 votos (AD) e 545.655 (PS), o que, sendo, em ambos os casos, menos do que aquilo que o CHEGA perdeu, ou seja, 783.154 votos, não deixam também de ser perdas significativas. Pelo menos, perdas que relativizam a perda do CHEGA. Ou seja, se a comparação com as legislativas é válida para o CHEGA, manda a coerência que também seja válida para os dois maiores partidos.
4.
O que pretendo dizer com tudo isto é que a legitimidade política da minoria que suporta o governo se já era pífia, depois destas eleições mais fragilizada ainda fica, sendo, pois, necessário evidenciar ou sublinhar esta situação. Eu não acho que o PS deva estar constantemente a afirmar-se como o partido da estabilidade, o partido da responsabilidade ou então ter medo de ir para novas eleições se a actual situação de crise de legitimidade do governo se mantiver. A verdade é que a direita tem a possibilidade de construir uma maioria estável no parlamento (esta solução já existe em vários países da União Europeia, por exemplo, na Suécia e na Finlândia, para não falar da Hungria, da Holanda ou da Itália), sobretudo agora, depois destas eleições, podendo hoje o CHEGA estar ainda mais disponível para a integrar, pese o famoso “não é não” de Luís Montenegro, cujas performances eleitorais não parece estarem a ser muito consistentes e auspiciosas. Ou seja, o sistema democrático ganharia com uma clarificação da questão da legitimidade: ou através de eleições ou através da conjunção das forças da direita moderada e radical como suporte do governo.
5.
Visto isto, não compreendo a atitude do Secretário-Geral do PS, precisamente na noite em que este partido ganhou as eleições, de se apressar a dizer que não será o PS a pôr em causa a estabilidade política, querendo, talvez, com isso significar que, afinal, já está disponível para aprovar o orçamento, cedendo a chefia da oposição ao CHEGA, o que contraria a posição antes afirmada pelo próprio Pedro Nuno Santos. De resto, bem vistas as coisas, será mais provável que nestas circunstâncias o CHEGA não esteja interessado em provocar eleições e, por isso, esteja mais disponível para aprovar o orçamento do que para o chumbar, o que deixaria o PS na confortável posição de exprimir, com o voto no Parlamento, a sua diferença programática relativamente ao PSD. A verdade é que este governo, sem consistente legitimidade, tendo o orçamento aprovado terá ipso facto uma vida prolongada pelo menos até 2026, a não ser que, entretanto, uma moção de censura seja aprovada pelo Parlamento ou uma moção de confiança do governo seja recusada. O que me parece é, pois, que o momento decisivo para a clarificação política seja o da apresentação do orçamento. E muito mais na circunstância de, no momento em que for apresentado o orçamento para 2026, o Parlamento já não poder ser dissolvido pelo PR.
6.
O que está aqui em causa é a questão da legitimidade. Bem sei que esta questão da legitimidade está hoje muito desvalorizada (as eleições servem sobretudo para designar os representantes), tendo dado lugar, sim, à chamada legitimidade de exercício ou, como eu prefiro, à legitimidade flutuante. Mas esta última acaba de ser posta à prova nesta mega-sondagem das eleições europeias e com resultado negativo. Ora, combinando ambas as legitimidades (a que resulta do voto e a que resulta do exercício governativo) o que parece ser mais evidente é uma efectiva crise de legitimidade deste governo. E, como diz o povo, para grandes males, grandes remédios. Que seja o povo a dizer claramente o que pretende ou então que a direita se assuma como bloco na sua compósita configuração. JAS@06-2024.

