O ESPAÇO PÚBLICO E A LEGITIMIDADE DO PODER
O Espaço Digital
Por João de Almeida Santos
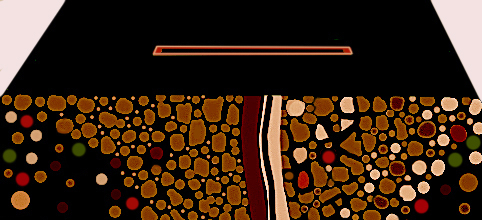
“S/Título”. JAS. 09-2024
NUMA CURTA ENTREVISTA ao novo caderno do “Expresso”, “Ideias” (13.09.2024), a autora do famoso livro sobre o chamado capitalismo da vigilância, Shoshana Zuboff, diz, textualmente, que a) “nossa praça pública já não o é, é uma praça privada, é propriedade”; e que b) “a privacidade, como existia no ano 2000, já não existe, é uma espécie de palavra zombie”. Espaço público e privacidade, dois conceitos decisivos para identificar a civilização ocidental e da democracia representativa que parece estarem hoje em causa. Estranho, não é? Avança o privado e acaba a privacidade? Mais parece um oxímoro. Mas não é. Vejamos.
1.
A autora, filósofa de Harvard, faz estas afirmações no quadro da tese central do seu livro: a da desmontagem do modo de produção, existente à escala planetária, do capitalismo da vigilância, promovido pelas grandes plataformas digitais, ou seja, a transformação dos utilizadores em matéria-prima para a determinação preditiva de comportamentos futuros e ulterior venda aos grandes clientes, entre os quais podem estar precisamente as grandes organizações políticas (A Era do Capitalismo da Vigilância, Lisboa, Relógio d’Água, 2020). Utilizadores que, de clientes, acabaram por se tornar matéria-prima para modelar e vender como produtos preditivos de comportamento futuro aos novos clientes das plataformas. Uma viragem de cento e oitenta graus e uma profunda alteração do seu primeiro modelo, o que tinha os utilizadores como clientes primários.
2.
Ela não se refere, nesta entrevista, ao espaço público mediático, mas essencialmente ao espaço digital, ao das grandes plataformas digitais, sendo, todavia, evidente que mesmo o espaço público mediático se pode considerar, em certa medida, privado, pois o acesso a ele é gerido pelos famosos gatekeepers, os seus guardiões, e carece de autorização quer para nele intervir quer para a ele aceder (mediante pagamento ou contrapartidas publicitárias ou até também orçamentais, no caso das televisões em canal aberto, quando públicas). Sobretudo depois da privatização generalizada dos meios de comunicação. Sim, mas aqui, com o espaço digital, essa dimensão privada é alargada, aprofundada e reconfigurada pelas razões que passo a expor.
3.
Se o primeiro era um espaço de mass communication aberto, embora sob as condições acima referidas, onde o emissor estava claramente identificado e regulado por lei e por códigos éticos (as clássicas plataformas: imprensa, rádio, televisão) e onde os conteúdos eram produzidos sob o seu directo controlo e difundidos uniformemente, o segundo, ou seja, o espaço digital, não obedece a estas características. Em primeiro lugar, trata-se somente de infraestruturas abertas de acesso livre quer para a produção de conteúdos quer para obtenção de informação; em segundo lugar, já não se trata de mass communication, mas sim de mass self-communication (Castells), comunicação individualizada de massas (o conceito de massas é aqui transformado em multiplicidade de indivíduos singularmente considerados e não massa homogénea, mesmo quando seja classificada por targets) num espaço aberto onde se regista uma participação (navegação) bidireccional activa e individualizada (o utilizador como livre produtor e livre receptor, o já famoso prosumer); em terceiro lugar, e no seu mais recente desenvolvimento, a relação entre as plataformas digitais e os utilizadores está a ser, como vimos, sujeita a um processo de pré-determinação dos seus perfis para futura devolução individual de conteúdos devidamente formatados e tipificados, tendo como objectivo a sedução, por identificação com as próprias idiossincrasias, dos utilizadores. Uma função de natureza especular. Neste processo, verifica-se como que uma relação contratual tácita entre as plataformas e os utilizadores (a plataformas oferecem o serviço e os fruidores autorização para uso dos seus dados pessoais), numa espécie de constituency que vê como protagonistas as plataformas e os utilizadores individuais, num processo paralelo ou lateral ao espaço público político normativamente regulado pelo Estado. Uma terceira constituency, portanto: um imenso espaço privado onde acontece o processo informal, e pilotado, de conquista do consenso, com base numa lógica de contrato privado. É esta a diferença fundamental e é neste sentido que se pode dizer que estamos perante um gigantesco espaço privado subliminar que funciona como um ilimitado território de conquista do consenso para, neste caso, fins directamente políticos. Ou seja, as plataformas digitais são sucedâneos muito mais sofisticados e radicais das clássicas plataformas de comunicação: mass self-communication. Um aprofundamento da lógica que já se insinuava no velho espaço público, sobretudo a partir do momento em que, como disse, se deu a privatização generalizada dos meios de comunicação. A diferença abissal é a que vai do marketing clássico (concebido para os media e os respectivos consumidores) ao marketing 4.0, concebido para o universo digital (Kotler).
4.
Daqui, mas não só, decorre uma intervenção fortemente intrusiva na privacidade, pois para determinar preditivamente os comportamentos é necessário traçar os perfis dos utilizadores, o que é feito pelas plataformas e pelos algoritmos: toda a sua actividade na rede é estudada, seleccionada e desenhada para efeitos de previsão dos seus comportamentos futuros. Se a isso juntarmos a informação registada por todos os dispositivos usados na rede (e autorizada explicitamente pelos utilizadores) e geridos pelas plataformas (por exemplo, pela Google), é, sim, possível dizer que a ideia de privacidade já é pura ficção. Ou seja, que a “soberania digital” do utilizador desapareceu.
5.
Shoshana Zuboff apela a uma intervenção dos poderes públicos para repor o espaço público no seu devido lugar, mas, a verificar-se o que já acontece com as plataformas tradicionais – o crescente uso e abuso de um tabloidismo desbragado e o uso instrumental da informação -, há muito pouco a esperar, ainda que já tenha havido iniciativas positivas como, por exemplo, o código assinado entre a Comissão Europeia e as maiores plataformas, Facebook, Google, Twitter e Youtube, por ocasião das europeias em 2019, com resultados muito significativos e interessantes (tratou-se de apagar a desinformação circulante). Mas, na verdade, será deveras preocupante se os senhores das plataformas, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ou Pavel Durov, por exemplo, seguirem o exemplo do senhor Elon Musk e desatarem a promover, ajudados pelos famosos “engenheiros do caos” (Da Empoli) ou spin doctors 4.0, as campanhas dos populistas de direita ou mesmo dos ditadores, intervindo maciçamente, e de forma subliminar, nos processos eleitorais, quer de forma activa e directa quer de forma indirecta, por exemplo, orientando arbitrariamente o processo de difusão e reprodução das mensagens nas redes sociais e condicionando fortemente os cidadãos não só nos processos eleitorais, mas também ao longo do tempo não eleitoral (permanent campaigning). Quando Shoshana Zuboff fala de privatização da praça pública é a este território digital que se está a referir. De resto, este território também já absorveu as tradicionais plataformas, pelo que é possível identificar quase todo o espaço público com o espaço digital e constatar que, sim, já se trata mais de espaço privado do que de espaço público, quer no plano da gestão quer no plano do acesso. É de um espaço intermédio que estou a falar, o que se localiza entre a cidadania e o poder político. Um espaço que deveria conter as duas características de espaço público e de espaço privado, uma conjunção indissociável entre o público e o privado naqueles processos que são funcionais à construção do autogoverno dos povos. Ora se este espaço for subtraído à esfera pública e ficar totalmente sob a alçada dos poderes privados e da correspondente lógica contratual (alheia ao dispositivo político previsto constitucionalmente, sendo precisamente por isso que hoje já se fala da necessidade de um constitucionalismo digital) a política democrática sofrerá consequentemente danos irreversíveis (com o Estado a ser transformado em pura longa manus do poder privado). É claro que também a faixa privada deste vasto espaço intermédio não pode ser anulada sob pena de a política sofrer danos opostos, mas igualmente danosos: a subordinação integral da sociedade civil ao Estado. Por exemplo, nas ditaduras. A verdade é que este espaço intermédio se estende entre o território privado e o território público na medida em que é nele que se estabelece a ligação interactiva entre um e outro, entre o privado e o público, entre o indivÍduo singular e o Estado. Os partidos políticos são claros exemplos desta dupla natureza (e é considerado desvio quando eles se entregam nos braços do Estado, apagando a sua natureza civil). E é precisamente neste território que acontece a luta pelo consenso, com regras específicas e de forma transparente, procedimentos rigorosos, definidos pelo Estado e aceites pelos competidores, numa dialéctica que deverá decorrer à luz do dia e que deve garantir condições equitativas para todos. Um processo que não pode, pois, ser integralmente capturado pelas plataformas e gerido de acordo com a lógica contratual puramente privada.
6.
Nada disto seria assim se as plataformas digitais tivessem mantido a sua original vocação como tecnologias de libertação e não estivessem a enveredar pela construção de um mundo paralelo cada vez mais pilotado, não só pelo que Zuboff refere no livro “O Capitalismo da Vigilância”, mas agora também pela intervenção despudorada nos processos políticos nacionais (como já o tinham sido no Brexit e na eleição de Trump, por Steve Bannon e pela Cambridge Analytica e com dados fornecidos pelo Facebook), como está a acontecer com o senhor Elon Musk e a promoção descarada de Donald Trump (mas, diz ele, em nome da liberdade de expressão), como parece ter já também acontecido, mas agora de forma mais disfarçada, com Zuckerberg (ao referir, dirigindo-se aos republicanos, em plena campanha para as presidenciais, que a administração Biden/Harris o pressionou insistentemente em relação ao COVID 19), aparentemente a favor de Trump, ou como pode também acontecer com o senhor Pavel Durov, da Telegram (embora não se conheça directas razões de natureza política, mas somente de natureza criminal, para a sua detenção em França).
7.
No meu livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024) discorro abundantemente sobre aquilo que designo por uma terceira constituency, a das plataformas digitais, depois da do cidadão contribuinte e da das plataformas financeiras internacionais (referidas no excelente livro de Wolfgang Streeck, Tempo Comprado, Coimbra, Actual, 2013) que financiam as dívidas públicas e impõem autênticos programas de governo (veja-se o caso de Portugal, da Grécia e da Irlanda). Se for verdade que já estamos perante uma privatização ou apropriação privada do espaço público pelas plataformas digitais, mas também, afinal, pelas plataformas tradicionais de comunicação, embora em menor grau (o gatekeeping e o pagamento para o acesso), o que acontece é que o conhecimento focado dos perfis dos eleitores, conseguido pelo estudo das suas preferências no uso das plataformas, numa injunção inaceitável sobre as suas vidas na rede, permite um forte condicionamento em larga escala do seu próprio comportamento eleitoral, designadamente através da determinação preditiva dos comportamentos eleitorais futuros e daquele que hoje já é designado como marketing 4.0 (que se segue ao estudo dos comportamentos na rede e à determinação dos perfis, para posterior devolução em pacotes informativos que contêm as suas preferências) e que até integra processos de participação voluntária dos utilizadores na relação comunicacional. Por aqui podem correr os processos eleitorais e a construção da opinião pública, deslocando a formação da opinião política para este espaço privado e deixando na superfície apenas o processo formal de decisão eleitoral, como mera confirmação do que subliminarmente e substancialmente foi entretanto conseguido. Assim, é esta constituency, a terceira, que importa evidenciar aqui. Uma constituency sem território, sem fronteiras, sem promotores visíveis e reconhecidos formalmente, sem accountability, sem procedimentos pública e institucionalmente vinculantes, mas com impacto directo e profundo nos processos eleitorais e de formação do consenso. Espaço público totalmente privatizado e a “privacidade” usada como mera matéria-prima para a construção de estereótipos focados (individualizados) com vista à conquista e à manutenção do poder.
8.
Radicalizando um pouco, o que se verificará é que a democracia representativa se encontrará, assim, esvaziada de conteúdo, de sentido e, pior, de transparência na imputação das responsabilidades aos detentores formais do poder e da representação, decorrendo o essencial da formação do consenso numa vastíssima e influente zona de sombra. Tudo passaria ao lado dos procedimentos formais da democracia representativa, que se limitariam a ser um mero simulacro de processo democrático.
9.
Na verdade, eu não me incluo na fileira dos novos apocalípticos e tenho vindo, frequentemente, a sublinhar os aspectos positivos das plataformas digitais, sobretudo na sua primeira fase de implantação. Mas tenho bem consciência dos perigos que espreitam e que podem desvirtuar o essencial do processo democrático, transformando-o em pura ficção, em puro simulacro. É aqui que deve entrar o poder político legítimo para reconduzir as plataformas à sua essencial função original, desenvolvendo um constitucionalismo digital e negociando, neste quadro, com aquelas a sua própria esfera de acção e de intervenção, em particular, na política, não usando prevalecentemente os instrumentos coercivos ou punitivos (excesso de leis, “gold plating” e 270 “regulators active in digital networks across all Member States”) de que os Estados ou a União Europeia dispõem, e até atendendo a que não é possível regredir para uma fase pré-digital. Por exemplo, no recentíssimo Relatório Draghi, acima citado, fala-se de iniciativas da União para garantir “sovereign cloud” – não só através da promoção de uma “cloud industry” própria, mas também através de uma cooperação com “fornecedores de cloud UE e extra-UE” (“The future of european competitiveness”, CE/EU, 09.2024, parte A, p. 30). Um só dado a este respeito, citado no Relatório: o maior operador cloud europeu só dispõe de 2% de quota de mercado na EU. A União Europeia não possui uma plataforma digital (como, de resto, nem sequer possui uma agência de rating), mas este seria um importante instrumento que ajudaria a promover uma melhor regulação do universo digital, interna e externa (o Relatório refere a necessidade de criar um “digital transatlantic marketplace”). De resto, o Relatório Draghi insiste muito na promoção do investimento no digital e em IA e na criação de, neste sector, uma economia de escala europeia (pondo fim à excessiva fragmentação existente), maior financiamento e de natureza comunitária, redução da carga administrativa e normativa, maior investimento público, para melhor enfrentar o futuro, desde a protecção da soberania digital europeia à sua competitividade no mercado global.
10.
Parecendo ser complexa esta situação, ela é, afinal, muito simples. O cidadão, claro, decide na sua esfera privada quem o deve governar. É a esfera da sociedade civil. Sem dúvida. Mas esta decisão deve acontecer à luz do dia, num sistema devidamente regulado pelo Estado, e não num imenso subterrâneo de manipulação científica das consciências, sem qualquer accountability ou imputabilidade das mensagens enviadas para orientação directa ou indirecta dos eleitores. O espaço público político tem, de facto, duas dimensões, uma pública e outra privada. Por exemplo, os partidos políticos, sendo organizações privadas, são constitucionalmente reconhecidos de interesse público, sendo-lhes inclusivamente reconhecida, entre outras importantes prerrogativas, a exclusividade de propositura nas candidaturas à representação política nacional. É disto que se trata. Não aceitando o radicalismo da análise de Shoshana Zuboff, reconheço a pertinência da sua análise neste livro, tal como me acontecera em relação a Naomi Klein e à perspectiva desenvolvida no seu excelente livro No Logo, considerado a bíblia dos movimentos anti-globalização. Um livro talvez mais partilhável do que o de Shoshana Zuboff ou do que a filosofia implícita no célebre documentário da NETFLIX sobre as redes sociais, em que ela própria participou. Nem apocalípticos, mas também não integrados – entre uns e outros é possível desenvolver uma lógica crítica, mas de bom senso, realista e pragmática.
11.
Posto isto, julgo que seria altura de os partidos políticos democráticos de centro-esquerda ou de centro-direita se debruçarem sobre estas questões em vez de continuarem a fazer política como se nada, entretanto, tivesse acontecido, queixando-se, apenas, do perigo do populismo emergente, sem se interrogarem sobre o grau de responsabilidade que lhes cabe e sobre as razões do seu aparente falhanço. JAS@09-2024

