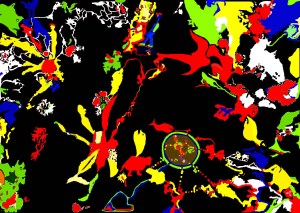NOVOS FRAGMENTOS (X)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos
O SONHO
A VIDA, o sol, a chuva, o sonho, o tempo que flui e nos arrasta consigo, a alegria, a tristeza, o amor, a perda, o desejo, o corpo, a fuga para lugares desertos… tudo, mas mesmo tudo, nos vai acontecendo… e disso dá conta o poema “Sonho ou a Porta do Tempo”, em registo onírico. Os sonhos quase sempre se desenvolvem como uma miscelânea de elementos realistas e fantásticos, com lógica, mas irreais, umas vezes prosseguindo depois do sonho, outras apagando-se de imediato, tornando-se inacessíveis. A luz do dia tende a apagar o que sonhamos, deixando-o na penumbra. A realidade tende a esbater a utopia. Mas uma coisa é certa: há como que um desenvolvimento pulsional em código e simbólico no sonho do que foi acontecendo em vigília. Uma livre tradução em código onírico do que aconteceu ou podia ter acontecido, sempre dependendo das intensidades experimentadas na vida real. O sonho é vida e a vida também é sonho. E a poesia é como o sonho, mas com uma intervenção suplementar da razão, melhor, do espírito, tornando-se uma espécie de dialéctica viva entre a alma e o espírito, em linguagem mais ou menos cifrada. A memória é, aqui, magmática e o fundo é sempre pulsional. Depois, a melodia, a toada, o ritmo exprimem-no com maior vigor do que a semântica inscrita simplesmente nas palavras. Mas o registo semântico é muito importante na poesia. Se não for, estaremos simplesmente perante virtuosismo. Depois, a pintura, em registo sinestésico, pode ajudar a tornar mais sensitivo, mais sensorial, o poema. Mas o que acrescentei a este poema, relativamente a uma sua primeira versão, foi a melodia. Foi difícil, mas, em parte, julgo tê-lo conseguido, tornando-o mais sensitivo.
O tempo, aqui, equivale à fugacidade de um reencontro (impossível) porque logo desfeito por um vidro, frio, que se entrepõe, tornando impossível o contacto. Nos sonhos há sempre um vidro. E é a porta do tempo que, abrindo-se, faz com que os encontros oníricos aconteçam, mas também terminem e se desfaçam. Mas é mais importante a saída do que a entrada. Porque a saída representa sempre dor. Um dos personagens sai por ela, o sonho termina ali e o poema começa, como acção reparadora. Um sonho racionalmente controlado. Ma non troppo. A metáfora da vida, onde há sempre uma porta aberta… para entrar e para sair.
AS MUSAS E A NEVE
É verdade que, neste poema, aludo ao belíssimo poema de Augusto Gil. “Batem leve, levemente / Como quem chama por mim”. Não era, como aqui, a musa. Era a neve. Mas as musas são como a neve. Batem leve, levemente, à porta da nossa sensibilidade. Mas às vezes são como os grandes nevões, cobrem tudo de branco, imanência total e deixam-nos maravilhosamente perdidos e encantados no meio de uma brancura total. Um sonho. Uma luz que nos incendeia a sensibilidade. A beleza natural na sua forma mais pura. Mas, tal como a neve, a sua presença é sempre fugaz. Parece dissolver-se quando o sol do afecto já é forte demais. Elas, as musas, são leves e rápidas como a neve e como as fadas. E, como a neve, cada vez mais uma certa musa, talvez Erato, vai batendo menos à porta do poeta, provocando nele uma necessidade cada vez maior de ir lá às profundezas magmáticas da memória à procura dela. “Branca e leve, branca e fria / Há quanto tempo a não via! / E que saudades, Deus meu!”. Assim dirá o poeta da sua musa inspiradora. Não a vê, porque ausente. Por isso, fá-la bater à porta da memória para entrar, assim, em diálogo com ela. Mas o tempo é implacável e ela acaba por se escapulir pela porta do tempo (em direcção ao passado, onde permanecerá quieta e muda). Até novo sonho.
PENUMBRA
A memória é o lugar do tempo subjectivo e a viagem poética, que é, ao mesmo tempo, onírica, atravessa todas as “intensities” que as palavras registam como emoções desde que abriu a porta do tempo até que a musa partiu para lugar incerto, sem deixar rasto. Fica apenas o registo do poeta sobre tão fugaz visita. Ele foi visitado pela musa, viu-a com os olhos da alma, sem lhe poder tocar, porque tudo acontecia no território do intangível. Momentos intensos, mas simulacrais, representados por aquele vidro fino, um pouco baço e frio, que representava a brecha temporal. A porta do tempo é um espelho que reflecte a fantasia onírica do poeta e, naturalmente, é por ela que a musa entra e sai, silenciosa e rápida, para parte incerta. Lugar que ele desconhece. Separar-se do poema, o poeta? Impossível, porque ele o escreveu com a alma em frente desse espelho luminoso e simulacral onde a sua vida se reflecte. É uma viagem no tempo, sim, porque o poeta tem passado – que, nele, transborda – e, por isso, tenta devolvê-lo ao futuro, já reconstruído com materiais resistentes ao tempo, as palavras. É assim que se resgata e alimenta um presente, o seu, cheio de silêncios e de ausências que o inquietam. E, então, instala-se numa certa penumbra existencial (a tal que existe na catedral de palavras), mas, de quando em quando, expõe-se ao sol purificador, para, depois, regressar purificado à quietude da penumbra, onde, finalmente, pode experimentar o prazer sublime da doce melancolia.
SONHAR
“Sempre o sonho….continue a fazer-nos sonhar” , dizia alguém, comentando um poema meu. A poesia é sonho a olhos abertos. Umas vezes, traduz sonhos; outras, constrói-os. O sonho é o ambiente onde vive o poeta e, por isso, ele convoca os leitores para a experiência onírica com as palavras sedutoras e melódicas de que é feita a poesia. Se os deuses e as musas não o expulsarem do Parnaso e continuarem a agraciá-lo com o sopro da inspiração, ele continuará a subir ao Monte, transportando consigo palavras com melodia, e ao templo de Apolo. Lá, comporá as suas canções para oferecer a quem goste do seu canto e de sonhar.
O INSTANTE ONÍRICO
É verdade que a “Rua da Carreira” (a ilustração do poema “Um Sonho na minha Aldeia”) é, no poema (e não só), muito mais do que um lugar físico – é lugar de partida e de chegada, é passado, é presente e é futuro. Por isso, que melhor lugar poderia haver para um encontro onírico e de profundo afecto? Para um encontro impossível, mas intenso, reconstruído, neste lugar, no interior do tempo subjectivo do poeta, tornando-se deste modo “efectivo”. Um lugar onde a neve acontecia na sua inexcedível beleza, enquanto, farta e fria, ia caindo lá do alto para logo desaparecer com o despontar do sol da manhã. O poeta estabelece uma analogia da neve com a mulher do encontro, com a beleza do encontro, mas também com a sua fugacidade. Também ela parte com o despertar. Essa mulher era como a neve. Na fugacidade e na eternidade. A neve, como ela, foi-se, mas ficou para sempre. E foi por isso que ela, a musa, teve de vir a esta rua, marcada pela neve. O sonho poético a navegar no tempo, onde passado, presente e futuro se confundem no instante onírico. Kairós – o “momento oportuno”. Uma espécie de tempo sem tempo (a lembrar-me o aoristo da língua grega – um tempo verbal sem tempo, pois não era nem presente, nem passado, nem futuro). Depois, esse encontro num lugar matricial. Dar à musa a profundidade temporal que coincida com a do poeta, com as suas raízes e os seus afectos originários. Veio cá e por cá ficou como marca indelével. A neve e, agora, depois do sonho, a musa. O sonho existiu e foi reconstruído com palavras e com uma imagem. Foi, assim, superada a sua própria fugacidade, entregue ao futuro e partilhado, voando para além do tempo subjectivo do poeta sonhador. Alguém disse, pois, “Sempre o sonho… continue a fazer-nos sonhar”. Aqui está: na partilha, a viagem do sonho, transcrito em palavras com melodia, para além do tempo subjectivo do sonhador acontece quando se converte em poesia.
O CANTO SEDUTOR
Que elas, as musas e as deusas, protejam e inspirem o poeta, dizia alguém. E ele bem precisa. Mas elas, as musas, também precisam dos poetas. Diria mesmo que há uma espécie de natural cumplicidade entre elas e eles que torna o discurso “picante” e sedutor. As musas gostam que as cantem, sobretudo quando fingem desinteresse. Pudera! Afinal, o poeta também não finge? É uma das características da sua linguagem. Aqui, são elas que ouvem a insinuante melodia, sim, mas atam-se ao mastro do navio em que viajam para melhor resistirem ao canto sedutor do poeta. As musas não podem ficar cativas. E, então, fingem que não ouvem. Mas o poeta sabe que o canto lhes está no ADN. Na verdade, são os deuses, patronos das musas, que concedem a graça e a inspiração ao poeta, mas são elas, as sedutoras musas, que o estimulam, encantam e põem a cantar, sob o alto patrocínio da divindade.
A MUSA NA ALDEIA
Esse sonho (“Um Sonho na Minha Aldeia”) aconteceu e a rua era mesmo a da pintura “Rua da Carreira”. A musa é habitual companheira do poeta nas suas lamentações, como não poderia deixar de ser. Destino. Há sempre uma musa. E talvez a personagem Paola Valenzi, do romance “Via dei Portoghesi”, ajude a entender este destino sofrido em melancolia e em sonho e poeticamente convertido. O poeta tem muito de Gianni della Rovere, o amante. Mas aqui, neste poema, a recondução da musa à origem natal do poeta e aos momentos em que a magia da neve – que caía abundante e com frequência – o encantava era obrigatória. Como sonho ocasional ou como indução poética do sonho. A analogia entre a fugacidade da neve e a fugacidade do seu encontro com a musa tinha de acontecer. Quase como poética autojustificação. Mas também o mesmo encanto e a mesma pureza de sentimento. A neve no seu (dela) olhar. Pelo menos, era o que ele via nele, no olhar dela. Porque é pelo olhar que a neve lhe entra na alma. Tudo a convergir para a aldeia que o viu nascer nessa casa onde a neve o procurava (“batem leve, levemente, / como quem chama por mim”) e onde, cada vez com mais frequência, vai regressando, apesar da ausência persistente desse brilho cintilante que tanto o fascinava. É natural que, por isso, ele queira levar a musa consigo. Tudo é reconduzido às origens, como síntese da sua própria vida vivida e cantada. Sim, o canto já foi metabolizado e, por isso, já faz parte do seu próprio passado, do seu património vivido e guardado na memória dos afectos. Tudo se entrelaça na fantasia do poeta.
ANALOGIAS
O que aconteceu aos dois personagens do romance “Uma Viagem no Tempo” (Rosa de Porcelana Editora, 2022), de António de Castro Guerra, que tive o gosto de apresentar, encontra semelhanças com o encontro onírico do poeta: fugaz, intenso, enquadrado pela natureza, belo. Fugaz, sim, mas que a beleza e a intensidade perpetuaram, agora sob forma de arte (romance e poesia). Também no romance, passado, presente e futuro convergem no tempo vivo da narrativa, onde o próprio autor se revê como num espelho que lhe devolve o passado a um olhar comprometido, sofrido e nostálgico. O romance como solução da própria vida lá onde ela não encontrou modo de se completar. Dizem que a velocidade intensa cega (Virilio), tal como a vertigem da intensidade fugaz, mas é por isso mesmo que os despistes podem acontecer, ficando para sempre registados na penumbra da consciência, a provocarem uma moinha dolorosa ou mesmo estragos que só as palavras podem atenuar. A arte pode trazê-los à consciência e, deste modo, atenuar os efeitos devastadores que podem ter. A arte tem poder de resgate: a tristeza (pelo silêncio ou pela ausência) que, nela, se torna doce melancolia ou mesmo sofrida, mas doce ternura. O canto poético é, sim, um murmúrio do passado a convocar o futuro. JAS@02-2025