NOVOS FRAGMENTOS (XXV)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
A SEDUÇÃO DO COLIBRI
O encontro de um colibri, ou beija-flor, com uma magnólia branca aumenta sempre, na imaginação do poeta, a sua capacidade polinizadora (a referência é ao poema “O Poeta, a Pintora e o Colibri”). Os ingredientes estão lá. É magia pura que o poeta metaboliza para, depois, a expandir em palavras coloridas cenografadas e coreografadas. Como um bailado. E, claro, a presença de uma pintora é fundamental para o cromatismo do poema, para a cenografia. Com ela vêm as cores, os riscos e a luz, que se acrescentam à cenografia e à coreografia construídas pelas palavras. O colibri é mensageiro e tem uma enorme capacidade de polinização das almas, a começar logo pela do poeta. E é por isso que ele anda sempre por ali, pelo jardim encantado. Que precisa de constante polinização. Mas talvez também consiga polinizar a alma da pintora. Tem de conseguir. A um ponto tal que ela tenha de o pintar com as cores que lhe enchem a alma. Pintar também o colibri. Com as razões do coração, como diz o poeta? Não sei, até porque não sei se o coração tem razões. Na verdade, ele é mais pulsão do que razão. A razão aqui confunde-se com pulsão. A pulsão é a única “razão” que se pode conhecer no amor. Anda por aqui este colibri e eu não consigo ficar-lhe indiferente, dirá a pintora, depois do que dele disse o poeta. Por sua vez, na mitologia poética (deste poeta) a magnólia branca ocupa um lugar central, o melhor para atrair o sedutor colibri. Trata-se de um arbusto de transição entre a neve e a primavera. E é com o colibri que praças, rios, vales, montanhas convergem para o jardim e para a magnólia. Como se o mundo voasse com ele para o lugar onde irá nascer um poema que há-de interpelar directamente a pintora e, através dela, todas as almas sensíveis. É verdade, os poetas tendem sempre a concentrar o mundo num só poema. É uma tentação mais forte do que eles. E como não têm limites nem podem ser responsabilizados deixam-se ir. E quanto mais se deixarem ir mais probabilidades têm de oferecer belos poemas à comunidade dos amantes do canto.
POLINIZAR
Quem nos dera que o mundo voasse com o colibri para que as almas sensíveis fossem polinizadas com a beleza da arte. Isso, sim, seria cantar a vida e a beleza e voar para um mundo melhor.
A NEVE
“A neve está-nos na alma”, dizia eu a um companheiro de viagem poética, a propósito do poema “Neve”. Faz parte de nós. Quando algo nos faz falta lembramo-nos logo desse algo. É o caso da neve – faz sempre falta. Há muito que não cai lá do alto, mas gostaríamos que caísse. Às vezes parece anunciar-se, mas depois nada acontece. E, assim, mais intensa se torna a saudade. Branca e fria, e que saudades, Deus meu! O frio da alma é como o frio da neve. Quente e frio. Como o quente das memórias que já só são memórias. E, por isso, também frias, como a neve. O sujeito poético diz que ela, a musa, é como a neve… mas quando não está a nevar. É desejada, como a neve, mas, como ela, nunca mais chega. Encanto e desilusão. Flocos de nostalgia caem lá do alto da fantasia. E se um dia nevasse a sério, com a neve a bater na vidraça? Vã esperança. Só a podemos ver ao longe lá no alto da montanha ou lá no alto da fantasia. Nevar no alto da fantasia, para glosar o Dante. Assim é com a musa. Assim é com a neve.
FANTASIA
A ausência e o silêncio são alimentos dos poetas. Como a neve, a musa não chega e então só lhe resta cantá-la. Bem olha para o alto da serra, mas nada. Então olha para o alto da fantasia e vê o que deseja ver, seja a neve seja a musa. A poesia é a ponte que nos leva ao inacessível. Não há impossíveis para um poeta.
AMOR
O fenómeno do amor é estranho porque, dele, nunca se conhece a causa. Não é verdade que quando pensas que já sabes por que razão amas alguém isso quer dizer que já não amas? Descobrir a causa do amor é anulá-lo. O amor é misterioso e é disso que fala o poema “Mistério”. Nada importa quando se ama, que o mesmo é dizer: tudo importa, quando se ama. Ela ou ele parece nada saberem fazer, mas mesmo assim são amados. O amor é pulsão. Dizer “eu amo-a porque ela é culta, porque ela canta bem, porque ela dança maravilhosamente”… não faz sentido. O amor não conhece razões e é por isso que a poesia é a arte que melhor o canta, que melhor fala dele, que melhor o pinta. A exactidão poética do vago, do indefinido, do inexplicável. O amor é vulcânico mesmo quando se exprime com delicadeza. É poderoso e genuíno.
Na verdade, o que pretendi fazer com o poema “Mistério” foi uma reflexão sobre o amor em discurso poético, não analítico, como é, por exemplo, o livro do Stendhal sobre o amor. O sujeito poético teme que a amada nada tenha para oferecer, mas, mesmo assim, ela atinge-o pulsionalmente, sem razão visível nem resistência possível. Mulheres há que deslumbram o poeta pelo que fazem, pela beleza, pela excelência nas suas performances. Pelo encanto que transmitem e oferecem. Mas ele mantém-se prudentemente distante. Na musa que o inspira, que o seduz, que o cativa, nada encontra a não ser uma atracção fatal, irresistível, que ele reconhece ser amor. “Maladie d’amour”, poder-se-ia dizer. Invenção imaginária de qualidades que não têm real correspondência na amada. Aquilo a que o Stendhal chamou “cristalizações”. Não importa, elas existem na imaginação do amante e são poderosas.
O poema “O Poeta, a Pintora e o Colibri” é um hino à vida e ao amor. A algo que não precisa de argumentos para se mostrar forte e genuíno. Algo que vale por si, que não é instrumental e que se impõe sobre todos os cálculos. Amar é isso: estar lá sem pedir nada em troca. Muitos dos amados não se dão conta disso.
SOFÁ POÉTICO
Os poetas navegam sempre entre anjos e musas, mesmo quando inspirados em referências concretas. Eles colocam-se sempre um nível acima da realidade empírica. Imperativo estético, mas também existencial. É esse o terreno da fantasia. Há sempre estímulos sensíveis que podem desencadear a pulsão poética, mas depois o processo envolve muitas variáveis, a começar pela fantasia e pelas categorias da arte. As aparições desencadeiam sempre leituras oraculares que tentam decifrar o mistério de certas e poderosas pulsões. A poesia é sempre também leitura oracular. Eu não sei se neste poema (“Aparição”) o poeta não estará a partilhar a sua própria génese como poeta. Como tudo começou. A luz que o encandeou e o levou ao “sofá poético”. Um lugar de livres associações, onde está inscrito algo muito profundo, não directamente visível. Talvez. Só que aqui o faz de forma diferente. Fala do mesmo como se estivesse a falar disso pela primeira vez. Nisto tem razão a Szymborska. A aparição como epifania – assim se concretiza o recorrente processo da sinestesia que o poeta/pintor persegue com delicada teimosia.
APARIÇÃO
As aparições nunca são nítidas (trata-se do poema “Aparição”). É por isso que suscitam interpretações de natureza oracular. Porque, é verdade, nas aparições nunca se vê tudo. Há sempre uma certa neblina que cobre aquilo que queremos ver. O mistério instala-se. Neste caso, o anjo revelou-se mulher na imaginação do poeta e isso terá sido a causa da sua conversão poética. A aparição inaugurou uma caminhada à procura de sentido. Sim, o melhor é aquilo que não se vê, aquilo que escapa à apreensão imediata, aquilo que temos de procurar para além das aparências porque não se dá a uma visão directa, imediata. Aquilo que exige a utilização de um espelho para lá chegar sem o perigo da petrificação. É por isso que a deusa Athena é tão importante para os poetas. JAS@02-2026
UMA VISÃO ESCLARECIDA E CORAJOSA
O Lúcido Discurso
de Mark Carney em Davos
João de Almeida Santos
FINALMENTE, ouvimos um lúcido discurso sobre a ruptura civilizacional que está em curso desde que Donald Trump voltou ao poder. Trata-se do discurso de Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, em Davos. Ruptura da ordem mundial – é disso que se trata. Em primeiro lugar, reconhecê-la sem criar ilusões de que tudo está bem, de que isto vai passar, de que é necessário acomodar-se porque o bom senso entre os velhos aliados regressará. Sempre houve transgressões dos ideais proclamados e alguma hipocrisia ou falsa boa consciência, mas, ao menos, havia um quadro formal como moldura da política internacional, das relações internacionais e como moldura das relações entre os aliados. A ONU era um deles, o mais universal, mas a instituição presidida por António Guterres está em decomposição acelerada. A NATO era outro quadro militar que definia as relações entre os aliados, mas agora já é o próprio aliado que ameaça outro aliado de ocupar militarmente um seu território, além de insultar todos os outros, dizendo que ficaram sempre na retaguarda do teatro de operações, que participaram com inúmeras vítimas em acções militares da NATO. Ao que parece, Trump quer criar outra ONU à medida do seu umbigo, a “Aliança de Paz”, e reduz a pó o famoso Art. 5.º da NATO. O invasor potencial vem de dentro da própria organização. Ou seja, reduz a pó a própria NATO. A (nova) ONU e a NATO identificam-se com ele próprio. Neste caso, desde que instale um sistema de defesa na “sua” Gronelândia. Se alguém lhe diz não, ameaça com novas e pesadas tarifas e mais não se sabe o quê. A ameaça é o seu método. E a política é isso. Tudo à medida do seu umbigo, que tem a dimensão do mais poderoso país do mundo.
1.
A ordem instalada no segundo pós-guerra não está em crise – acabou. E, por isso, é necessário encontrar novas vias e novas alianças. É disto que fala Carney com vigor analítico e argumentativo, mas também enquanto político e PM de uma potência média. Regressa, diz, a política das esferas de influência centrada nas grandes potências mundiais: USA, China e Rússia. E usou uma eficaz metáfora para se referir à necessidade de redefinir alianças que escapem à lógica das esferas de influência: “se não estamos à mesa, estamos no menu”. Ou nos aliamos ou tornamo-nos pasto das grandes potências. Talvez Carney pense numa relação reforçada entre o Canadá e a União Europeia, no Reino Unido que ele conhece como ninguém (foi governador do Banco de Inglaterra), na Austrália, na Nova Zelândia e nalguns países democráticos dos BRICS, por exemplo, no Brasil ou na Índia, que acaba de alcançar importantes acordos com a União Europeia. Alianças em geometria variável, mas alianças em condições de proteger importantes países da devastação geoestratégica que está a ser provocada por Donald Trump.
2.
Não se trata de uma espiral do confronto, mas de uma resposta em geometria variável ao que parece estar a ser desenhado. Se antes se podia falar de bipolarismo estratégico (ocidente/sistema dos países do socialismo de Estado), hoje pode-se falar de tripolarismo (USA, China, Rússia). Trata-se de algo diferente dos chamados BRICS, um conglomerado de países que estabeleceram uma aliança que pretendia responder à chamada hegemonia ocidental guiada pelos USA, promovendo o multipolarismo e o reforço das instituições internacionais. Sim, mas a verdade é que as três potências mundiais (duas das quais até integram, nessa mesma lógica, os BRICS) seguem a sua própria estratégia, indiferentes a todos os outros países, incluída a União Europeia. Mas algo mudou e a chamada frente ocidental desapareceu, dando lugar à hegemonia de um só país, os Estados Unidos. O passo em frente está, pois, a ser dado por Donald Trump, o mais disruptivo de todos porque deslaça uma grande frente ocidental, sem dúvida fortemente assimétrica (e polarizada essencialmente pelos USA), que se impunha na cena internacional de forma muito vigorosa, com poder militar, económico, comercial e também com um apreciável “soft power”. Foi, aliás, esta frente que deu origem à criação alternativa da frente política dos BRICS. Mas, como disse, tudo mudou. Agora é Trump que ameaça os BRICS com tarifas de 100% se estes ousarem criar uma moeda alternativa (ou apoiarem outra moeda alternativa) ao dólar. Ameaças, sempre ameaças.
3.
Note-se que Trump, a seu tempo, falou do Canadá como de um novo estado federado americano (o 51.º), o que mereceu uma dura réplica dos canadianos. Com o alargamento à Gronelândia e à Venezuela (para não falar de Cuba ou da Colômbia) da sua pretensão de controlo directo ou indirecto, no interior daquela que já é conhecida como a nova “Doutrina Donroe” (novo nome para a velha doutrina de 1823, conhecida como “Doutrina Monroe”), ou o controlo total do continente americano, o primeiro-ministro canadiano enfrentou directamente o problema, reconheceu a ruptura e convidou as “potências médias” a deixarem de “fazer de conta” e a iniciarem uma política diferenciada de alianças, em geometria variável, sentando-se à mesa para que não venham a tornar-se alimento das grandes potências. Carney falava claramente para os países que hoje integram a União Europeia, mas certamente também para os outros que referi, incluindo os que, sendo democracias, integram os BRICS e que desejam escapar à lógica das esferas de influência, dando nova orientação à razão da sua integração originária nos BRICS.
4.
Trata-se de uma agenda que contempla os valores que hoje parece estarem esquecidos por aqueles que antes os defendiam: “construir uma nova ordem que integre os nossos valores, como o respeito pelos direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a solidariedade, a soberania e a integridade territorial dos Estados”. Tudo aquilo que já está fora da agenda americana, porque subentrou uma nova agenda do poder como puro exercício da vontade e da força de um Estado sobre outros. Ou pior: puro exercício da vontade de um homem só.
5.
Os Estados Unidos, a seguir à segunda guerra mundial, apoiaram a Europa com cerca de 14 mil milhões de dólares, favorecendo a reconstrução do continente europeu e a criação de um forte bloco-tampão que impedisse a evolução a ocidente do sistema do socialismo de Estado, com centro em Moscovo. E na verdade viria a criar-se, em 1952, uma União Europeia, ainda sob forma de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tendo. depois, evoluído para a configuração actual, por variadas razões (mas sobretudo depois da queda do muro de Berlim e depois da criação do Euro) bem pouco acarinhada pelos Estados Unidos, mas hoje considerada explicitamente por eles, na sua Estratégia de Segurança Nacional, como realidade em estado de degenerescência civilizacional.
6.
Não sei até que ponto o discurso de Carney possa ter influenciado a reunião do dia 22 do Conselho Europeu, mas a verdade é que pela boca do seu Presidente, António Costa, finalmente, e depois de um explícito apoio à Dinamarca e à Gronelândia, se ouviram palavras claras acerca da União Europeia: “Ao mesmo tempo, a União Europeia continuará a fazer valer os seus interesses e defender-se-á a si, aos seus Estados-Membros, aos seus cidadãos e às suas empresas, contra qualquer forma de coerção. Tem o poder e os instrumentos para o fazer e utilizá-los-á se e quando necessário”. Se esta declaração corresponderá, ou não, ao accionamento de concretas medidas de combate a essa autêntica “guerra de movimento” que está a ser levada a cabo pelo Presidente americano é coisa que não se sabe, sobretudo atendendo ao mais recente histórico das tomadas de posição da União Europeia e ao próprio perfil dos seus três dirigentes de topo. Mas suspeito que não será de esperar grandes iniciativas. De resto, a dependência da Europa dos Estados Unidos em múltiplas e nevrálgicas frentes (defesa, presença espacial, energia, serviços digitais, telecomunicações, redes de pagamento) é enorme pelo que qualquer reacção deve ser muito bem ponderada, sendo certo, todavia, que medidas radicais e punitivas dos USA também lhes criariam enormes problemas, designadamente económicos (sobre este assunto veja o “Le Monde” de 25-26.01.2026, na Manchete e nas pág.s 12-13 o artigo “L’Europe souffre de multiples dépendances aux États-Unis”).
7.
É claro que o senhor Donald Trump é o Presidente legítimo do mais poderoso país do mundo, mas o seu discurso e a sua prática nem por isso deixam de ter a marca de uma fanfarronice incompreensível, inaceitável e condenável, até por ela não se ver exercida em relação a países poderosos como a China ou a Rússia ou mesmo em relação à Coreia do Norte. Dá mesmo a sensação de que Trump se inscreve naquele ditado popular que diz que um certo indivíduo é forte com os fracos e fraco com os fortes. Talvez seja mesmo isso, neste caso. agravado pelo facto de o indivíduo ser presidente do mais poderoso país do mundo. O que é certo é que, no meio de tudo isto, a sua fortuna pessoal vai crescendo exponencialmente à medida que cresce o conflito de interesses entre si, a sua família e o Estado americano e que os Estados Unidos se vão transformando cada vez mais numa plutocracia governada por plutopopulistas agressivos.
8.
A resposta de Trump em relação ao discurso de Carney já aconteceu na sua rede social, Truth, em jeito de ameaça: o Canadá existe graças aos Estados Unidos e Carney deve tomar isso em consideração quando voltar a fazer declarações públicas. E, não contente com esta advertência ou ameaça, notificou o PM canadiano de que acaba de retirar o convite ao Canadá para participar no já famoso “Conselho de Paz”, por si presidido vitaliciamente, ou mesmo eternamente. Só falta mesmo uma resposta de Carney a dizer-lhe que até lhe agradece a decisão porque a posição do Canadá em relação a essa ficção se limitara a ser uma atitude de gentileza, mesmo concordando com as enormes dúvidas que a União Europeia tem sobre uma iniciativa que deveria, isso sim, ter lugar no quadro da ONU. Merz e a própria Meloni já pediram esclarecimentos a Washington sobre a iniciativa. Mas Trump não se ficou por aqui. Acaba de ameaçar (sempre as ameaças) o Canadá com tarifas de 100% se este país assinar um acordo comercial com a China: “Se o Canadá fizer um acordo com a China, será imediatamente atingido com uma tarifa de 100% sobre todos os bens e produtos canadianos que entrarem nos Estados Unidos”. Ameaça estendida também aos BRICS. Nada escapa à sua política de ameaças, o novo método de gestão das relações internacionais.
9.
Parece não haver dúvidas de que Trump é um líder insistente e recorrente nas suas posições, não conhece limites à afirmação da sua vontade, da sua mente, da sua moralidade, o que leva a que só uma forte oposição (e não só em palavras) à sua determinação o poderá levar a retroceder nos seus propósitos disruptivos. Já se percebeu que a democracia americana, e em particular o partido democrata, está refém da vontade de Trump, não sendo expectável que o seu expansionismo venha a ser internamente travado. Sendo verdade que o modelo presidencial americano é muito inspirado na monarquia constitucional, nunca como hoje o presidente se sentiu e exibiu como um autêntico monarca que até aspira a tornar-se monarca absoluto, já não de um só país, mas de todo o mundo. Uma espécie de Commonwealth universal imposta por um novo imperador mais sensível ao uso da força do que ao “soft power”. Uma espécie de Roma do século XXI, mas sem a sua inteligência estratégica, bem patente, por exemplo, no Édito de Caracalla, de 212 d.C, que alargou o direito de cidadania a todo o Império. Certamente por razões fiscais, mas também por uma lógica integrativa e de consolidação da hegemonia romana. Lógica ausente das preocupações de Trump.
10.
Havendo eleições intercalares em Novembro, o que, entretanto, acontecerá será cada vez mais grave e provavelmente irreversível. Lembro-me que, nos anos noventa do século passado, foi tentado o impeachment de Bill Clinton devido a um “affaire” com uma estagiária (maior de idade) na Casa Branca, mas parece nada justificar a gigantesca promiscuidade (conflito de interesses) entre os negócios da família Trump e o Estado americano (veja-se o artigo de Gonçalo Almeida, “Trump duplica fortuna após voltar ao Poder”, sobre o assunto, no “Expresso”, Economia, pp. 10-11, 23.01.2026). O impeachment não se concretizou por ocasião do assalto ao Capitólio e certamente não acontecerá em relação ao brutal enriquecimento de si próprio e da sua família devido ao activismo e à influência da sua própria presidência. É de recordar que Clinton foi sujeito ao processo de impeachment por alegadamente ter mentido ao Congresso sobre o affaire com a senhora Lewinsky. Se o mesmo critério sobre a verdade fosse aplicado a Trump já teríamos tido dezenas de impeachments, embora de desfecho imprevisível. JAS@01-2026
PRESIDENCIAIS 2026
A Segunda Volta
João de Almeida Santos

"S/Título" - JAS 2026
ANTES DE DAR INÍCIO a uma reflexão mais ampla sobre as presidenciais, agora que estão escolhidos os dois candidatos presidenciais, António José Seguro e André Ventura, será de grande utilidade fazer uma breve análise dos resultados eleitorais da primeira volta.
1.
O vencedor claro da primeira volta é António José Seguro (31,11%), tendo André Ventura conseguido também uma consistente vantagem sobre João Cotrim de Figueiredo (23,52% contra 16%, equivalente a mais cerca de 424 mil votos), sendo Marques Mendes e Gouveia e Melo os claros derrotados desta competição eleitoral, para não referir a progressiva irrelevância do LIVRE, do PCP e do BLOCO, ao obterem, juntos, a ridícula expressão eleitoral de 4,38%, menos de 250 mil votos. Dirão, como disse António Filipe, que se verificou a dinâmica do voto útil. Sim, mas isso já era claro que iria acontecer. Preferiram, então, exibir a sua progressiva irrelevância em vez de reforçar as possibilidades de António José Seguro ir à segunda volta. Esta posição talvez tenha beneficiado Seguro, reforçando o seu crescimento no eleitorado da direita moderada. E se é verdade que o PS, ao apoiar Seguro, pode colocar-se (modestamente, diria) ao lado do vencedor, também é verdade que o PSD averbou uma estrondosa ou mesmo humilhante derrota ao ver o seu candidato ficar na quinta posição, com uns miseráveis 11, 3%, equivalentes a quase menos 700 mil votos do que André Ventura. Uma geometria política verdadeiramente disruptiva, mas com uma garantia de estabilidade trazida pelo sólido trajecto político de António José Seguro, construído autónoma e livremente para além do partido de que fora líder e da sua própria classe dirigente.
2.
Mas é preciso dizer também que há outro grande derrotado nestas eleições, a SIC, o espaço onde durante anos e anos, e aos domingos, pontificou o candidato Marques Mendes, quase em regime de “permanent campaigning”. Mas também as sondagens o foram, pois, na generalidade, sempre estiveram muito longe dos resultados que se viriam a verificar. Na verdade, as sondagens mais pareceram peças de campanha do que radiografias da realidade. De resto, sabe-se que muitas vezes elas são mesmo usadas com aquele fim.
3.
Como se vê pelos resultados, estas eleições não representam um recorte preciso da geometria partidária, mas antes uma tendência geral em função do que os candidatos pessoalmente representavam. Até pela natureza unipessoal do cargo. Mas há diferenças substantivas entre o que os partidos de referência representavam e o que os respectivos candidatos obtiveram, à excepção de André Ventura, que replicou o resultado que obtivera nas legislativas de Maio. Seguro teve uma votação muito superior à que o PS obteve; Marques Mendes ficou mais de 20 pontos abaixo do valor que a AD conseguira em Maio; Cotrim de Figueiredo elevou-se muito acima do score eleitoral da Iniciativa liberal, sendo que o Almirante Gouveia e Melo não tinha um claro recorte partidário. A esquerda radical ou manteve o score eleitoral (no caso do Bloco) ou caiu drasticamente. O PCP viu reduzido para cerca de metade o seu eleitorado e o resultado do LIVRE foi simplesmente residual (inferior ao do cómico Manuel João Vieira).
4.
No essencial, estas eleições vieram confirmar a profunda mudança que está a acontecer no eleitorado e no sistema político. Confirma-a o resultado de André Ventura (consolidando o seu eleitorado) e confirmam-na os resultados dos outros candidatos. É para mim claro que a possibilidade de António José Seguro vir a ser eleito Presidente é altíssima, não só pela diferença que já exibe em relação a André Ventura (quase oito pontos percentuais e cerca de 428 mil votos), mas também pelo alto índice de rejeição que afecta este último e que contrasta com a enorme abertura política que já se está a verificar em relação à candidatura “suave” de Seguro. Mesmo assim, se fizermos um exercício algébrico simples sobre os resultados da primeira volta, constataremos que Seguro poderá obter efectivamente mais de 50% dos votos. E o exercício algébrico consiste em dividir pelos dois, de forma igual, o total dos votos dos três candidatos afastados (Cotrim, Gouveia e Melo e Marques Mendes), juntando, todavia, a Seguro o total dos votos da esquerda radical (BLOCO, PCP e LIVRE). O resultado daria cerca de 54% para Seguro, isto é, uma vitória folgada.
5.
Mas há outra conclusão a tirar desta operação, ou seja, o facto de, assim, Ventura superar em muito a quota de 40%, alargando a sua base eleitoral partidária em cerca de 20 pontos, sendo certo que a sua figura política se tornaria central no sistema político, por duas razões: por um lado, ocorreria uma densificação e valorização política da sua personalidade e, por outro, sendo líder partidário esse reforço qualitativo transpor-se-ia para o seu próprio partido, abrindo caminho a um crescimento eleitoral muito significativo, a ponto de se poder razoavelmente pôr a hipótese de uma sua vitória em próximas eleições legislativas.
6.
Este, e sem diminuir a provável e merecida vitória eleitoral de António José Seguro, talvez seja o mais relevante significado político destas eleições porque irá mexer com a geometria partidária e eleitoral e, naturalmente, com efeitos fortemente disruptivos sobre a relação de forças parlamentar e, naturalmente, sobre um futuro governo. Estas eleições poderão, pois, abrir caminho a uma crise de governo desencadeada pelo CHEGA ou, então, a um efeito-concha do sistema, envolvendo um pacto defensivo, implícito ou explícito, entre aqueles que foram até hoje os pilares do sistema, PSD, PS e Presidência da República (com a excepção da disruptiva presidência de Marcelo Rebelo de Sousa). Conhecendo-se os protagonistas que hoje temos e, provavelmente, iremos ter no terreno, António José Seguro, na Presidência, José Luís Carneiro, líder do PS e um PSD liderado por alguém que tem como único objectivo a sobrevivência durante o mandato, é provável que venhamos a assistir a um efeito de fechamento em concha dos representantes do sistema, transformando o CHEGA, agora reforçado nas presidenciais, em verdadeira alternativa aos partidos do sistema.
7.
Sabemos o que está a acontecer por essa Europa fora com os partidos que se estão a apresentar como alternativos a um sistema que, no essencial, tem sido governado pelo centro-esquerda ou pelo centro-direita. Giorgia Meloni está a ensaiar uma nova geometria constitucional alinhada com as suas posições ideológicas. Partidos estes que agora estão muito reforçados pelo exemplo do radicalismo trumpiano e do seu ultramontanismo ideológico e político. Ou seja, o que se está a verificar é um crescimento, em mancha de óleo e por todo o lado, deste tipo de política, o que poderá influenciar decisivamente a evolução da política no nosso país, no mesmo sentido, não já directamente nestas presidenciais, mas num futuro próximo e nas legislativas.
8.
Eu creio que o fechamento em concha não será, em caso algum, a melhor solução para combater este fenómeno em crescimento, tal como penso que a diabolização de um protagonista que pode vir a recolher à volta de 40% dos consensos no dia 8 de fevereiro não será também a melhor resposta. De resto, esta atitude nunca será, para mim, a melhor resposta. Poderá sê-lo conjunturalmente, mas não o será estrategicamente. E, todavia, a tomar em consideração as idiossincrasias pessoais dos protagonistas do sistema, é provavelmente isso que irá acontecer. Do chumbo do próximo orçamento não resultará (e ainda bem) a dissolução do parlamento e perante uma moção de confiança o PS de Carneiro abster-se-á. E così via.
9.
Há muito que tenho vindo a dizer que esta crise se deve em grande parte ao exercício político das forças que têm governado o sistema, a uma política sem alma, à sua redução à dança dos números da macroeconomia, ao nepotismo e à endogamia dos partidos do sistema, à falta de gravitas dos protagonistas desta política e ao medo do risco na gestão dos grandes temas da política nacional e internacional. E é por isso que urge dar vida a uma nova política que seja capaz de mobilizar a cidadania, não somente nos períodos eleitorais, mas para a construção de uma sociedade mais eficaz, mais justa e mais empenhada no futuro colectivo. Infelizmente, não vejo como é que isso possa vir a acontecer com os grandes partidos transformados em meros comités eleitorais e cada vez mais vazios por dentro, em partidos que se transformaram em enormes federações de interesses pessoais e sem alma, em partidos que já nem sequer possuem “forces propres”, recorrendo sistematicamente ao “outsourcing” (agências de comunicação que organizam as campanhas e constroem os programas e os discursos) e desmobilizando a própria militância, a partidos que nem sequer activam a dinâmica interna porque estão ocupados pela própria oligarquia que navega segundo os ditames da velha “lei de ferro” (ou mesmo de cimento) que os impermeabiliza socialmente, por dentro e por fora.
10.
Eu creio que estas eleições, da primeira volta e da segunda volta, anunciam profundas mudanças que talvez não sejam mesmo as melhores. E é sintomático que hoje a política de esquerda já só pareça estar reduzida à defesa da trincheira constitucional ou mesmo da trincheira democrática, sem que se vislumbrem (e há muito) outros horizontes mobilizadores. É neste contexto e ambiente que avança a direita radical a grandes passos. Vimos o que aconteceu e o que está a acontecer em França, onde a direita radical só não venceu ainda tudo porque há sempre uma segunda volta que trava as vitórias da primeira, mas onde a política fica confinada à defesa do regime. O que, naturalmente, é muito pouco e que tem levado a uma situação de crise permanente que, finalmente, poderá vir a terminar, em 2027, com a vitória da direita radical de Marine le Pen e de Jordan Bardella. O panorama europeu é muito esclarecedor, da França ao Reino Unido, da Itália à Alemanha, onde segundo as sondagens Alternative fuer Deutschland já é o maior partido, sendo o segundo no Bundestag, com 152 deputados (sondagem publicada pelo “Politico”, de 16.01.2026: AfD, 26%; CDU/CSU, 25%; SPD, 14%). Em Portugal tudo chega sempre tarde. Mas acaba sempre por chegar. JAS@01-2026
O GRAU ZERO DA POLÍTICA
João de Almeida Santos
"S/Título" - JAS 2026
TALVEZ NUNCA COMO HOJE a política tenha descido a um nível tão baixo. Ao grau zero. Pelo menos, a chamada política democrática. Desprovida de valores de referência, capturada pelo desejo voraz de ocupar e usar o poder para promover interesses de parte (e pessoais), reduzida ao puro exercício da força, seja ela económica ou militar, centrada na vontade e não no império da lei, a política deixou de estar ancorada na defesa do interesse geral, no interesse público, na ideia de serviço em nome de ideais superiores, no respeito pelo direito internacional e pelo direito à autodeterminação dos povos. Quando estes ideais falaram mais alto, o mundo avançou. Quando enfraqueceram, o mundo regrediu. Os oitenta anos que se seguiram à segunda guerra mundial, apesar do condicionamento do bipolarismo e de focos de turbulência bélica localizados regionalmente, foram, no essencial, anos de paz e de progresso. Hoje, infelizmente, vivemos anos regressivos. E não só do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista político, de como a política é assumida pelos seus principais protagonistas e agentes.
1.
A regressão é, de certo modo, nova porque acontece inopinadamente num país democrático que sempre reivindicou a sua matriz liberal e fundamentou as suas políticas em razões que se inscreviam na sua matriz, pese embora os momentos de excepção, formalizados, por exemplo, na doutrina Monroe ou no respectivo corolário Roosevelt, ou seja, nos USA como polícia do hemisfério. A regressão é nova porque a estratégia passou a estar ancorada não em ideais (ainda que tantas vezes traídos), mas tão-só na vontade arbitrária de um só homem: “Trump seems to think he will be able to rule by threat and by proxy”, diz Patrick Iber, em “The Trump Doctrine”, na revista Dissent (05.01.2026). Uma democracia que parece estar cada vez mais ancorada exclusivamente na força e na vontade de quem a pode activar. Nem as clássicas ditaduras agiam de forma tão descarada e arbitrária como hoje age o actual presidente dos USA, Donald Trump.
2.
A direita radical europeia ainda vai, por um lado, tentando um discurso ideológico centrado num soberanismo serôdio, enquanto, por outro, vai pactuando com a reconstrução acelerada das famosas esferas de influência a cargo de poucos e poderosos países com licença para as gerirem livremente de acordo com os seus interesses orgânicos e à revelia dos povos que as integram. Mesmo no tempo mais escuro do triunfo das ditaduras na Europa do século XX, a política era emoldurada em elaboradas ideologias e utopias capazes de mobilizar as consciências para a construção de algo que pretendia ser colectivo, comum. A pretensão de expansão universal dessas visões estava centrada em valores e em argumentação pretensamente racional. Costuma-se falar desse tempo como a época de ouro das ideologias, mesmo se esse ouro era ilusório e instrumental, à esquerda e à direita. O Gramsci, ao falar do poder, falava de combinação hamoniosa da força com o consenso, onde este acontecia no terreno da ideologia. A hegemonia correspondia ao que hoje se chama “soft power”. E entendia-se, desde Machiavelli, que nenhum poder podia sobreviver se não se preocupasse em encontrar uma sólida base consensual. Muitas vezes, esse consenso era conseguido graças ao agitar de um potencial inimigo agressor externo. As ditaduras sempre usaram o inimigo externo para induzir a necessária unidade nacional. O suporte era o nacionalismo, mas havia sempre algo mais. Uma coisa é certa: nunca como hoje a força foi exibida de forma tão descarada e sem preocupações de a emoldurar em ideais. A teoria da pós-verdade, praticada à exaustão, veio facilitar este exercício despudorado da força como exclusiva razão da política. Até Putin procurou fundamentar ideologicamente e na história da Rússia a invasão da Ucrânia (veja, aqui, sobre este assunto, o meu artigo “O Erro de Putin (II)”, de 16.03.2022).
3.
A queda das ideologias e do seu poder agregador das consciências e a chegada da televisão nos anos cinquenta do século passado viriam, deste ponto de vista, a mudar tudo, transformando-se a televisão em âncora fundamental do poder (a conquistar ou a preservar), em fonte de consenso e hegemonia (através das chamadas indústrias culturais, tão criticadas por Adorno e Horkheimer em “A Dialéctica do Iluminismo”, nos anos quarenta), em aliança com a voracidade consumista que se foi instalando nas sociedades ocidentais e mais desenvolvidas. A política norte-americana é o mais evidente exemplo do poder da televisão. Basta seguir a evolução interna da estratégia comunicacional da Casa Branca, em particular depois de Nixon, com a WHOC, White House Office of Communications. Mais tarde, já no século XXI, as redes sociais viriam juntar-se ao poder da televisão e, sobretudo, com a introdução dos algoritmos e da inteligência artificial na prática consumou-se uma profunda mudança no ambiente comunicacional onde tudo passou a ser volátil, indeterminado, instrumental e simulacral. A teoria da pós-verdade e a velocidade com que a comunicação é processada vieram mudar radicalmente o ambiente onde acontece a formação da opinião pública, com as inevitáveis consequências no processo de legitimação do poder. Um relativismo total e difuso, onde campeia a manipulação, que contrasta com qualquer tipo de certeza, de orientação, de previsão, de segurança, ou seja, com os valores que sustentam a normalidade da vida colectiva e que servem de bússolas cognitivas para agir em sociedade. Tudo está em movimento, nada é seguro, certo, previsível. É neste novo “espaço intermédio” que acontece uma comunicação, por um lado, caótica e, por outro, pilotada administrativamente pelos senhores da rede e do poder mediático. Um ambiente onde a informação já não é certificada porque na sua grande maioria já é produzida por máquinas de inteligência artificial (os bots). Navegar com segurança na informação hoje parece já só ser possível aos especialistas dotados de competências cognitivas que não estão disponíveis aos cidadãos comuns. A propaganda, o caos informativo e a velocidade com que é processada a informação ou a desinformação tornam o ambiente comunicacional impróprio para consumo do cidadão normal.
4.
A política é o espelho de tudo isto. E a segunda chegada de Trump ao poder com o discurso destemperado e as acções que vai desenvolvendo cada vez com maior radicalidade é o espelho claro da situação que estamos a viver. No seu discurso já nem sequer é possível vislumbrar qualquer preocupação argumentativa, qualquer fundamentação das suas decisões ou acções que possa seriamente ser levada em conta. Tudo é instrumental e, de certo modo, errático. É o “triunfo da vontade” sobre a lei, da sua vontade, ancorada no poder institucional do presidente da mais poderosa nação do mundo. “Triumph des Willens”, era o título do filme, encomendado por Hitler a Leni Riefenstahl, sobre o famoso congresso de Nuremberga, de 1934. Sim, triunfo da vontade. Só pode haver um limite à vontade do ditador: ele próprio, a sua própria vontade. Neste contexto não se torna necessário argumentar, convencer, fundamentar. É o poder do facto, que prescinde do poder da palavra ou da ideia. Estas são fungíveis como as nuvens, levadas pelo vento. “La politique du fait” contra “la politique des idées”. Aquela era a política propugnada pelos homens da Action Française, do famoso Charles Maurras, expoente do influente reaccionarismo francês, inclusive sobre o Portugal de Salazar, nas primeiras décadas do século XX. Um seu expoente de primeiro plano, creio que era George Valois, chegou a considerar a Action Française como o ninho do fascismo. Uma afirmação a que Mussolini respondeu que, sim, que podia ser, mas que tinha sido ele que pôs “o bebé no berço”. O primado da acção (em detrimento das ideias), o mesmo que me pareceu ouvir da boca de Marco Rubio, referindo-se a Trump e à sua decisão de “extrair” Maduro de Caracas.
5.
A vontade de quem detém o poder está a ser transformada em princípio do poder, mandando às urtigas todos os outros princípios que era suposto estarem na base do exercício do poder político em democracia. Trata-se de uma orientação anti-liberal, hoje bem identificada na direita radical, incluída a de Trump. A separação dos poderes e os “checks and balances” anulados pela afirmação da vontade do líder carismático, supremo sacerdote do “espírito do povo”, seu intérprete oracular, seja lá o que for esse seu povo de referência. Se antes era Deus e, depois, era o povo o fundamento legítimo do poder, agora é a vontade do líder carismático o seu fundamento supremo. A manchete do New York Times de sexta-Feira passada (09.01.2026) é muito sugestiva a este respeito: “Trump Lays Out a Vision of Power Restrained Only by ‘My Own Morality’ ”, “my own mind”. Não há direito internacional ou tratados que limitem o seu poder, mas apenas a sua própria moralidade. Ou seja, a sua própria vontade. Os outros não são considerados na sua equação sobre o poder. Uma lógica que é a antítese da lógica democrática (a da composição argumentada de interesses e de visões acerca do interesse geral), que representa um conceito absolutista do poder e uma radical falta de respeito por quem se situa fora da órbita da sua própria vontade. Isto significa que só a força poderá impedi-lo de impor a sua vontade, o que não é simples visto tratar-se do mais poderoso país do mundo. Mas a verdade é que esta concepção do poder também é aplicável internamente, ou seja, ela representa total desrespeito pelas instituições democráticas americanas, logo a começar pelo Congresso, pelo poder judicial, pela reserva federal e pelos estados federados. Com factos que, num simples ano de governo, o provam abundantemente. O que é que distingue esta visão da que era representada pelo “Fuehrerprinzip”? Aparentemente nada. Mas na realidade o nacional-socialismo ainda fundava a sua visão numa teoria da raça, a que estava fundamentada no livro de Arthur de Gobineau, nos anos cinquenta do século XIX, “Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas”. Agora não há sequer a preocupação de fundamentar a sua visão política, ancorando-a simplesmente na sua vontade e na sua moralidade (que, como já se viu, por exemplo nos arquivos Epstein, é uma moralidade inatacável). Uma nova versão do “Triunfo da Vontade”. Só lhe falta uma Leni Riefenstahl para um congresso MAGA a realizar em Washington, com Donald Trump a chegar à cidade num avião saído das nuvens, como “deus ex machina” que há-de restaurar o poder da América. Washington como palco de uma peça teatral que poderia ser intitulada precisamente como “Triumph of the Will”. Viu-se como acabou o triunfo da vontade nos anos quarenta do século passado. O que parece resultar de tudo isto é que somente os Estados Unidos, os cidadãos americanos, podem resolver esta gravíssima deriva que começa a resvalar gravemente para fora das fronteiras da própria democracia. Não se deve, em momento algum, esquecer o assalto ao Capitólio, claramente inspirado pelo actual Presidente e, pior ainda, que este mesmo inspirador da inacreditável revolta acabou por ser eleito de novo como Presidente.
6.
O problema é que este caso não é exclusivamente americano pois ele está a traduzir-se em pesadas interferências mundiais (militares e tarifárias), sobretudo pelo que os USA representam mundialmente quer em termos militares quer em termos económicos, para não referir o peso que as plataformas digitais americanas, alinhadas com ele, já têm na configuração da opinião pública mundial (as redes sociais já atingem cerca de dois terços da população mundial). Exemplos deste poder também já não faltam, pelo menos desde a sua eleição em 2016. As suas próprias vitórias eleitorais beneficiaram substantivamente deste poder das plataformas digitais. Mas, sim, é também um problema interno americano e se, internamente, não houver uma rápida e forte reacção dos outros poderes e, sobretudo, do partido democrata o que poderemos vir a ter é uma gigantesca disrupção política nacional e internacional que não se sabe como irá acabar. O exemplo de Trump é alimento suculento para os nostálgicos das ditaduras por esse mundo fora. A América está a deitar no lixo muito daquilo que de bom fez na história, incluindo o seu papel na segunda guerra mundial e na recuperação económica da Europa, com o plano Marshall. E duvido seriamente que o que está a acontecer venha a beneficiá-la. Os estragos desta presidência já são enormes e serão ainda maiores se os americanos não travarem o desvario.
7.
Termino como comecei. A política da era Trump atingiu o mais baixo nível de que há memória. Ela ficou reduzida ao puro exercício da vontade, indiferente ao que é diferente e de uma, mais do que evidente, falsa moralidade. O princípio de que se queres paz prepara-te para a guerra ganhou, com Trump, uma nova dinâmica e uma nova força. Se não tiveres os meios para te defenderes ficarás sempre à disposição dos que os têm e dos que estão prontos a usá-los para imporem unilateralmente a sua própria vontade e os seus interesses. Quando parecia que a União Europeia se deveria rearmar para impor a paz perante a ameaça russa, agora parece que também o deverá fazer para a impor perante a ameaça americana, a ameaça de um aliado de sempre, que tem (ou tinha) a matriz liberal no centro do seu sistema político. Um desvario absolutamente inimaginável. Regressa a teoria de que “Homo homini lupus”, sem que se veja onde está um Leviatão capaz de pôr alguma ordem nesta desordem. E esse Leviatão não será a ONU de Guterres, uma organização em estado de acelerada decomposição. O que parece estar no horizonte é a reposição das esferas de influência a cargo de potências que determinarão o futuro dos povos em função da sua própria vontade e interesses. Será esta geografia política possível num mundo irreversivelmente globalizado? Talvez, desde que entre em acção a diplomacia dessas grandes potências para garantir a autonomia e a segurança das próprias esferas de influência, indiferentes, todavia, ao destino e à autodeterminação dos povos que as integram. Por agora, nem Deus nem povo – apenas ditadores que impõem a sua vontade através da força. Interessante a fórmula usada pelo articulista da “Dissent”, Patrick Iber, no citado artigo, ao referir-se ao futuro da Venezuela: “It is, remember, the Venezuelan people who should decide how Venezuela is governed, and by whom. Not the United States. Not a dictatorship. And certainly not some chimera of the two”. Pois, mas o que parece já estar a acontecer é essa “chimera of the two”. JAS@01-2026
DECLARAÇÃO DE VOTO
Nas Eleições Presidenciais
(Republicação do ARTIGO
com uma NOTA PRÉVIA)
João de Almeida Santos
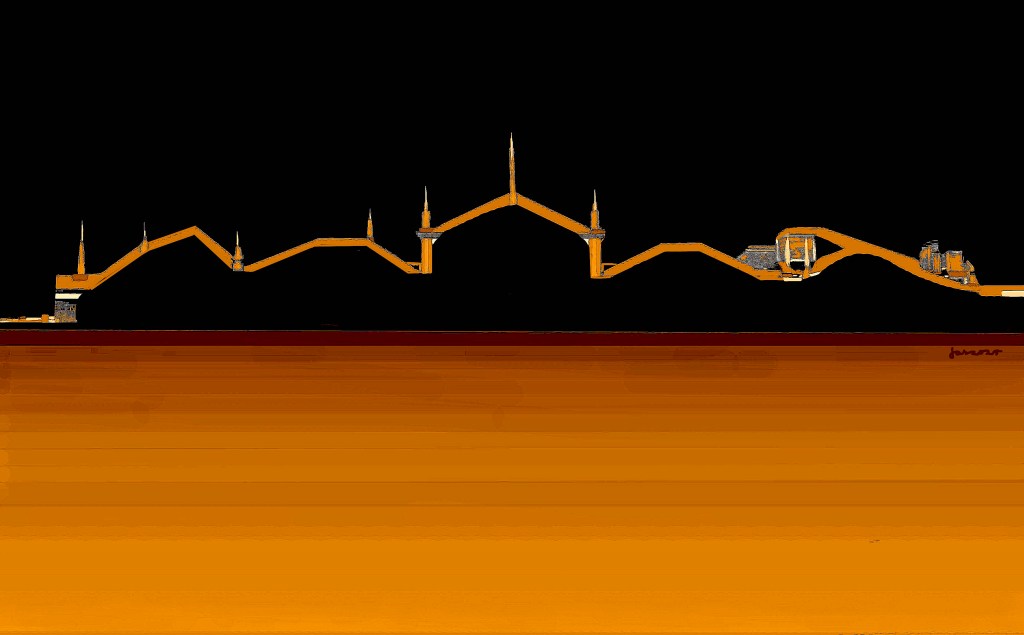
"S/Título". JAS 2026
A QUATRO DIAS de se iniciarem as votações para as presidenciais (voto antecipado), volto a repropor (com ligeiras alterações) o meu artigo de 10 de Dezembro sobre as presidenciais (“Declaração de Voto”), com esta NOTA PRÉVIA, que considero devida. E começo por dizer que a minha decisão relativamente ao próprio acto de votar seria negativa, ou seja, que me recusaria a votar nas presidenciais se o boletim de voto não fosse corrigido, não passassem a constar dele apenas os onze candidatos efectivos. A não ser assim, mantendo-se os 14 nomes no boletim, onde somente 11 deles estão em efectiva disputa eleitoral, do que se trata é de um boletim errado, que até altera a ordem de apresentação das candidaturas (coisa que, como se sabe, não é de pouca importância), induz em erro e, sobretudo, não espelha a realidade em apreciação. O eleitor é chamado a votar num boletim errado, com mais de um quinto dos nomes impressos inválido. O erro, como se sabe, já acontecera nas anteriores eleições presidenciais e a máquina do Estado (responsáveis políticos e administrativos) continuou a agir com incompreensível negligência relativamente a este problema, desqualificando, deste modo, o próprio processo eleitoral. A forma (os procedimentos, neste caso, o meio através do qual o cidadão exerce a sua soberania individual, escolhendo quem o representará) não é coisa de somenos na democracia, tal como não o é no funcionamento do Estado de direito. Não a respeitar escrupulosamente é não respeitar a própria democracia e o próprio Estado de direito. E é este o caso, neste país do “faz-de-conta”, como parece ser cada vez mais o nosso. Eu recusar-me-ia a votar, por protesto contra esta gravíssima negligência, se, ao agir assim, não estivesse a permitir que outros decidissem por mim na escolha do próximo Presidente da República. Por isso, e apenas por isso, colocarei a cruz no candidato que julgo estar em melhores condições para exercer o novo mandato presidencial. E repito o que já aqui disse: votarei no candidato do centro-esquerda, ou seja, em António José Seguro, pelas razões que estão argumentadas no artigo que hoje volto a publicar.
1.
Apesar de considerar que o Presidente da República deveria ser eleito por um colégio eleitoral alargado, como já aqui tive oportunidade de referir e de fundamentar, naturalmente que votarei nas próximas eleições de Janeiro. E o meu voto irá para António José Seguro (AJS). Em primeiro lugar, porque a sua candidatura se inscreve na minha área política, que é a da social-democracia. Depois, porque reconheço que ele dispõe, pelas funções políticas e institucionais que desempenhou, de experiência política suficiente para o desempenho de uma função em que se destaca o poder de dissolução do Parlamento, quase sem limitações (a não ser nos últimos seis meses do mandato e no início da nova Assembleia, também seis meses). Mas também porque julgo ser um candidato democrata, moderado e dotado de bom senso, que é uma característica fundamental para a função. Depois da extravagância expositiva e do activismo dissolutivo que tivemos durante os últimos anos é aconselhável alguma prudência e algum recato e bom senso. E creio que AJS tem as características necessárias para esta mudança.
2.
Mas há uma razão estritamente política que merece ser considerada. AJS ao propor-se como candidato independente (de partidos), obedecendo exclusivamente às suas próprias razões pessoais e ao resistir estoicamente a ataques públicos um pouco indecorosos por parte de uma parte da chamada elite socialista (que, entretanto, se viu obrigada a declarar o seu tímido apoio ao candidato apoiado oficialmente pelo PS), conseguiu manter-se firme, acabar por ficar como candidato único do centro-esquerda e por merecer o apoio público do partido de que foi líder durante três anos, o PS. Só esta razão seria suficiente para lhe dar o meu voto. Certos personagens do PS, tendo desempenhado funções relevantes no partido e no Estado, deveriam sentir-se obrigados a uma certa contenção nas declarações públicas acerca de uma pessoa que desempenhou durante três anos as funções de líder do partido que, ao longo do tempo, lhes foi confiando importantes responsabilidades no Estado. As razões pessoais, que são legítimas, não se devem sobrepor, num caso desta natureza, às razões políticas. Mas, mesmo assim, tendo AJS levado a bom porto a sua candidatura como a única do centro-esquerda também acabou por impor uma derrota a estes intemperados personagens. O voto é livre e secreto, certamente, mas a responsabilidade política pública de certos protagonistas obedece a critérios morais que, neste caso, sendo também políticos, não me parece que tenham sido devidamente considerados. Vieram, agora, a público declarar que apoiam o candidato apoiado pelo PS. Muito bem, era isso que se esperava deles. Mais vale tarde que nunca.
3.
Sim, é verdade que AJS não conseguiu reunir os apoios da esquerda fragmentária que persiste em dar batalha ao centro-esquerda mesmo quando este se pode revelar fundamental para impedir soluções políticas de direita. Acham-no demasiado de direita para os seus gostos políticos e, por isso, talvez prefiram o original em vez da cópia. Coisa, de resto habitual, se exceptuarmos os quatro anos da “geringonça”, que foi construída sobre dois pilares essenciais: não permitir que a direita que ganhou as eleições formasse governo e salvar a pele de António Costa, que, depois de um grave período de austeridade, não só não ganhou as eleições sequer por “poucochinho”, mas perdeu-as, e por muito. Agora, em linha com a clássica orientação, PCP, BLOCO e LIVRE vão disputar a primeira volta e contribuir para que o candidato do centro-esquerda não chegue à segunda volta, abrindo fileiras para que seja a direita a disputar a segunda volta e a ganhar as presidenciais. Dir-se-á que, deste modo, ou seja, mantendo-se distante da esquerda radical, AJS possa vir a obter votos do centro-direita, colmatando as brechas eleitorais que venham a verificar-se no seu próprio espaço político. Pode acontecer, mas, no essencial, tomando em consideração, por um lado, a dimensão eleitoral do PS e a dimensão conjunta de toda a esquerda radical e, por outro, a fragmentação da direita, o mais provável seria que AJS chegasse à segunda volta, podendo disputar efectivamente a presidência. Não sendo assim, e tomando em consideração as sondagens, será mais difícil que o candidato do centro-esquerda chegue à segunda volta, ainda que a última sondagem conhecida (da Pitagórica) o dê à frente na competição eleitoral.
4.
Mais uma vez, a esquerda radical só pensa em usar o período eleitoral da campanha presidencial para se promover e para testar o valor eleitoral de alguns dos seus personagens, pouco lhe importando o desfecho. Só considera a “ética da convicção”, não a “ética da responsabilidade”. Mais, conquistando o bloco da direita a presidência, o seu capital de queixa aumentará, podendo, deste modo, prosseguir melhor o rumo de uma progressiva e inelutável irrelevância política.
5.
O Presidente da República dispõe de poucos poderes, mas dispõe de um que é muito importante: o de poder dissolver o parlamento ainda que haja uma maioria absoluta parlamentar, como se viu, por exemplo, com esta presidência que agora, e felizmente, chega ao fim, com os resultados que conhecemos.
6.
A eleição do Presidente da República é, juntamente com as legislativas e as autárquicas, um dos pilares fundamentais do nosso sistema democrático. E, por isso, e porque dispõe de um poder único no sistema – o de dissolução do Parlamento, sem que haja um instrumento equivalente que também a ele se possa aplicar, como é, por exemplo, o do impeachment –, o seu uso pode produzir profundas alterações no equilíbrio de forças, como se viu com a dissolução decidida em 2023, que levaria o PSD ao poder, depois de uma breve maioria absoluta do PS. Uma dissolução que tem muito que se lhe diga, designadamente pelo facto de o PS a ter aceite passivamente, sem que os seus órgãos electivos se tenham pronunciado e reivindicado energicamente o direito de o PS continuar a governar, embora com outro primeiro-ministro. É conhecida, em parte, a mecânica insólita deste processo e o resultado a que ele levou. E nem sequer parece ser difícil, para já, tirar dele algumas, e preocupantes, ilações. Até por isso, julgo ter fundadas razões para votar em António José Seguro. É apenas um voto, em urna, mas aqui de novo publicamente argumentado e justificado. JAS@01-2026
2025
João de Almeida Santos
"S/Título" - JAS 2025
A POLÍTICA
Há quinze dias, publiquei aqui um pequeno ensaio sobre a crise da política, onde, no essencial, dizia que a política está hoje reduzida a mero exercício do poder e, este, a puro uso da força, seja ela militar, económica ou tecnológica. Pois o regresso ao poder de Trump, neste ano de 2025, pode muito bem representar a consagração mundial desta lógica, considerando o impacto da política dos Estados Unidos em todo o mundo. Não foi por acaso que o americano Nobel da economia, Joseph Stiglitz, em artigo no “Le Monde”, considerou o regresso de Trump como um “ingrediente particularmente tóxico” (28/29.12.2025, p. 20). Sem dúvida.
O DECISIONISMO
No mundo já temos, segundo V-Dem (ISCTE-CEI), mais autocracias (91) do que democracias (88) e a chegada ao poder da direita radical nos países de democracia representativa, como é o caso, precisamente, dos USA ou da Argentina e do Chile e, na Europa, da Itália ou da Hungria, representa, em geral, uma regressão democrática que se exprime através de um forte decisionismo centrado no poder dos executivos e no controlo férreo dos outros poderes institucionais e dos meios de informação. Uma alteração profunda dos mecanismos do sistema representativo que remontam a Montesquieu, à Primeira Emenda da constituição americana e à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ambas de 1791. Ou seja, uma alteração profunda da matriz liberal da nossa civilização. É uma evidência difícil de refutar.
TRUMP
Com Trump, consequentemente, está a verificar-se uma autêntica ruptura no chamado “mundo ocidental”, naquele cuja união permitiu vencer a segunda guerra mundial. A conversa da anexação do Canadá ou da Gronelândia diz tudo, ainda que possa parecer pura fanfarronice. Afinal, trata-se de parceiros e aliados, não de inimigos. Os USA são hoje controlados politicamente por uma direita radical que tem como seu ponta de lança um personagem totalmente atípico, egocêntrico e imprevisível, próprio para uma deriva que desqualifica radicalmente a própria política e a democracia. A ideia de pós-verdade e de que se pode dizer tudo e o contrário de tudo já está para além do próprio discurso clássico das ditaduras, que ainda se preocupavam em procurar consenso em torno de ideais com alguma base histórica. Mas o que se passa hoje nos Estados Unidos é algo absolutamente impensável para o mais poderoso país do mundo e que, para muitos, era visto precisamente como o modelo ideal de democracia. O partido democrata americano parece ter entrado em letargia profunda à espera que chegue a primavera e, por cá, na Europa, já muitos defendem que é preciso dizer um rotundo “não” ao senhor Trump e aos próceres do MAGA, mostrando-lhes que o mundo não é uma mera projecção do seu doentio ego, nem sequer dos Estados Unidos, por mais poderosos que sejam. A fúria em pôr o seu nome em tudo o que mexe está a atingir níveis absolutamente inacreditáveis e que mancham a honorabilidade institucional dos Estados Unidos. O respeito pelos seus predecessores na Casa Branca desapareceu. 2025 foi, pois, profunda e negativamente marcado pelo regresso ao poder deste senhor. O preço a pagar será elevadíssimo, apesar de já ter havido processos de impeachment por muito menos. Mas a mudança tem causas profundas e talvez obedeça à dialéctica dos ciclos históricos. E, todavia, ela poderia ser relativamente pilotada se houvesse, nas mais influentes democracias mundiais, incluída a americana, protagonistas à altura do desafio e capazes de dar luta. Até o Brasil puniu judicialmente Bolsonaro pela tentativa de golpe, coisa que os americanos foram incapazes de fazer, aquando da invasão do Capitólio pelos seguidores de Trump. Bem pelo contrário, elegeram-no de novo Presidente. Mas talvez também essa carência de protagonistas com gravitas faça parte do próprio ciclo regressivo que estamos a viver. A verdade é que o que está a acontecer acaba por dar razão àqueles radicais que sempre consideraram os Estados Unidos como uma espécie de império do mal. E não só. Ao lado de Trump, Xi Jinping parece elevar-se como um modelo de acção política institucional. Quem poderia prever tais mudanças?
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
Por cá, em Portugal, este foi um ano de eleições, praticamente três, se considerarmos que a campanha eleitoral presidencial ocorreu quase toda neste ano (as eleições presidenciais serão no dia 18 de Janeiro, com a segunda volta no início de Fevereiro). Aliás, andamos nisto há quase dois anos, para consolo das televisões e das audiências. Não se tem falado de outra coisa. Um teatro que já enjoa. Um excesso para tão exíguas competências (excepto a do poder de dissolução). Um processo que promove publicamente muitos protagonistas de papel. Pouco ajustados à função. A democracia precisa de gravitas, de seriedade e de dignidade ritual, que não existe neste processo. Quem perde é a figura institucional do Presidente, a dignidade da função e a própria democracia. Se é verdade que o actual PR pouco contribuiu para dar densidade ou gravitas à função presidencial, este longuíssimo cortejo de personagens sem consequência ainda a degrada mais. Mas é o que temos. É por isso que eu defendo que o PR deveria ser eleito por um colégio eleitoral alargado. Ainda por cima, surge agora este episódio inacreditável dos boletins de voto com candidatos que, afinal, não o são (veja a Nota no final do artigo).
A DIREITA
As legislativas de Maio aconteceram, mas nunca deveriam ter acontecido e as autárquicas vieram confirmar a queda aparatosa do PS (terceiro partido no parlamento), ainda que em menor grau do que nas legislativas. A direita tem hoje em Portugal uma confortável maioria absoluta, politicamente ziguezagueante, é certo, mas tem. Só lhe falta conseguir de novo a Presidência da República. Quando tudo conseguir só lhe faltará alinhar descaradamente com a idiossincrasia trumpiana, em homenagem ao tão celebrado eixo atlântico. Personagens que o queiram fazer não faltam por aí. Até porque a regressão europeia também já aponta claramente nesse sentido. E é precisamente esta regressão em larga escala que me faz pensar numa viragem epocal da política.
THE ECONOMIST
Parece que “The Economist” classificou Portugal em primeiro lugar mundial (dentre os 36 países mais ricos do mundo) na performance económica (“A Economia do Ano”) segundo uns certos critérios: crescimento do PIB, desemprego, inflação e comportamento da bolsa. Se cá não vivesse ficava impressionado com tanto sucesso deste nosso tão pequenino país. Como vivo cá, também fico impressionado pelo teor da notícia e pergunto-me seriamente se o governo português financiou (ou não) o estudo da revista “The Economist”. Fatia importante no crescimento do PIB é atribuída ao turismo, um sector economicamente muito instável e frágil. E fala-se de impostos atractivos para os estrangeiros… mas não para os nacionais. Querem um exemplo? Os portugueses, para aquecerem as casas onde vivem, pagam 23% de IVA. Que digam os do interior e das zonas altas o que isso representa no seu orçamento familiar. Uma voracidade fiscal polimórfica insuportável. E fala-se de inflação, o que me provoca espanto perante as evidências que se impõem a quem vai às compras ou a quem recorre a serviços (quando os consegue encontrar). E também se fala, imagine-se, da bolsa de valores portuguesa e da sua excepcional performance. Quais London Stock Exchange, qual Dow Jones, qual Bolsa de Milão ou de Frankfurt, qual Nasdaq! Nada disso – bolsa de valores de Lisboa! Esta, sim, para os da “The Economist”. Tudo muito compreensível, até porque a macroeconomia é hoje um verdejante pasto para as políticas de fachada, alimentando o discurso de uma classe política que mais nada tem para dizer. A ponto de, por cá, até dizer que se os portugueses no concreto sofrem dificuldades no seu dia-a-dia, os dados macroeconómicos são excelentes, incluída a bolsa de valores, pelo menos para a “The Economist”. Na macroeconomia há operações para todos os gostos, como parece ser a que fez esta revista, podendo os números ser alegremente torturados até dizerem o que nós queremos.
LEÃO XIV
Também tivemos, em 2025, a eleição de um novo Papa, depois da experiência do popular Papa Bergoglio, “Francisco”. O novo Papa assumiu o nome de Leão IV, sabendo-se que Leão XIII ficou famoso pela célebre “Rerum Novarum”, a magna carta social dos católicos. Um sinal? O que parece ser certo é que houve com o novo Papa uma inversão de rota relativamente à que ia sendo introduzida pelo Papa Francisco. A recuperação do Palácio Apostólico como residência papal é disso sinal, como também o são outros sinais, por exemplo, o crucifixo que traz ao peito, diferente do que o anterior pontífice exibia, de prata. Em geral, a recuperação da clássica simbologia papal. Parece pouco, mas na simbologia usada pelos papas muito se pode saber acerca das suas posições nas matérias fundamentais. As religiões, afinal, vivem disso mesmo, de sinais.
UCRÂNIA
Continua a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Fará 4 anos no próximo Fevereiro e julgo interessante lembrar que o senhor Putin pensava que numa semana se apoderaria deste país com 44 milhões de habitantes e com uma extensão equivalente à de França e da Alemanha juntas. Não se sabe como irá terminar, mas provavelmente alguns territórios passarão a ser russos. Não bastava a Putin ser a Rússia o maior país do mundo em extensão territorial, que ainda teve de roubar mais uns territórios à Ucrânia (embora se trate da conquista de um corredor directo russo para o Mar Negro). O que, todavia, se espera é que a guerra convencional em curso não evolua para a dimensão nuclear, como parece ser desejado por alguns lunáticos russos, como o senhor Karagánov ou o papagaio de serviço Medvedev. Entretanto, a posição do senhor Trump continua a ser, neste aspecto, muito ambígua, variando com o vento (e com os seus gigantescos interesses pessoais). Tal como em relação à Venezuela: primeiro era só o combate ao narcotráfico, agora é também a reivindicação do direito a controlar o petróleo venezuelano, não se sabendo se continua interessado em construir a famosa Riviera na Faixa de Gaza. Tudo coisas mais próprias de um programa televisivo como o “The Apprentice” do que de política internacional.
O NOBEL DA PAZ
O Nobel da Paz foi entregue este ano à líder oposicionista venezuelana María Corina Machado. A oposição liderada por ela, de acordo com fontes credíveis internacionais, ganhou as últimas eleições presidenciais. Ela sempre foi perseguida pelo regime de Maduro. Regime que está apoiado nos militares. Muitas fontes referem que as forças armadas venezuelanas têm dois mil generais e que os militares ocupam parte importante da administração do Estado. Este Nobel vem valorizar o papel das eleições no destino das democracias e tem como fundo implícito que a oposição venezuelana ganhou efectivamente as eleições. Tem, pois, também o valor de uma crítica ao regime de Maduro. Um regime que gere um país em situação de descalabro e de uma gigantesca emigração, cerca de 8 milhões de pessoas, 25% da população da Venezuela, por falta de condições para a sobrevivência, num país que tem, ao que parece, a maior reserva natural de petróleo do mundo, mas que se revelou incapaz de a explorar convenientemente. Isto bem o sabe o senhor Trump, que aspira, entre tantas outras coisas, ao Nobel da Paz e que quer tomar conta dessa imensa riqueza, como em parte acontecia (através da Standard Oil e da Mobil) antes da sua nacionalização.
CONCLUSÃO
Não são, pois, tempos grandiosos os que estamos a viver. E o que se espera é que 2026 não venha piorar o que já não está bem. É sempre bom lembrar que a Europa viveu no século XX duas guerras mundiais, com mais de 60 milhões de mortos, e um tenebroso período de 30 anos. Depois, seguiu-se um período de 80 anos de paz, avanço social e progresso. A União Europeia, dando sequência ao processo iniciado, depois da primeira grande guerra, com a “Sociedade das Nações”, foi uma resposta de paz a este período tão conturbado da história mundial e, em particular, da história da Europa. Não foi por acaso que se chamou, no início, em 1952, “Comunidade Europeia do Carvão e do Aço”. Mas agora está sob forte ataque, depois de ter conseguido avanços dignos de um registo especial na história da humanidade. A própria democracia, que regista ainda uma história muito curta, igual à do próprio sufrágio universal, encontra-se numa fase claramente regressiva. São menos as democracias do que os regimes autocráticos. E por isso mesmo a defesa dos ideais democráticos parece dever ser posta, de novo, no topo da agenda pública, sem deixarmos de reconhecer que a gestão das democracias (o mais difícil, justo e delicado dos regimes políticos) se revelou insuficiente, com os partidos da alternância a instalarem-se cómoda e displicentemente nos generosos braços do Estado, e que ela só pode ser defendida se colocarmos no topo da agenda aquelas a que Norberto Bobbio, em “O Futuro da Democracia”, chamou “promessas não cumpridas da democracia”: a soberania do indivíduo, o primado do interesse geral, a derrota das oligarquias, o alargamento do espaço democrático, a eliminação do poder invisível, a educação do cidadão. Pois o que agora temos perante nós é precisamente a desforra das corporações e das oligarquias sobre o indivíduo singular, o triunfo do poder invisível e sem “accountability”, a imposição do interesse privado sobre o interesse geral, a pós-verdade como intoxicação da informação e da educação do cidadão. É isto que é preciso derrotar nesta fase da história da democracia.
NOTA SOBRE AS PRESIDENCIAIS
Sobre o recentíssimo e gravíssimo episódio dos boletins de voto com candidatos (três) inseridos no boletim sem serem efectivamente candidatos, só há uma coisa a fazer: corrigir os boletins de voto, para que o cidadão não seja chamado a exercer a sua soberania sobre um documento falso. Não importa agora falar da incompetência de quem não soube prever os tempos de decisão e o respectivo calendário, pois há um valor superior que se sobrepõe a tudo: o da correcta relação entre o cidadão e o Estado, naquele que é o momento decisivo da renovação do contrato entre ambos. JAS@12-2025
NOVOS FRAGMENTOS (XXIV)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
"Chakra". JAS 2025
1.
Nella mia poesia “Catarsi”, con l’illustrazione “Profilo di un Poeta”, si tratta, infatti, di un dialogo con chi non c’è più, rispondevo così ad una mia cara Amica fiorentina, Laura. Ma è anche un tentativo di far rinascere ciò che sembra perduto, ho aggiunto. Una voce inaudibile che diventa, sì, “musica nell’anima”, come diceva lei. Il miracolo della poesia.
2.
A ilustração do poema “Catarse” até poderia ter sido um rosto feminino, mas preferi o perfil de um poeta (que é vagamente o de quem escreve) porque é dele a catarse. A poesia tem sempre essa dimensão catártica, mas também se eleva sobre ela porque procura, na fase apolínea, aproximar-se do belo, quer através da cenografia e da coreografia semânticas quer através da música. A poesia também é um bailado de palavras em palco intangível que não precisa de uma orquestra exterior. A música reside nelas, nas palavras, que são notas musicais. É por isso que a poesia é difícil. O poeta não só é cenógrafo, coreógrafo e “narrador”, mas também é compositor. Tem de ter bom ouvido, glosando a Szymborska. Tem de ser polivalente, além de sentir, em si, o pulsar da (sua) vida. Depois tudo acontece no palco da poesia perante aqueles que a partilham.
3.
Purificação, mas também redenção – é o que acontece na poesia. O poeta precisa, para poetar, de movimento emocional directo ou do fervilhar intenso da memória afectiva. Inquietação. A poesia não existe sem ela. E sem ela, será mera retórica poética, mero virtuosismo linguístico, mero divertissement. A poesia é mais, é “pathos”. Começa assim e procede, depois, com o desenvolvimento espiritual, apolíneo. É então que acontece a purificação e a redenção. No fim, ela passa a ser partilhável, na semântica e na estética, na beleza, que, na poesia, é altamente performativa. Na poesia o “pathos” subsiste estilizado. Há sentido e há música. Há cenografia e coreografia nesse bailado de palavras.
4.
O milagre da poesia desenvolve-se no interior de um processo que começa no sentir e, depois, evolui para o plano espiritual, sem que haja um corte com a génese. O poema não é fuga (Szymborska), mas metabolização espiritual do sentimento, que persiste.
5.
A poesia é, pois, catártica. E a leveza é uma sua característica fundamental. A catarse acontece no processo de levitação (poética). A poesia acrescenta vida à vida, como, em geral, acontece com a arte. Ela, enquanto arte, tem vida própria e não tem uma função instrumental. É a inspiração que a sustenta. No momento da composição há como que um “corte” com aquilo que lhe está na origem porque entram no processo exigências estéticas próprias – é o momento apolíneo. Mas não é um corte propriamente dito, porque o “pathos” persiste. E também não é fuga. A dor prolonga-se no exercício poético. E no próprio processo compositivo até acontecem as dores do “parto”. Que são dores diferentes da que deram origem ao poema. Glosando Calvino, privação sofrida, levitação desejada. No fim, o poeta sente-se mais leve e mais livre. A dor transformou-se pela verbalização e pela estilização.
6.
Paixão, amor, pulsão irresistível, tudo gerado por esses seios generosos a que se refere o poema “Os Seios” e que estão retratados na pintura, de minha autoria, “Mulher”. A presença remota dos seios maternos na fantasia do poeta? Tudo se mistura numa poética dos seios. Mulher fatal que se impôs à atenção do poeta? Não sei. Há no poema um pouco de tudo. Alusões e indefinição. A imagem ajuda. Sensualidade? Também, claro. O poeta terá visto algo que o fez estremecer – seios generosos que o fizeram regressar à infância? Ou lhe despertaram a libido a um ponto de não retorno? Uma autêntica fixação que o obrigou a recorrer à poesia para dela se libertar? O desejado, mas inacessível? Uma luz intensa que o encandeou? Há estímulos sensoriais que provocam estremecimento. E a arte em torno dos seios corresponde ao poder que eles exercem sobre a sensibilidade do poeta. Eu creio que este poema procura percorrer todo o espectro semântico que a beleza de uns seios pode gerar – da figura maternal à paixão sensual.
7.
“Em pose / De maternal / Sedução”, diz o poeta. E mais diz: “Criança perdida /No mundo, /Náufrago /Em alto mar… “. Mas também, “et pour cause”, intensa sensualidade nos seios daquela mulher (no referido poema). É a história de uma atracção fatal centrada nos seios de uma mulher. Tão importante que o poeta/pintor os pintou. Todos sabemos que os seios têm uma carga sensual profunda e remota porque aludem ao início da vida, ao momento maternal. É disso que o poema fala.
8.
O que diz Wislawa Szymborska:
- a) “Seria belo e justo se bastasse a força dos sentimentos para decidir do valor artístico da poesia. Se assim fosse teríamos a certeza de que Petrarca é uma nulidade em comparação com um rapazolas (…) perdido de amores, enquanto Petrarca conseguiu manter-se numa condição nervosa propícia para a invenção de belas metáforas”.
- b) “Cada poeta conserva em si a tentação de dizer tudo numa poesia”.
- d) “A poesia não é para eles (poetas) recriação e fuga da vida, mas a própria vida”.
- e) ”O poeta lírico escreve prevalecentemente sobre (a partir de) si próprio”
- f) “A poesia, apesar de se ocupar de temas eternos como o encanto da primavera ou a tristeza outonal, deve sempre fazê-lo como se fosse a primeira vez”.
- g) “Desde que o mundo é mundo, nunca houve um (poeta) que contasse as sílabas com os dedos. O poeta nasce com os ouvidos”.
- h) “A poesia (…) foi e será um jogo, e não há jogos sem regras”.
- i) “A melhor poesia é a que não tem título (…)”. “…em cada poesia o que conta verdadeiramente é a impressão de que aquelas palavras, e não outras, estiveram séculos à espera de se encontrarem e unirem numa totalidade indivisível”.
- j) “o talento não se limita à ‘inspiração’ ”.
- l) “Não há professores de poesia”
- m) “… também o poeta, se for um verdadeiro poeta, deve repetir continuamente a si próprio: ‘não sei’ ” (Szymborska, 2009: 973-995, 1000, 1040, 1043).
9.
Sublinho, destas frases, que constam da obra desta poetisa (Opere, Milano: Adelphi, 2009, 2.ª edição), as seguintes ideias:
- Não basta sentir para poetar. O passo seguinte é de natureza espiritual.
- O poeta tem a tentação de dizer tudo num só poema. Dizer tudo com o mínimo, como se as poucas palavras que usa chegassem ao palco poético pela primeira vez.
- A poesia não é recriação nem fuga da vida, mas a própria vida. O compromisso estético é com a vida.
- O poeta escreve (sobretudo) a partir da sua própria experiência, mas com pretensões de se elevar à universalidade e de provocar a partilha.
- Mesmo quando escreve sobre o mesmo o poeta deve sempre fazê-lo como se fosse a primeira vez.
- A poesia tem regras, mas não é prisioneira delas. Ela aspira sempre à reinvenção.
- O talento não se limita à inspiração – requer muito trabalho e paciência.
- Na poesia as palavras (finalmente) encontram-se numa unidade expressiva como se estivessem a esperar por isso há muito tempo.
- O poeta deve conservar-se sempre num estado de ignorância expectante.
O exercício poético deve observar estes princípios se quiser atingir resultados verdadeiramente poéticos. É isso que parece querer dizer a poetisa polaca Wislawa Szymborska, prémio Nobel da literatura, em 1996.
10.
Com Szymborska, mais um passo para chegar às variáveis que integram o processo poético, tal como eu o entendo, mas em boas companhias. JAS@12-2025
REFLEXÕES SOBRE A CRISE DA POLÍTICA
João de Almeida Santos
"S/Título" - JAS 2025
1.
GIAMBATTISTA VICO (1668-1744), um polivalente intelectual italiano, formulou na sua principal obra (Scienza Nuova, 1744)a teoria que viria a ser conhecida como a dos “corsi e ricorsi” que enquadra a evolução histórica das sociedades numa lógica cíclica entre fases progressivas e fases regressivas, sendo estas conhecidas como o regresso da barbárie, mas pior do que a barbárie originária. Lembrei-me de Vico quando decidi escrever este artigo sobre a crise da política porque considero que, infelizmente, estamos a viver precisamente uma fase regressiva da história contemporânea.
2.
Ou seja, as democracias representativas, que se foram impondo historicamente com o seu património de direitos, de liberdade, de pluralismo, de progressiva igualdade e de promoção pública de bens sociais (sobretudo no chamado mundo ocidental), entraram numa fase regressiva, dando lugar a uma retracção democrática que encontra expressão privilegiada na redução da política ao puro exercício do poder e deste ao exercício da força (militar, económica e tecnológica). O que se está a passar nos Estados Unidos, com a presidência Trump e o MAGA, é exemplar e dá uma ideia muito clara disto – soberanismo americano exacerbado e impositivo, ameaças de intervenção militar ou de anexação (Venezuela, Canadá, Gronelândia), imposição arbitrária de tarifas a todo o mundo, ataque directo à União Europeia no recente documento de estratégia de segurança nacional, xenofobia levada ao extremo e alinhamento político com os defensores de políticas autocráticas. Mas também o outro polo mais poderoso do mundo, o da China, se mantém com uma sólida ditadura, ao mesmo tempo que a Rússia de Putin se tem vindo a reforçar como Estado autocrático em clara contraposição com a tradição ocidental (a que, em parte, ela pertence), de resto, considerada pelo Kremlin e pelos seus ideólogos eslavófilos como estando em fase de progressiva decadência. E inimigo a abater.
3.
Depois, no outro polo do poder, a União Europeia, têm ganhado progressivo protagonismo as forças da direita radical, que já governam alguns países, que fazem parte dos governos de outros e que poderão vir, em breve, a conquistar o poder noutros ainda. Forças políticas que se inscrevem na lógica de um decisionismo político soberanista pouco compatível com a natureza da democracia representativa e com a lógica tendencialmente federal para que apontava a União Europeia, nas visões mais avançadas. Cito, a título de exemplo, em primeiro lugar, a Itália e a Hungria, em segundo lugar, a Suécia, a Finlândia, a Eslováquia e a Croácia e, finalmente, o Reino Unido e a França. Não é coisa de somenos.
4.
Se dermos uma volta pelas sondagens mais recentes nos principais países europeus verificamos que, na Alemanha, o primeiro partido já é o Alternative fuer Deutschland, com 26% (mas a cerca de um ponto da CDU/CSU); no Reino Unido e na média das várias sondagens o Reform UK, de N. Farage, já está 9 pontos acima do segundo maior partido (com previsão de maioria absoluta na Câmara dos Comuns), o Labour; na França, para as presidenciais, o seguro vencedor da primeira volta será Jordan Bardella ou Marine le Pen (se puder candidatar-se) com cerca de 34%, podendo vir a vencer a segunda volta, por exemplo, contra Édouard Philippe, do centro-direita, ou Raphael Glucksmann, do centro-esquerda.
5.
Com uma União Europeia em crise, nas várias frentes – desde as actuais lideranças até a um modelo de gestão política inócua exercida por personalidades que mais parece serem meros altos funcionários da União, mas também pelo atraso que se está a verificar no plano da tecnologia, sem plataformas digitais ou agências de rating dignas de nota, e apenas concentrando a sua acção numa política regulatória que tem punido fortemente os gigantes tecnológicos americanos (por exemplo, a Google recentemente punida com quase 3.000 milhões de euros por abuso de posição dominante em publicidade) e que tem dado origem a forte contraposição com as autoridades americanas -, se nela se vierem a impor de forma significativa os protagonistas da direita radical, alinhados, no essencial, com a linha trumpiana, ela acabará por ficar reduzida ao mínimo denominador comum e subordinada exclusivamente aos interesses nacionais dos mais poderosos países da União (Alemanha, França, Itália), numa claríssima regressão funcionalista cada vez mais distante da perspectiva federalista ou constitucionalista, que animava os maiores e melhores defensores de uma Europa política. Na verdade, o que hoje se está a verificar é um ataque concentrado à União Europeia, com vista à sua fragmentação ou mesmo ao seu desaparecimento. Ataque proveniente de leste (a Rússia), de oeste (os USA de Trump) e de dentro (a direita radical), todos numa preocupante convergência.
6.
A ideia de uma União em decadência conheceu recentemente um avanço no documento sobre a estratégia de segurança nacional americana e pode ser reconhecida nesta passagem do documento: “But this economic decline (da Europa) is eclipsed by the real and more stark prospect of civilizational erasure”. Apagamento ou erosão civilizacional que se deve à acção da União Europeia e de outros organismos transnacionais, que minam a liberdade política e a soberania, a políticas migratórias disruptivas, à censura da liberdade de expressão, à supressão da oposição política, à queda das taxas de natalidade e à perda das identidades nacionais e da autoconfiança (TheWH, 2025: 25). Neste aspecto, embora num contexto discursivo diferente (os Estados Unidos não querem acabar com a Europa – digo, Europa, não União Europeia -, mas salvá-la), a posição exposta no documento não difere muito das posições (muito mais radicais) do ideólogo A. Dugin (veja-se Santos, 2024: 92-94) ou de Sergey Karagánov (*), um influente intelectual russo, e da de muitos teóricos europeus, num filão que remonta a Oswald Spengler, ao seu “A Decadência do Ocidente” (1923), tão apreciado por Mussolini, e que no essencial identificam a actual Europa precisamente como estando em situação de decadência. Vejamos o que diz Karagánov:
“Em condições de decadência moral e política da Europa (ou desse ocidente que “provocou a guerra na Ucrânia”), é necessário começar a siberização o mais depressa possível”-
Mas vale a pena continuar a ler o que diz Karagánov:
“Recordo o óbvio, mas que normalmente nos tem sido ocultado: a Europa é o centro de todos os principais males da humanidade, duas guerras mundiais, inúmeros genocídios, colonialismo, racismo e muitos outros ‘ismos’ repugnantes. Nos últimos anos, o totalitarismo liberal, misturado com o transhumanismo, o lgbtismo, a negação da história e, na essência, a antihumanidade”.
Sem mencionar os seus exageros alucinados relativos ao uso do nuclear, ele sublinha a necessidade de dissolução da União Europeia a par de uma viragem decisiva para Oriente, para a “terra prometida” da Sibéria, para a “siberização da Rússia” (Karagánov, 2025). Mais palavras para quê?
7.
Para o filão conservador americano MAGA, para os eslavófilos radicais, como Karagánov ou Dugin, e para a direita radical europeia a União Europeia representa um enorme obstáculo para a implementação de uma política de redução dos direitos de cidadania e do Estado Social e da afirmação do soberanismo assente num nacionalismo serôdio em contraste com uma globalização que, já não sendo possível travar, pode, todavia, ser pilotada e exclusivamente dominada pelas nações mundialmente mais fortes. A União Europeia, tal como ainda é, representa um obstáculo consistente a esta estratégia de confinamento do mundo em “zonas de influência” controladas por países geridos por sistemas autocráticose não só como soft power, de que ainda dispõe, mas também pela sua economia, a terceira mundialmente maior, pela importante quota detida no comércio mundial (só inferior à da China) e pelo poder internacional do próprio euro, hoje a segunda moeda mais forte nas transações internacionais e enquanto reserva mundial de capital.
8.
Neste processo, o que se nota é uma clara exaustão, a nível nacional e comunitário, quer do centro-direita quer do centro-esquerda, que, por um lado, se deixaram adormecer nos braços do modelo social europeu, numa política essencialmente redistributiva e numa prática de alternância governativa sustentada numa insistente dialéctica endogâmica; e que, por outro lado, se deixaram infiltrar por um incomportável maximalismo de direitos com a chancela do politicamente correcto e de um suave, mas difuso, wokismo identitário, como se eles pudessem colmatar a pobreza política e ideológica dos partidos da alternância governativa, alapados comodamente na imensa e generosa máquina do poder estatal. De resto, tem sido esta pobreza ideológica e esta gestão asséptica e sem alma do poder, contaminada gravemente pela ideologia identitária dos novos direitos, que tem servido de alimento essencial à direita radical e permitido um seu enorme crescimento eleitoral.
9.
Por outro lado, esta direita radical em crescimento tem-se afirmado com um projecto cada vez mais claro de exercício do poder: soberanismo, decisionismo político (de que é exemplo o famoso premierato da senhora Giorgia Meloni), políticas anti-imigração, duro combate ao construtivismo social e defesa da componente orgânica natural dos processos sociais e humanos, ataque frontal ao identitarismo da esquerda dos novos direitos e à sua infiltração nas instituições nacionais e internacionais, drástica redução da separação dos poderes a favor do poder executivo (decisionismo exacerbado), minimalismo da União Europeia e alinhamento com as tendências autocráticas dos principais polarizadores políticos internacionais, a começar pelos USA de Trump.
10.
O que se tem visto é que estas linhas de orientação têm dado bons resultados eleitorais, têm alimentado o seu crescimento e têm constituído a âncora deste processo regressivo, que se espera não venha a ter consequências equivalentes ou piores (Deus nos livre dos Karagánov que por lá, pela Rússia, pululam) do que as que se verificaram nos trinta anos regressivos do século XX (1914-1945).
11.
Como reagir a estas tendências em nome da democracia e da União Europeia – é o desafio que se põe. Precisamos de lideranças à altura, que é o que não temos neste momento na União; a este respeito, é muito sintomático que o “Politico Europe”, 12/2025, pp. 17-47, não inclua nos 28 mais influentes na Europa o Presidente do Conselho Europeu, o português António Costa. Precisamos de dotar a União de uma estrutura política de vértice robusta e legítima que esteja em condições de tomar decisões políticas sustentadas e avançadas e não de agir exclusivamente de acordo com a lógica e os protagonistas das diplomacias nacionais, contra o poder das quais se bateu energicamente Altiero Spinelli. E precisamos de uma profunda renovação da política em vez de continuarmos a agir como se vivêssemos em período de normalidade democrática. Precisamos de um sobressalto cívico da cidadania e não da polarização da atenção social para assuntos política e socialmente irrelevantes e desviantes ou de uma política que apenas funcione por inércia, por incapacidade das classes dirigentes dos países que integram a União. E precisamos de visão para dotar a União de instrumentos de desenvolvimento e de defesa próprios para salvar aquela que ainda é uma forte posição na geopolítica e na economia mundial e que reforcem e revigorem aquela que foi uma sua importante característica na política mundial: o seu soft power e o poder de influência modelar sobre os países em desenvolvimento.
12.
O problema é que isto chegou a um tal ponto crítico que até mais parece que devamos deixar exaurir este processo regressivo para que se verifique uma “destruição criativa” (para usar este curioso conceito da economia) em condições de dar início a uma nova fase progressiva, exactamente como nos sugere a filosofia da história do Giambattista Vico. Mas esta seria uma infeliz esperança que aconteceria no meio e longas e irreparáveis perdas até que uma nova fase de progresso chegasse. Vivemos tempos de difícil composição entre o pessimismo da razão e o optimismo da vontade.
Nota e Referências
* Doutor em História, foi Conselheiro de Yeltsin e de Putin, amigo de Lavrov, professor e director científico da Faculdade de Economia Mundial e Política Mundial da Universidade Nacional de Investigação Económica, presidente honorário do Conselho de Política Externa e de Defesa.
1. Karagánov, S., 2025, “Europa: Uma Despedida Cruel”. In: https://sociologiacritica.es/2025/09/04/una-mala-ruptura-con-europa-sergei-karaganov/.
2. The White House, “National Security Strategy”, November, 2025.
3. Santos, J. A. (2024). Política e Ideologia na Era do Algoritmo. S. João do Estoril: ACA Edições. JAS@12-2025
DECLARAÇÃO DE VOTO
Nas Eleições Presidenciais
João de Almeida Santos
"S/Título". JAS 2025
1.
APESAR DE CONSIDERAR que o Presidente da República deveria ser eleito por um colégio eleitoral alargado, como já aqui tive oportunidade de referir e de fundamentar, naturalmente que votarei nas próximas eleições de Janeiro. E o meu voto irá para António José Seguro (AJS). Em primeiro lugar, porque a sua candidatura se inscreve na minha área política, que é a da social-democracia. Depois, porque reconheço que ele dispõe, pelas funções políticas e institucionais que desempenhou, de experiência política suficiente para o desempenho de uma função em que se destaca o poder de dissolução do Parlamento, quase sem limitações (a não ser nos últimos seis meses do mandato e no início de uma nova Assembleia, também seis meses). Mas também porque julgo ser um candidato democrata, moderado e dotado de bom senso, que é uma característica fundamental para a função. Depois da extravagância expositiva e do activismo dissolutivo que tivemos durante os últimos anos é aconselhável alguma prudência e algum recato e bom senso. E creio que AJS tem as características necessárias para esta mudança.
2.
Mas há uma razão estritamente política que merece ser considerada. AJS ao propor-se como candidato independente (de partidos), obedecendo exclusivamente às suas próprias razões pessoais e ao resistir estoicamente a ataques públicos um pouco indecorosos por parte de uma parte da chamada elite socialista, conseguiu manter-se firme, acabar por ficar como candidato único do centro-esquerda e por merecer o apoio público do PS. Só esta razão seria suficiente para lhe dar o meu voto. Certos personagens do PS, tendo desempenhado funções relevantes no partido e no Estado, deveriam sentir-se obrigados a uma certa contenção nas declarações públicas acerca de uma pessoa que desempenhou durante três anos as funções de líder do partido que, ao longo do tempo, lhes foi confiando importantes responsabilidades no Estado. As razões pessoais, que são legítimas, não se devem sobrepor, num caso desta natureza, às razões políticas. Mas, mesmo assim, tendo AJS levado a bom porto a sua candidatura como a única do centro-esquerda também acabou por impor uma derrota a estes intemperados personagens. O voto é livre e secreto, certamente, mas a responsabilidade política de certos protagonistas obedece a critérios morais que, neste caso, sendo também políticos, não me parece que tenham sido devidamente considerados.
3.
Sim, é verdade que AJS não conseguiu reunir os apoios da esquerda fragmentária que persiste em dar batalha ao centro-esquerda mesmo quando este se pode revelar fundamental para impedir más soluções políticas. Acham-no demasiado de direita para os seus gostos políticos e, por isso, talvez prefiram o original em vez da cópia. Coisa, de resto habitual, se exceptuarmos os quatro anos da “geringonça”, construída em dois pilares essenciais: não permitir que a direita que ganhou as eleições formasse governo e salvar a pele de António Costa, que, depois de um grave período de austeridade, não só não ganhou as eleições sequer por “poucochinho”, mas perdeu-as por muito. Agora, em linha com a clássica orientação, PCP, Bloco e Livre provavelmente vão disputar a primeira volta e contribuir para que o candidato do centro-esquerda não chegue à segunda volta, abrindo fileiras para que seja a direita a disputar a segunda volta e a ganhar as presidenciais. Dir-se-á que, deste modo, ou seja, mantendo-se distante da esquerda radical, AJS possa vir a obter votos do centro-direita, colmatando as brechas eleitorais que venham a verificar-se no seu próprio espaço político. Mas, no essencial, tomando em consideração, por um lado, a dimensão eleitoral do PS e a dimensão conjunta de toda a esquerda radical e, por outro, a fragmentação da direita, o mais provável seria que AJS chegasse à segunda volta, podendo disputar efectivamente a presidência. Não sendo assim, e tomando em consideração as sondagens, será mais difícil que o candidato do centro-esquerda chegue à segunda volta.
4.
Mais uma vez, a esquerda radical só pensa em usar o período eleitoral da campanha presidencial para se promover e para testar o valor eleitoral de alguns dos seus personagens, pouco lhe importando o desfecho das presidenciais. Mais, conquistando o bloco da direita a presidência, o seu capital de queixa aumentará, podendo, deste modo, prosseguir melhor o rumo de uma progressiva e inelutável irrelevância política.
5.
O Presidente da República dispõe de poucos poderes, mas dispõe de um que é muito importante: o de poder dissolver o parlamento ainda que haja uma maioria absoluta parlamentar, como se viu, por exemplo, com esta presidência que agora, e felizmente, chega ao fim, com os resultados que conhecemos.
6.
A eleição do Presidente da República é, juntamente com as legislativas e as autárquicas, um dos pilares fundamentais do nosso sistema democrático. E, por isso, e porque dispõe de um poder único no sistema – o de dissolução do Parlamento, sem que haja um instrumento equivalente que também a ele se possa aplicar, como é, por exemplo, o do impeachment –, o seu uso pode produzir profundas alterações no equilíbrio de forças, como se viu com a dissolução decidida em 2023, que levaria o PSD ao poder, depois de uma breve maioria absoluta do PS. Uma dissolução que tem muito que se lhe diga, designadamente pelo facto de o PS a ter aceite passivamente, sem que os seus órgãos electivos se tenham pronunciado e reivindicado energicamente o direito de o PS continuar a governar, embora com outro primeiro-ministro. É conhecida, em parte, a mecânica insólita deste processo e o resultado a que ele levou, e não parece ser difícil, para já, tirar dele algumas, e preocupantes, ilações. Até por isso, julgo ter fundadas razões para votar em António José Seguro. É apenas um voto, em urna, mas aqui publicamente argumentado e justificado. JAS@12-2025

NOVOS FRAGMENTOS (XXIII)
PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA
João de Almeida Santos
"S/Título". JAS 2025
O ESPELHO
É SEMPRE BOM VIAJAR à procura de nós, olhando de frente a diferença. A identidade reconhece-se na diferença. Pode não ser muito cedo, mas talvez não seja, sempre, tarde demais para reconhecer a identidade que pode andar um pouco perdida, depois de termos viajado longamente pela diferença. O que é preciso é viajar… para a conhecer melhor. Sair da ilha, como diz o outro. Olharmo-nos no espelho do tempo e do espaço. Mas não sei se o que diz Bernardo Soares sobre o espelho não será uma grande verdade: “o criador do espelho envenenou a alma humana” (2015: 368). E o espelho é essa diferença que nos devolve a identidade. Será? Nesse espelho reflecte-se a nossa imagem, já gasta pelo tempo cronológico, e até pode acontecer alguma angústia e alguma melancolia ao observarmos o reflexo daquilo que somos e do que não somos. Envenenar a alma? Talvez seja demasiado. O espelho devolve-nos a identidade que o tempo esculpiu. É a nossa relação com esse tempo que se reflecte no espelho, gostemos ou não do que vemos sobre o que somos e sobre o que fomos ou não fomos. Perante a imensidão de possibilidades que a vida põe à nossa disposição será sempre minúsculo o que delas faremos. Certamente, mas o tempo poético, esse, que é muito diferente, não regista a idade cronológica nem envenena a alma. Transforma as rugas em beleza. A arte como espelho não envenena – eleva, sublima, espiritualiza a alma. O tempo da arte é um tempo salvífico. É tempo de resgate. E subtrai peso à existência, podendo sempre ser livremente percorrido em direcção a um futuro libertador. E, por isso, talvez nunca seja tarde demais (a referência é ao poema “Tarde Demais”). Não há marcas cronológicas no tempo poético? Pode haver e pode não haver. É o desejo que o determina. Sobretudo o desejo insatisfeito. E ter saudades dele. E reactivá-lo para o transcender. O sujeito poético pôs essa hipótese, bem consciente de que a frase “tarde demais” poderia ter um interessante efeito retórico sobre o passado encarnado pela musa a que o poema se dirige. Só que ele é um efeito válido em si, não um desabafo perante outrem. Ou mesmo perante a musa, porque ela é interna à própria poesia. Este tipo de desabafo embacia o espelho e na superfície baça é possível redesenhar o passado à medida do desejo. O desabafo poético não é como os outros. É uma outra imagem que se reflecte no espelho. Sim, é como desabafar perante um espelho, que até pode assumir a forma de musa, tornando-se verdadeiramente eficaz. E, por isso, sendo um diálogo com a musa-espelho, é necessário dar um significado particular ao que o sujeito poético diz. Como se se tratasse de um diálogo diferido no tempo… mas em forma de monólogo. Será que ela lhe responde (poeticamente), dizendo, com um silêncio com eco ou ressonância, em surdina, que nunca é tarde demais? É, sim, o problema do tempo poético. O que ele quer – e isso é possível – é encontrá-la no amanhecer de um poema para, com o olhar, lhe dizer tudo aquilo que não pode dizer com palavras que talvez já estejam demasiado gastas. Pretende assim fazer sair de si a (sua) alma com um simples olhar. “Amo com o olhar, e nem com a fantasia”, dizia o Bernardo Soares (2015: 424). É este olhar (poético) que forma o objecto olhado. Os poetas olham com palavras directamente nos olhos das musas, visto que os amanheceres de poemas só assim podem acontecer, mesmo quando elas parecem já gastas. Quando a palavra já aconteceu (em forma de poema) a fantasia (do poeta) retira-se. Será isto que o BS quer dizer, ele, que não se ajeita com a poesia? É que ele bem sabe que os poetas olham com palavras e que esse olhar é como uma “cristalização”. Como a do amante. Tarda a encontrá-la, mesmo guiado por um poema, é certo. Pode acontecer. Mas o encontro sempre acontecerá num amanhecer de palavras, porque o vento é seu (dele) amigo. Com palavras a observa, com palavras lhe fala, com palavras a interpela, sabendo que sempre o seu eco lhe será devolvido pelo vento. Porque ele sopra sempre a favor, sobretudo quando os afectos estão inacabados. Sim, quando os afectos estão inacabados… e persistem. Afinal, é por isso que há poesia. Ela está lá para nos dar o que a vida nos negou. Pelo menos algum conforto. Nunca é tarde demais, para o poeta, ainda que seja tarde. Há sempre um espelho mágico em frente dele. Que nunca lhe envenena a alma.
SINFONIA
A poesia é movimento que embala. A música interna de que é composta enleva, seduz, toca mais de perto e intensamente a sensibilidade. Os poemas são sinfonias. Levamo-los até um qualquer lugar à procura da musa que, com o silêncio, nos interpela. Sobre o seu silêncio cresce essa sinfonia, como música em catedral. A poesia é resposta a um chamamento que ressoa, como eco, dentro do poeta. Adensa-se o silêncio e aumenta a ressonância. E a poética orquestra faz-se ouvir em concerto para almas sensíveis.
O TRIO SAGRADO
Talvez a poesia procure responder ao desafio de um trio sagrado: “Alêtheia”, a verdade; “Tò Agathón”, o bom; e “Tò Kalón”, o belo – aquilo a que a arte aspira. Resposta só possível porque ela se eleva sobre a contingência, embora estimulada por ela. Desvelar o que lhe vai na alma, é o que o poeta faz, com algum artifício, técnica, e com gosto. A beleza que procura nas palavras com que se revela é o seu desafio moral máximo – age de tal modo que a máxima da tua sensibilidade possa valer sempre, e ao mesmo tempo, como princípio de beleza universal (veja Santos, 1999: 45).
INTERVALO
Talvez nunca seja tarde para o poeta que foi interpelado pelo eco do silêncio da musa. A máquina do tempo leva-o sempre para onde ele quiser desde que guiado pela sua fantasia. Mas talvez tenha sempre de ser tarde demais… para que a poesia aconteça. No tempo cronológico. No outro tempo, o poético, pode ser tarde, mas nunca é tarde demais. Naquele outro, talvez seja. Mas é neste intervalo entre um e outro que a poesia acontece.
IMPOSSIBILIDADE
Este “tarde demais” (do poema) talvez seja uma alusão temporal à impossibilidade. Resta ao sujeito poético encontrar-se com a musa no amanhecer de um poema. A impossibilidade é relativa ao tempo cronológico, pois o encontro no tempo poético é sempre possível. A musa, neste tempo, nunca se perde, nunca está ausente. Porque ela existe como correlato do próprio poeta e do poema com que a interpela. Não há poesia sem musas. E não há musas sem poesia. Um poeta nunca morre, tal como a musa. Porque ele se confunde com a sua obra e com ela, mas também porque não está subordinado ao tempo cronológico. A poesia é intemporal e atemporal. O seu tempo é “durée” (Bergson), não é tempo com fronteiras e não conhece solução de continuidade. Claro que a ordem do tempo (cronológico) a marca. Mas não no essencial… porque o que ela busca é a marca da eternidade.
O DESEJO E A NATUREZA
“Oh, se é teimoso, o poeta!”, respondi eu a um Amigo que dizia que o poeta teimava em ter um azevinho com bagas no seu jardim. Mas ele precisava mesmo das bagas e não desistiria enquanto as não conseguisse. Até lhes deu vida num poema (“As Bagas”) e numa pintura (“Bagas no Jardim”). Coisas de poeta. Na natureza, e com a ajuda da fantasia, é sempre possível encontrar algo que serve de projecção antropomórfica. Neste caso, não se conhece a razão específica que explique essa obsessão do poeta. O Stendhal, em “Do Amor” (1822), diz, a este propósito (sempre sobre o amor), o seguinte: “… não há nada na Natureza que não lhe (ao ‘homem que ama de verdade’) fale do objecto amado” (2009: 123). É a conhecida fórmula da “cristalização”, como “ilusão encantadora” ou “uma certa febre da imaginação”, onde as realidades “se ajustam imediatamente aos desejos” (2009: 43, nota; 37). E a poesia é um território de desejos incumpridos no tempo cronológico. Mas, em Stendhal, trata-se de amor, não de bagas. Só que os azevinhos com bagas sempre atraíram o poeta. Não sendo amor, é atração irresistível. Vá-se lá saber por que razão. Não sei se será alguma reminiscência natalícia muito antiga e resistente ou uma “certa febre da imaginação”, como no amor. O que importa é que já tem um azevinho com bagas no jardim. E não é coisa de imaginação. Está mesmo lá. Mas também já tem dois poemas e duas pinturas sobre bagas e azevinhos. E isso encanta-o. Até porque “os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor” (2015: 55), como dizia o Bernardo Soares. Há mais bagas no dizer-se do que no azevinho plantado? “Talvez, mas não me importa porque tenho as duas coisas comigo”, diz o poeta.
A FRONTEIRA DO TEMPO
O poeta resiste à marcha inelutável do tempo cronológico, combatendo-o com o tempo poético. Será possível? Sim, é possível, desse modo, atravessar a fronteira do tempo.
REFERÊNCIAS
- Bernardo Soares (2015). Livro do Desassossego. Porto: Assírio & Alvim.
- Santos, J. A. (1999). Os Intelectuais e o Poder. Lisboa: Fenda
- Stendhal (2009). Do Amor. Lisboa: Relógio d’Água. JAS@12-2025
“O MEU PARAÍSO”
Um livro de António de Castro Guerra
(Lisboa, Rosa de Porcelana, 2025, 145 pág.s)
Por João de Almeida Santos

HÁ DIAS, tive ocasião de apresentar, em Manteigas, em Valhelhas e na Guarda, o mais recente livro de António de Castro Guerra, “O Meu Paraíso”. Mas, depois do que escrevera no Prefácio deste belo livro, o que poderia dizer de novo, no momento da sua apresentação pública? Sabendo que sobre o livro também iria falar Filinto Elísio, Editor e ilustre poeta cabo-verdiano, lembrei-me de um seu poema, do livro Li Cores & Ad Vinhos, que, a título de epígrafe, vinha mesmo a propósito. “Monte Birianda”, era o título do poema, onde o poeta dizia:
“Estive e nunca estive neste lugar.
Há qualquer coisa de topo do mundo
(...).
Este lugar tem música.
Cada pedra guarda acordes inaudíveis”
(Lisboa, Letras Várias,
2009, pág. 73)
“Estive e nunca estive neste lugar”, onde “cada pedra guarda acordes inaudíveis” – aparentes contradições que só a poesia sabe “manejar” para aprofundar e evidenciar o sentido do que se diz. E isto só se pode dizer quando a relação é profunda, como neste caso. Nunca se está completamente num lugar quando há algo maior do que nós, talvez inaudível ou invisível, que nos escapa… mas que, ao mesmo tempo, nos interpela. Essa parte, “nunca estive”, dita em poesia, de certo modo pode significar: “mas hei-de um dia lá chegar, lá estar”. Afinal, trata-se do “topo do mundo”… Como alcançá-lo, o topo do mundo, com os meios humanos e tão modestos de que dispomos? Como fazer essa escalada tão difícil? Lá no alto até pode faltar o oxigénio, ser difícil respirar. Esta sensação de estar e não estar aumenta quando se deseja profundamente esse lugar. E a errância existencial, que nos leva para longe, provoca, ainda por cima, um acrescido sentimento de perda, de ausência, de silêncio, de saudade e de melancolia, mesmo daquilo que nunca se teve ou daquilo onde nunca se esteve. Saudades do que nunca aconteceu, dizia o Bernardo Soares no Livro do Desassossego: “Ah, não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram” (Porto, Assírio & Alvim, 2015, p. 111). Saudades de um desejo não cumprido ou saudades de um lugar onde nunca se esteve. E é aqui que soa a desafio. Ou mesmo a imperativo. Como alcançar o topo do mundo, que, afinal, é o topo do meu mundo? Será que consigo através da palavra, do romance, da poesia? Da arte? Na verdade, o inacessível (“nunca estive”) só pode ser atingido assim. É para isso que a arte existe, para atingir o inacessível. Podem crer. É isso que parece querer insinuar-se nestas persistentes viagens em palavras que António de Castro Guerra tem vindo a fazer para chegar ao topo do seu mundo: nasci lá, sim, mas ainda não lhe vi o topo, que talvez também esteja lá bem no alto da minha fantasia. E é por isso que tento lá chegar… com palavras. Até porque sei que já não posso agarrar o meu passado com as mãos, agarrar o meu Paraíso, recuperar o tempo que já se foi. Mas sei que o posso reviver e até acariciar com as palavras e com a minha fantasia. Trazê-lo, assim, até mim. E sei, ah, isso eu sei, que “para saber o que é o meu paraíso é preciso muito mais do que o ver: o mais importante é vivê-lo e senti-lo” (2025: 58). E aqui estou eu agora a revivê-lo do único modo possível, pelas palavras, sendo ele, como já é, em grande parte, passado. Também os poetas vão lá à fita da memória, fazem uma espécie de montagem cinematográfica e reconstroem o passado. Depois é vê-lo em moviola. Como um filme ali ao alcance das nossas mãos. E os seus livros são como a moviola: permitem observar de perto e ao pormenor o seu Paraíso. O topo (de outro modo) inacessível do seu mundo. Podemos parar a fita do tempo, arrancar, voltar atrás ou dar um salto para o futuro. Quando se faz a dobragem de um filme é (ou era, já não sei) assim que se trabalha – na moviola. E estes livros são como que a “dobragem”, a tradução do tempo vivido em bom português.
1.
Este lugar, que não é Monte Birianda, ou Monte Brianda, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, mas a Serra da Estrela, mais concretamente, Valhelhas e os seus vales e serranias, é para Castro Guerra o seu paraíso, talvez, sim, o topo do seu mundo (como tantas vezes é assumido nos seus livros), o lugar onde um rio foi e fez a sua liberdade, “lugar mágico” onde nasceu e cresceu “a olhar (lá) para o alto da Serra”. Para o topo do (seu) mundo.
2.
Palavras suas. Ditas no seu livro “Quase Memórias de um Lugar e de outras Andanças”, de 2020, publicado pela mesma Editora, Rosa de Porcelana. Mais de 400 páginas de memórias, ou, como ele diz, “quase memórias”. Talvez porque o livro seja – e é – mais do que uma colectânea de memórias. Talvez seja mesmo um lugar de vida. Vida em palavras, que a avivam ainda mais. “Quase memórias”, não por defeito, mas por excesso. Lugar onde sempre se regressa das terras “da promissão” (palavras suas). Que foram e são muitas, mas especialmente terras de África e, sobretudo, da América. Isto é coisa séria, muito séria. Quem conta de forma tão detalhada, delicada e sentida, ao pormenor, a vida e as vidas da sua terra, a começar pelas da sua própria família, neste livro de “Quase Memórias”, só pode ser suspeito de manter com ela um cordão umbilical nunca radicalmente cortado, uma relação de tipo maternal ou amorosa com esta terra, o seu Paraíso. É evidente a sua paixão por estas terras ou não teria escrito sobre elas mais de novecentas páginas. Mas não foi preciso ler este livro de “quase memórias” para compreender o que o levou a escrever o “O Meu Paraíso”.
3.
Conheço o António de Castro Guerra e sei bem do seu fascínio e da sua paixão por esta terra que o viu nascer e crescer. Se não soubesse, ficaria a sabê-lo (ao pormenor) pela leitura dos seus livros. O amor por esta terra, pelos três vales que nela confluem, pelo rio que por ali passa e a banha generosamente e pelos vastos e impressionantes montes que a circundam. Muitos de lá talvez nem se dêem conta desta beleza por nunca terem sentido de forma substantiva a diferença, por nunca a terem visto e sentido a partir de fora, o que não é o seu caso, porque tantas vezes a sentiu lá de longe, sobretudo de África, por onde andou nos anos setenta, como nos conta em “Quase Memórias”. Os que não saíram querem sair para serem livres, os que saíram querem regressar para recuperar a sua identidade mais profunda. Isto parece ser uma lei do comportamento humano. E ele saiu da ilha, viu-a de longe, sentiu a sua falta e teve de a contar para a resgatar do tempo e para se resgatar a si próprio. E tinha de ser assim porque as palavras têm esse poder de resgate, de “cristalizar” sentimentos fortes (como no amor de que fala o Stendhal) o que ameaça desfazer-se, acabar e desaparecer. Sobretudo em certos momentos de maior ameaça, como foi o caso da enorme e incompreensível devastação, com o fogo, durante dias e dias, a passear-se pelas suas, pelas nossas, serranias sem que mão humana o pudesse travar. Ou, então, quando as saudades do tempo que já se foi se tornam mais intensas e dolorosas, provocando melancolia, esse sentimento que os poetas registam de forma muito própria. As nossas palavras também têm ressonância ou eco em nós próprios e só por isso já valeria a pena pronunciá-las ou escrevê-las. O eco do silêncio, do que já só se conserva na memória ou daquilo que se segue à destruição, é o que melhor os poetas sabem interpretar. E nem seria necessário que fosse Shakespeare a dizê-lo. Dizê-las, sim, vale sempre a pena, quanto mais partilhá-las num livro lançado ao vento, como quem diz: aqui têm a minha Valhelhas, aqui têm o meu Paraíso!
4.
Se ousasse fazer uma comparação com a minha própria experiência, já que sou natural de Famalicão, que fica mesmo ali ao lado de Valhelhas, e migrante por largos anos em terras da Europa, atrever-me-ia a dizer que Valhelhas e a Serra foram, como para mim, o seu esteio, a sua âncora existencial, o porto seguro dessa errância que nunca se sabe onde vai dar. O pilar existencial que garante a nossa própria identidade quando ela parece estar ameaçada por excesso de uma miscigenação que pode ser descaracterizadora dessa identidade substancial que foi marcada, no tempo certo, em tenra idade, pela magia desses lugares. Querem um exemplo? A mim, a neve não me sai da cabeça. Fiquei incrédulo quando ela um dia foi ter comigo a Roma. Tenho um quadro com ela na Piazza della Rotonda, em Roma, a praça do Pantheon. E não dormi nesse dia, não fosse ela derreter-se tão depressa como chegou. A neve anda sempre por cá e, de vez em quando, lá tenho eu de a cantar, em poesia. De repor o que já parece perdido, essa brancura cintilante que funde o céu e a terra, nos engole num manto sem fronteiras e nos fascina o olhar e a alma. E quanto à água do Vale Glaciar, a da Fonte Paulo Luís Martins, essa magnífica cascata que jorra lá do alto da montanha, anda sempre comigo. E não só porque também a canto e a pinto, como se fosse neve em forma de água pura e fresca ou a própria montanha em forma líquida, mas porque é isso que esta água representa.
Mas também António de Castro Guerra (que sobre a neve sente o mesmo que eu) diz, e para que não haja dúvidas, “o meu paraíso nunca saiu da minha cabeça e do meu coração” (2025: 67). Pois, o que é que nunca lhe saiu da cabeça e do coração, além da neve? Ouçam-no: “Ao longo dos caminhos das serras, aqui saltava-me à frente um coelho ou uma lebre, além vislumbrava, de vez em quando, uma perdiz a levantar voo, ou a conduzir os seus perdigotos. Não era raro ver uma raposa matreira, ou um lobo solitário, ouvir as falas dos gaios e das pegas, comer as pútegas que cresciam junto às raízes das urgueiras, das carquejas ou das estevas, cujas flores eram de uma beleza rara: o conjunto das suas pétalas brancas formava um cálice orlado de uma cor indefinida, no fundo do qual estavam os estames cercados por uma rodilha acastanhada. A apreciação da diversidade das urzes e das suas pequenas flores multicolores eram, também, momentos de libertação das coisas mundanas. Nas minhas caminhadas ao longo das margens do rio, ouvia os chilreios dos pássaros, observava os cardumes de peixes, ouvia e via os pica-paus a bater nos troncos secos das árvores à procura de alimentos, via os pica-peixes a entrar na água do rio a pescar as refeições do dia, observava a beleza dos milheirais e falava com quem os estava a mondar ou a regar; aproximava-me dos rebanhos a pastar as tenras ervas dos campos do vale – muitas vezes ao entrar nos domínios dos cães que guardavam os rebanhos, tinha de me servir do cajado para me defender” (2025: 66). Poderia citar outras passagens, mas não resisto a citar esta: “Perseguíamos as rãs para as apanhar e as cobras-de-água para lhe pegar pelo rabo e as lançar ao ar, depois de lhes tirarmos os peixes que abocanhavam. Às rãs eram cortadas as pernas e despíamos-lhes as calças até às unhas dos pés. Junto às margens do rio brincávamos com as arestas e os girinos, que, alguns tempos depois, se transformariam em peixes graúdos ou em rãs. Perguntarão alguns porquê esta mortandade de peixes e rãs? Pelas mesmas razões, que atrás se expõem, relativamente aos pássaros, coelhos, lebres e perdizes” (2025: 64). Ou seja, não se tratava de crueldade, mas de caça ou de pesca, determinadas por razões de sobrevivência, onde pouco havia para comer. Não se ia ao supermercado comprar carne ou peixe, ia-se à natureza caçar ou pescar o que depois se haveria de comer. Lei da natureza, própria do seu Paraíso.
É disto que se trata. Não sobram dúvidas. É este o seu Paraíso. É disto que tem saudades.
5.
Naturalmente que existe sempre uma propensão natural para imergirmos na magia da natureza, muito mais frequente em quem nasce e cresce nela, mas também há factores externos que nos levam a valorizá-la mais do que os que nela sempre viveram, os que nunca saíram da “ilha”, ou seja, nunca experimentaram um sentimento intenso de alteridade, de presença existencial e enraizada do outro, de diferença substancial de lugares, de pessoas, de modos de vida, de paisagens naturais e humanas. Talvez a conjunção destes factores o tenha levado a “cristalizar” com arte e com palavras essa memória feliz em quatro livros, incluído este. E neles incluo o romance “Uma viagem no Tempo”, de 2022, onde ficou bem expressa essa sua relação idílica com a natureza, em ambiente de partilha cúmplice. Livros feitos de palavras, claro, mas também de fotografia e pintura, como acontece em “Ao sabor dos Dias & outros Escritos”, de 2024, e também neste de que aqui estou a falar. Um encanto existencial, sim, mas que, de forma inesperada, haveria de “virar” estupefacção, dor, desencanto quando foi (fomos, todos) confrontado com a devastação das serranias do seu encanto pelo incompreensível e imparável incêndio de 2022.
6.
Eu atrevo-me a dizer que este livro, embora também estimulado pelo seu Amigo António Mesquita (tens de escrever este livro, António), acabou por nascer, não como resultado de uma fria e distante decisão documental sobre a tragédia que caiu sobre o seu Paraíso, de um produto de escritor amante da arte e apenas comprometido com a beleza em si, mas como um imperativo existencial, como um exorcismo, como a libertação de alguém que viu destruídas no real as suas memórias mais quentes, já completamente metabolizadas, e que vinha acarinhando através de um comprometidíssimo e já vasto percurso literário. Não, este escritor nasceu de um imperativo existencial, à margem da sua carreira profissional (como economista e professor), de uma alma sensível à beleza natural que se exprime nesta sua terra, nesta excepcional e única convergência de vales e de montes. Trata-se, agora, neste livro, e com maior profundidade e dor – porque se trata de um autêntico grito de alma -, de resgate pela palavra. Só assim se compreende que no meio deste grito de dor em palavras ele traga ao presente, e de novo, as memórias desses tempos em que eram felizes os que por ali viviam, com a caça, com as festas comunitárias e o quotidiano rústico e matricial, com as suas antigas tradições ciclicamente repropostas, encenadas e coreografadas pelas ruas da aldeia. Tudo aqui muito bem descrito com palavras certeiras e com sentida melancolia.
7.
António de Castro Guerra inspirou-se, para escrever este livro, na sequência da Divina Comédia de Dante Alighieri, mas alterando-lhe a ordem, porque também por lá há o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, precisamente por esta ordem, diferente da sua, que começa, não com o Inferno, mas com o Paraíso, o Éden, que Dante, através da voz do poeta Virgílio, considera “il dilettoso monte, ch’è principio e cagion di tutta gioia”, onde “è l’uom felice” (Inferno, Canto I, versos 77/78).
8.
Sendo inevitável que neste livro haja, no fim, o Renascimento, como declaração de esperança, de reconhecimento de que a natureza tem uma força e um ímpeto tão intensos que sempre se impõem quer quando está zangada quer quando se quer renovar para, assim, sobreviver, isso, não lhe apagando a profunda tristeza perante o que vê, leva-o o construir uma sequência anterior que começa com o Paraíso e que termina, precisamente, com o Renascimento desse mesmo Paraíso. O livro tem, pois, quatro partes, começando, neste caso, e como é compreensível, pelo Paraíso (pp. 23-67), por um cântico à beleza natural e aos seus tempos idílicos, a que se seguem o Inferno (pp. 71-109), esse incêndio devastador, o Dilúvio (pp. 113-124), a chuva torrencial que se lhe seguiu e os efeitos desastrosos que provocou, e o Renascimento (pp. 127-139), o renascer das cinzas, e, finalmente, um pequeno Glossário (pp. 141-144). O autor começa por contar a vida do seu Paraíso terrestre e original, a beleza da imersão suave na dialéctica da natureza dos que viviam nela e dela, para depois contar o inferno de fogo que a destruiu e a que se seguiu, como sempre acontece, pois é lei da natureza, um dilúvio de consequências desastrosas por falta de suporte natural nas terras atingidas pelo fogo. Ali, ao longo das margens do Zêzere e com águas vindas lá de cima, dos montes desprotegidos, tudo foi na enxurrada, de Sameiro a Valhelhas. Mas, no fim, lá surge essa esperança no despontar da natureza para restaurar o equilíbrio perdido do seu Paraíso, bem ilustrada, na pág. 125, pela bela imagem de uma planta verdejante que renasce das cinzas, como a Fénix.
9.
E é interessante notar que o autor tem o cuidado de, em dois dos seus livros, apresentar um Glossário dos termos usados nesse tempo antigo, não vá o leitor procurá-los num dicionário, em papel ou digital, e não os encontrar. Repor o que pode estar perdido é revivificar o passado e não o deixar morrer. Repor também as palavras, neste caso. E creio até que não é o rigor e o cuidado científico – e até podia ser para um académico como ele – que o leva a fazer isso, mas sim o desejo de tornar mais viva e eficaz a sua narrativa, de trazer o leitor mais lá para dentro dela, reconstituindo a linguagem de outrora como desejo de também a revivificar, de a resgatar das chamas do esquecimento, que também tudo reduz a cinzas, de dar à narrativa uma temporalidade inscrita no passado, sim, mas tornada, deste modo, activa no presente, através da descodificação da sua fala. As palavras transportam vida consigo. E nalguns casos uma vida mais intensa e bela. Têm poder de resgate, de revivificação e de sublimação: “os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor”. Isto dizia o Bernardo Soares no Livro do Desassossego (2015: 55), chegando ao ponto de, um pouco mais à frente, dizer “vale mais para mim um adjectivo que um pranto real de alma” (2015: 57). É disso que se trata, afinal: restaurar com palavras o “verdor” perdido. Quando já nem verde há, pois resgatêmo-lo pela palavra. Foi o que Castro Guerra tentou fazer com este livro: repor o verde perdido. E parece não ter sido um acaso ter-lhe dado o título, não de Inferno, mas de “O meu Paraíso”. Sendo também eu de lá muito aprendi ao ler os seus livros e glossários, a reconhecer e a recuperar o intenso cromatismo dos campos, o seu “verdor”, agora verde em palavras, sobretudo numa fase em que as chamas os enegreceram.
10.
Há ali um narrador, José Abraão, e outros personagens que, mais uma vez, têm referentes reais na aldeia dos seus encantos. E há três amigos, de antes e de agora (já com suas esposas). Eles exprimem a felicidade da sua intensa relação com a natureza, por exemplo, na caça aos pássaros com os velhos costis, mas também o desespero de agora a verem devastada pelo fogo, com aquele sentimento pessimista que tende sempre a capturar-nos nos momentos mais difíceis, o de que já não haverá renascimento que reponha o que foi destruído, por tão profunda ter sido a destruição. Sei do que fala, porque também eu andei por lá naqueles funestos dias e com esse mesmo sentimento, com esse pessimismo, essa descrença no poder restaurador da natureza, agora felizmente desmentida, lentamente, pelo reaparecimento do verde, melhor, do “verdor”, por essas serranias fora. “Verdor” que também se torna mais verde nas palavras que compõem este livro, quando se fala do seu Paraíso.
11.
O que explica a minha cumplicidade com “O Meu Paraíso” é precisamente” isto: fomos todos avassaladoramente atingidos, fisicamente e na alma, ao vermos o Paraíso em chamas. Foi o que o autor sentiu e foi o que eu senti. E é assim que este livro nasce: como um grito de alma de alguém que viu destruído o seu paraíso por um gigantesco incêndio florestal que ceifou tudo aquilo por que passou, reduzindo-o a cinzas. Esse incêndio incompreensível que deflagrou na encosta leste da Serra da Estrela, lá para os lados da Covilhã, e que durante intermináveis dias foi progredindo, sem nada que o travasse, por ali, serranias afora, até às portas das povoações, ameaçando vidas e bens. Incluída Valhelhas. Incluído Famalicão da Serra. Uma coisa verdadeiramente incompreensível. O autor – que, pela voz de José Abraão, diz “este inferno a arder em todas as frentes só poderá ter sido inspirado pelo Diabo” (2025: 83) – sofreu esse incêndio como golpe profundo em carne viva e não hesitou em confrontar-se de imediato com essa dor através da escrita, como que tentando, pela palavra, pela narrativa, exorcizar, curar o sofrimento interior que lhe parecia não ter fim, tal a grandeza e a profundidade da devastação: “O Paraíso estava todo queimado”, diz, com incontida tristeza (2025: 87). O poder terapêutico da palavra, sim, não só porque através dela é possível esconjurar a dor, relativizá-la, controlá-la ou até mesmo metabolizá-la, para a neutralizar, mas também porque, ao partilhá-la, em forma de livro, se pode materializar a reacção interior à tragédia, como se, mostrando-a, se esteja a pedir solidariedade para remediar o que ainda se possa remediar, para além do que já ficou como dano físico inelutável. Só pela palavra isso é possível – restaurar de imediato o verde dos campos sem ter de esperar que chegue o seu “verdor” e interpelar a comunidade para que novas catástrofes sejam evitadas, ainda que, hoje, tudo se conjugue para que elas voltem a acontecer: alterações climáticas, desertificação, abandono dos campos. Tudo aquilo a que o autor dá voz, de forma expressiva, na parte sobre “O Inferno”. “Tudo contribuiu”, diz, “para levar o Inferno ao meu Paraíso”. Mas o autor, pela voz de José Abraão, o narrador, bem sabe que a pujança da natureza acabará por repor aquela exuberância perdida por tantos anos e, por isso, já no fim do livro, fala de renascimento, bem consciente de que os seres humanos são também eles natureza, não ‘donos dela’, num misto de desencanto, mas também de optimismo. “Eu acredito que o meu Paraíso vai renascer e voltará a ser belo e deslumbrante com ou sem a participação humana”, diz José Abraão, embora saiba que já não será ele, nem a sua Leia, a mulher, a assistir ao renascimento, porque já carrega muitos anos sobre si. Serão os seus amigos Samuel e Ester, Sara e Malaquias e Ezequiel e Beatriz, seus filhos e netos, a poder celebrar esse milagre que não deixará de acontecer. Mesmo assim, este livro não deixa de ser um grito de alma, um grito de dor que fica lavrado para memória futura. E sei bem do que falo, porque também eu, que nasci ali, a cinco quilómetros da sua terra, senti essa dor em directo, naqueles momentos dolorosos, sem nada poder fazer a não ser o desejo de que aquele inferno passasse rapidamente e não voltasse nunca mais. Os sentimentos nunca são iguais, é verdade, mas podem ser equivalentes em intensidade”. Uma dor colectiva que soa, singularmente, no interior de cada um de nós.
JAS@11-2025
NOVOS FRAGMENTOS (XXII)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos

"S/Título". JAS 2025
1. MUDANÇA
UM COMENTÁRIO A UM POEMA pode mesmo acontecer como acontece o próprio poema. O poema polariza e o comentador deixa-se ir. Passa a viajar lá dentro usando as mesmas asas do poeta, as palavras. Mas o Amigo que fez um comentário a um poema meu mostrou gostar muito de Sophia e a associação que fez com um poema da poetisa foi oportuna, pois na vida, tal como na poesia, a mudança vai acontecendo, ditada pelo tempo e seus caprichos. O meu poema era “Muda tudo, tudo muda”. O de Sophia era “Liberdade”, incluído em “O Nome das Coisas”. Mas, como na poesia (“sílaba por sílaba”, diz ela), também na vida a disciplina nos deve acompanhar, como quem pilota o acontecer nessa sua imensa imprevisibilidade. À disciplina só devemos acrescentar a luz, a cor e a música para temperar e avivar a sua austera cadência, “sílaba por sílaba”, dia-após-dia. Será como acrescentar liberdade ao ritmo implacável do tempo e também ao da toada poética.
2. ARCO-ÍRIS
Sim, é preciso trocar as voltas à mudança como quem renasce e volta a tornar-se criança. Na vida que muda as tormentas acontecem, mas quando passam surgem os arcos-íris a ligar as margens da nossa transitória felicidade. Os poetas, então, sobem lá para cima, sentam-se nas suas gotículas luminosas e coloridas e observam a vida que acontece cá em baixo. Fotografam-na com esses filtros luminosos e caleidoscópicos e depois lançam as imagens ao vento para que cheguem aos que transitam pelas ruas e pelas vielas esburacadas e tortuosas da vida.
3. A MUDANÇA, O VERDE E O VERDOR
Tudo muda e também o poeta muda porque não pode escapar ao tempo e às suas leis, mas sabe bem que o vento, às vezes, sopra numa certa direcção (o passado) e, então, lá vai ele de regresso revisitar o que não aconteceu, mas podia ter acontecido, se os deuses tivessem decidido que assim seria. Mas também aqui vai em registo de mudança porque vai com a maquinaria poética resgatar esse passado e trazê-lo ao futuro para o fazer acontecer… em palavras. A poesia é mudança permanente (durée) que é acompanhada por um veículo que tem as palavras como asas. Há sempre voo. A mudança é liberdade. E a própria poesia contém em si, na sua própria forma, a mudança. Pelo seu minimalismo, que a torna leve como pluma. Pelas cores, que são pintadas com palavras, e pelo seu poder de transfiguração e de transtemporalidade. Não era o Bernardo Soares que dizia que “os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor”? Com a poesia a cor muda e torna-se mais intensa, tão intensa que quase pode ser tocada com as mãos. A poesia, na verdade, dirige-se a todos os sentidos. É multi-sensorial. O “verdor” a ganhar luz e intensidade e a repropor-se como viçoso verde através da palavra. Com a sinestesia tudo se reforça ainda mais. O “verdor” torna-se, então, ainda mais intenso nas palavras que a pintura ilumina.
4. CICLOS
Os ciclos da vida que o tempo vai desenhando à nossa medida (porque também nós os vivemos como ciclos), mas numa escala muito maior do que nós, porque nos transcende, devem merecer a nossa maior atenção porque é nesta intersecção entre o tempo e nós próprios que a nossa vida decorre, num ritmo parecido com o das ondas do mar.
5. TAUMATURGIA
O silêncio e a ausência são fontes primárias de recriação do vivido em forma de sublimação. Provocam dor e, por isso, necessitam de cura. É habitual ver os poetas falarem do amor como de uma “doença da alma’ que provoca também aquilo a que o Stendhal chamou “cristalização”. A poesia é uma forma de “cristalização” que pode ser partilhada. Obra de arte aberta devido à natureza da sua linguagem. Cristaliza, mas não deixa de ser lava que continua a descer pelas encostas da vida. Oxímoro? Sim, mas esse é o desafio da poesia – trata-se de uma “cristalização” especial. Sublima e cristaliza em movimento. Fixa, mas em terreno movediço. É texto aberto, tão próximo da música como da prosa, do silêncio como da fala. Numa metáfora cabem muitos sentidos, tal como numa pauta musical existem muitas variações interpretativas, no tempo e na intensidade da execução. A liberdade dos intérpretes reside neste intervalo da modulação. Só por isso pode funcionar como remédio para a alma. Quem sente a poesia também como sua pode encontrar(-se) nela (como) um remédio para a alma. Plena performatividade. Reviver o que restou apenas como desejo. É voar mais alto do que a própria dor. Rarefazendo a sua densidade e a sua intensidade – a tristeza que se torna doce melancolia. As palavras e a (sua) música têm, num poema, um poder taumatúrgico. A poesia é taumaturgia.
6. COREOGRAFIA
Num domingo de sol talvez seja bom assistir a uma breve coreografia de palavras em cenário de dança na praia da meia-lua, ali, na Azarujinha, no Estoril. Pelo menos com a imaginação. O poeta-pintor tem de se reinventar para coreografar a sua própria melancolia. O palco é a praia da meia-lua, onde a maresia acontece com a melodia das ondas do mar como ambiente sonoro, onde a melancolia pode encontrar maior aconchego. Não são os poetas os mais melancólicos dos artistas? Talvez sejam. E não são eles os melhores intérpretes do silêncio, a ponto de sobre ele criarem sinfonias de palavras? Compositores, directores de orquestra e coreógrafos. A melancolia é filha do silêncio e da ausência e tem mesmo de ser musicada e coreografada para que se torne “doce melancolia” e possa, assim, embalar a alma do poeta e dos que gostam desta dança. Desta dança de palavras. Não há limites quando “chove na alta fantasia”, como gostava de dizer Dante Alighieri, e quando se gosta de andar à chuva para refrescar a alma. Sobe-se ao palco e partilha-se a coreografia e a sinfonia do silêncio escrita em pauta de palavras. Tornamo-nos directores de orquestra e coreógrafos, mesmo quando há o risco de revolta das palavras. E até de emergir o trítono ameaçador de dissonância e de instabilidade. Som do diabo? Mas o inferno dos poetas só existe para aquecer as almas solitárias…
7. BAGAS
“Vamos ao jardim e verás que anda por lá um novo azevinho que não dá mesmo bagas” – respondi a um Amigo que comentava o poema “As Bagas”. Um outro também não dava, queixei-me a um vizinho (o Leonel) e pedi-lhe um azevinho. Deu-mo, mas nem este me deu as tão desejadas bagas. Carente de bagas ficou o poeta e jardineiro. Depois, outra tentativa. Nicles. Cansado de tantas negativas, o poeta-pintor disse de si para si: “Ai é? Então verão o que são as bagas de um poeta”. Nasceu assim o poema e foi recriada a pintura. Quanto mais me faltas mais eu te partilho. Vingança? Não. É manifestação de gosto ou mesmo de afecto. Andam a viajar-me na alma estas bagas? Sim! Pois bem, vou convidar os meus Amigos para viajarem connosco. Viajar com bagas, não só no jardim, mas também no azul do céu. E no coração. Bagas, cintilas, estrelinhas? Sim, são luzes que brilham no céu da nossa fantasia. E que iluminam as nossas vidas.
8. FRUTOS VERMELHOS
A Montanha é o lugar preferencial onde o poeta vai à procura de remédios para a alma. Parece que foi assim na curta história de um poema: frutos da cor da paixão. Ao que parece não colheram os favores da musa e ele acabou por ficar prostrado. Na praia, libertou o corpo, mas não libertou a alma, que ficou para sempre presa à musa. Como a fantasia do poeta é grande e salvífica, o poeta viu nessa prisão da alma a sua própria salvação. Ficou preso nela e agora a sua missão é resgatar-se pela poesia. Resgatar-se sem sair dela. Sair, ficando. A condição de prisioneiro de alma é condição de luta permanente pela libertação, que nunca acontecerá, mas que será sempre tentada, garantindo assim a sua sobrevivência como poeta. Sísifo, sim. Estranho? Sim, mas real. Poeticamente real. Tudo isto aconteceu devido a um estranho encontro em que o poeta ofertou um cesto de mágicas cintilas (frutos vermelhinhos) à musa sem que ela lhe retribuísse a oferta (“não são o teu abrigo”). Tristeza de um poeta que, desde que a viu, pela primeira vez, ficou com a alma cativa (“presa a ela”). Resta-lhe a consolação de, assim, ficar junto dela. Amor não correspondido, quase não reconhecido, apesar de manifesto e verbalizado. Fracasso afectivo que o canto pode ajudar a atenuar. Livre o corpo, presa a alma. Só a fantasia pode ajudar. Creio que é isto. Uma pequena história contada por um poema. Um oxímoro: preso e livre ao mesmo tempo.
9. CHEGAR ÀS ESTRELAS
Talvez o poema “Sorrir” seja um hino ao poder de um sorriso ou de um olhar. Trocar o mundo por eles pode significar elevar à máxima potência a sensibilidade. Claro, isto é dito num poema e numa pintura. É dito na linguagem da arte, o que confere à ideia um sentido especial e uma particular responsabilidade. Estamos no mundo da sensibilidade e isso quer dizer tudo. Ou seja, ele convoca-nos para a delicadeza do encontro e do afecto. Eu dou-te um mundo diferente se quiseres viajar comigo lá no alto da fantasia. Não te dou o mundo que temos perante nós (já não é meu, como antes), mas dou-te o céu onde eu gosto de voar. Como quem diz: “vá, vem daí voar comigo no azul deste meu céu para tentarmos chegar às estrelas”. Creio ser esta a mensagem do poeta e também o grito de alma que se aninha num sorriso aberto ou num olhar comprometido com a linha do horizonte.
10. POSSUIR O MUNDO COM O OLHAR
O mundo parece ser todo nosso nos tempos de juventude, mas depois vai deixando de ser. Então, recriamo-lo com a fantasia para o podermos oferecer a quem nos seduz ou a quem queremos seduzir. É magnífica esta passagem: o tempo vai roubando o mundo que está ao alcance das tuas mãos e tu vai-lo transfigurando à medida do desejo e da fantasia. Um processo de sublimação. A arte permite essa passagem, ou seja, a transfiguração estética dessa vontade de voltar a possuir o mundo que já te falta apenas com um olhar (interior) e com a sua estilização. Até porque a arte nos permite viajar no tempo e dilatar o mundo que temos perante nós. A poesia pode dar-te mais mundo do que aquele que já tiveste.
11. MEMÓRIA
Há sonhos e sonhos. E sonhar é preciso. Neles se espelha a alma ao sabor das suas flutuações, que são também flutuações da memória. Há vida na nossa memória e ela exprime-se consoante os estímulos externos e internos que a provocam. É um imenso universo em ebulição. E é um mundo frequentado pelos poetas. É lá que estão registados os momentos de vida mais ou menos intensos. Sopra o vento e muitos desses registos vêm à superfície. E é então que o poeta os “cristaliza” operando com o “espírito apolíneo”. É esta a sua vigília: estar sempre pronto para registar e projectar esteticamente as flutuações da alma e da memória, dando-lhes vida num território superior.
12. SONHO
O teu sonho foi belo, com a natureza no seu máximo esplendor – disse a um amigo que tivera um belo sonho naquele dia. Felicidade. Mas a vigília ofereceu-lhe outra realidade. Desilusão. O do poeta nem por isso. Só inquietação e melancolia. Para ele não há vigília. Salta de sonho em sonho. O seu ambiente é sempre o do sonho (a olhos abertos). É a sua condição de poeta. Não creio que haja poetas realistas. O realismo equivale a uma baixa de tensão poética, que impossibilita a poesia. A poesia não descreve o real, mas projecta a sua intimidade, o invisível, o intangível, para níveis mais elevados, mais rarefeitos. E universais.
13. OMBREIRA
Hipérbole – a verdade é que o nosso passado está cheio de deusas, tantas quantos os nossos encantamentos. Excesso? Talvez. Depois, o silêncio – a porta simboliza-o. E os poetas são (dizem os mestres) os intérpretes qualificados do silêncio. Que nunca se deixa capturar totalmente. Dele só resta o eco. Como uma porta que só pode ser entreaberta. Os poetas entreabrem-na para poderem navegar no silêncio, nessa penumbra, ou melhor, nessa neblina que não deixa ver os perfis com nitidez. O silêncio é amigo da penumbra. Só vagas silhuetas é possível vislumbrar. Por isso é que a poesia é o melhor veículo para navegar nessa neblina. Ela fala sempre de silhuetas que se esgueiram à nitidez de um olhar. É como ficar na ombreira de uma porta olhando para dentro, para a penumbra, até à profundidade possível. Nunca até à parede lá do fundo, como na caverna do Platão. Nem as sombras são definidas. Os poetas nunca querem entrar porta adentro. Se entrassem sairiam do universo poético e esbarrariam no real. Já lhes basta a relação desajeitada e originária que tiveram com ele. O exagerado do Bernardo Soares, que não se ajeitava lá muito sequer com a poesia, dizia: não toques no real sequer com a ponta dos dedos. Em parte, isso acontece com os poetas. É perigoso. Por isso ficam sempre na ombreira da porta ou, então, vão, preferencialmente, para a janela observar a vida que flui na rua circunstante. Depois acompanham-na com palavras ritmadas. A porta dos poetas está sempre iluminada, mas só por fora, com palavras multicolores e luminescentes. Foi por isso que o gémeo pintor a iluminou com as florzinhas brancas do jasmim que tem lá no jardim encantado. E foi por isso que o poeta a cantou. Mas a luz não entra porta adentro, apenas provoca alguma luminosidade superficial. Na verdade, os poetas não convivem bem com portas escancaradas nem com excesso de luz. O seu ambiente natural é a penumbra. Se tiverem de as abrir, só as entreabrem. Eles vivem sempre num intervalo entre si e o mundo. Uma espécie de ombreira, É daí que observam a vida e interagem com o mundo. Mas entre a porta e a janela escolhem sempre a janela. Se tiver de ser a porta ficam ao nível da ombreira. Relacionam-se com o mundo como com o mistério. É um mundo de neblina. Melhor: penumbra. É uma espécie de relação suspensa com o real, com o mundo. E até com eles próprios. À procura do essencial, não da superfície das coisas. E o essencial não está disponível à vista desarmada. Para o captar os poetas usam o espelho que têm na alma (dádiva de Athena). Subtraem-se assim ao fascínio do imediato e da aparência e atingem um maior nível de profundidade. E a linguagem poética é luz que ilumina.
14. PORTAS
Há portas carregadas de mistério e por isso são sedutoras. Já fiz poemas sobre janelas, o ponto de observação mais próprio dos poetas. Mas as portas são mais difíceis: dão para a rua ou para a casa. Entra-se e sai-se fisicamente. O horizonte é mais limitado, embora possa ser fisicamente mais intenso. Não há distância que proteja. O contacto directo com a rua contamina, captura. Na janela é o olhar que domina e o horizonte é mais vasto. Mas esta porta do poema (“A Porta”) é uma porta especial. É quase uma janela. Dá para um mundo que tem lá dentro muito de ancestral e por isso a penumbra é imensa e profunda. Só com a luz da fantasia a incidir sobre a memória é possível percorrer esse vasto e tão profundo território.
15. ECO VERBAL
A poesia é uma linguagem cifrada e, enquanto poesia, não pode ser sujeita à relação verdade/falsidade, porque ela não é descritiva ou denotativa. Ela é performativa, é acção em forma de palavra, é o eco verbal de uma emoção ou sentimento. Ou do silêncio, que está localizado fora e dentro do poeta. O silêncio é ubíquo. Mas o seu eco verbal é o que o poeta ouve dentro de si. Mesmo quando parece contar uma história, às vezes a história de um instante, ela não é uma narrativa que descreve o que aconteceu. Ela é esse mesmo acontecer. O real não é exterior à própria poesia porque ele cabe todo lá dentro e só existe assim. Às vezes numa só estrofe. O real poético não tem exterior. E até a musa só vive (e sobrevive) dentro do próprio poema. Sem poesia, as musas não existem. Não devemos, pois, procurar fora os referentes do discurso poético porque eles estão todos dentro dele. JAS@11-2025
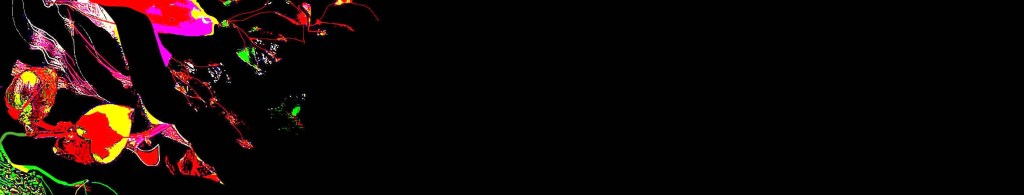
LA POLITICA O IL PESSIMISMO ANTROPOLOGICO
DA CARL SCHMITT
A NICCOLÒ MACHIAVELLI
João de Almeida Santos
ABSTRACT
1513-2013. Quinhentos anos de Il Principe, de Maquiavel, foram uma boa ocasião para relembrar que o secretário florentino deu o pontapé de saída para o arranque da ciência política. Chamou-a à terra, procurou racionalmente encontrar um ponto de observação que lhe permitisse compreender os comportamentos dos homens em sociedade e, em particular, nas suas relações com o poder do príncipe. Partiu de uma antropologia pessimista ancorada numa natureza humana complexa, volúvel e instável e verificou que uma razão política estrategicamente orientada deve seguir com atenção as ondulações do comportamento humano se quiser atingir os seus objetivos. Também se pode dizer que tornou explícito aquilo que o realismo político há muito vinha praticando sem plena autoconsciência e sem sistematização. Carl Schmitt ancorou nele essa ideia de que a política só progride lá onde há pessimismo antropológico e onde, claro, é a política che procura administrá-lo da forma mais eficaz. Maquiavel retirou à política a ganga teológica e moral, devolvendo-a pragmaticamente aos exercícios da razão instrumental ao serviço de um governo eficaz. E foi por isso que chegou tão longe, apesar de tantos clássicos do pensamento, designadamente italiano, o terem incompreensivelmente esquecido.
Palavras-chave – política, pessimismo antropológico, natureza humana, príncipe, povo
***
1513-2013. Cinquecento anni di Il Principe, di Machiavelli, sono stati una buona opportunità per ricordare che è stato il segretario fiorentino a far nascere la scienza politica. L’ha fatta scendere dalle nuvole, cercando razionalmente di trovare un punto d’osservazione che permettesse di comprendere i comportamenti degli esseri umani in società e, sopratutto, i loro rapporti col potere del principe. Ha iniziato il suo percorso da un’antropologia pessimistica fondata su di una natura umana complessa, volubile e instabile e ha verificato che una ragione politica strategicamente orientata dovrà adeguarsi alle ondulazioni del comportamento umano se vorrà raggiungere i suoi obbiettivi. Possiamo anche dire che ha fatto diventare esplicito ciò che il realismo politico da molto esercitava senza averne autocoscienza e senza sistematizzazione. Carl Schmitt ha riconosciuto che è stato Machiavelli a fondare la politica sul pessimismo antropologico e a riconoscere che, su questo fondamento, è proprio la politica che può amministrare il potere nel modo più efficace. Machiavelli ha sottratto dalla política sia la teologia sia la morale, riconducendola prammaticamente ad una ragione strumentale al servizio di un governo efficace. Ed è stato proprio per questo che è arrivato così lontano, nonostante tanti classici, specie italiani, lo abbiano in modo incomprensibile dimenticato per tanti anni.
Parole-chiave – politica, pessimismo antropologico, natura umana, principe, popolo
***
1513-2013. Five hundred years of Machiavelli’s Il Principe was a good occasion to remember that the florentine secretary gave the kick-off for the start of political science. Calling it to the ground, he tried to rationally find a vantage point that would allow him to understand the behaviour of men in society and particularly in its relations with the power of the prince. He started from a pessimistic anthropology anchored in a complex, volatile and unstable human nature and verified that, to achieve its objectives, a strategically oriented political reason must follow the ripples of human behaviour closely. One can also say that he made explicit what without full self-consciousness and without systematization political realism had long been practicing. Carl Schmitt anchored in him the idea that politics can only progress where there is anthropological pessimism and in which, of course, politics seek to manage it most effectively. Machiavelli withdrew theological and moral principles from politics, pragmatically returning it to the exercise of instrumental reason. And that is why he has gone so far, although so many thinkers, including italians, have incomprehensibly forgotten him.
Keywords: politics, anthropological pessimism, human nature, prince, people
Sommario:
1. Politica e Pessimismo
Antropologico
2. Schmitt, il Politico
e il Rapporto Amico-Nemico
3. Politica e Ottimismo
Antropologico
4. Machiavelli e la Meccanica
dei Processi Politici
5. Machiavelli e il Popolo
6. Machiavelli e la Dittatura
7. Conclusione: Machiavelli
e la Natura Umana
8. Note
9. Bibliografia
«E torna l’idea antica, anzi orientale, il circolo delle cose umane, che domina in tutti gli storici del Rinascimento, e nel Machiavelli a capo di tutti: la storia è una vicenda di vite e morti, di beni e mali, di felicità e miserie, di splendori e decadenze».
Benedetto Croce (1976: 224-225).
GIORNI FA HO RIPROPOSTO un piccolo saggio su La Sinistra e la Natura Umana (Santos, 2025), dove sostenevo, tra l’altro, che per la sinistra non esiste natura umana poiché «l’uomo è ciò che può diventare» (Gramsci) o «l’esistenza precede l’essenza» (Sartre). Ossia, la natura umana è un costrutto, prodotto del processo storico-sociale. Si acquisisce, non preesiste all’esistenza, alla vita sociale, alla storia. E così, non potendo fondarsi la politica su di una preesistente antropologia, bisogna ricondurla all’esistenza, alla società, alla storia: la natura umana come processo.
Invece, pare che la storia del pensiero politico registri, in effetti, un persistente sfondo antropologico – esplicito o implicito – in cui si iscrivono le teorie e le dottrine politiche, almeno da Machiavelli in poi (giacché prima lo sfondo era teologico oppure ontologico). Sfondo antropologico che, d’altronde, rimanda agli uomini dell’umanesimo italiano dei XV e XVI secoli e alla loro rivalutazione della mondanità e dei suoi valori profani, tra cui il denaro, dei valori e dei compiti umani strettamente laici e contingenti (Leonardo Bruni, Lorenzo Valla, Leon Battista Alberti, Alessandro Piccolomini, tra altri) (1). Ce lo ricorda anche Croce: «Niccolò Machiavelli è considerato schietta espressione del Rinascimento italiano; ma converrebbe insiememente ricongiungerlo in qualche modo al movimento della riforma, a quel generale bisogno che si avvivò nell’età sua, fuori d’Italia e in Italia, a conoscere l’uomo e a ricercare il problema dell’anima» (Croce, 1973: 204-205). Che poi, nonostante tutto, alcune correnti di pensiero non accettino di ricondurre, per certi aspetti, l’analisi della realtà politico-sociale ad uno sfondo antropologico elementare, ma socialmente molto pregnante e vitale, fa si che paghino, per questo, il prezzo di non capire una parte consistente della realtà storico-sociale. Certo, l’analisi strutturale non è in nessun caso spregevole, ma anche la visione antropologica del mondo non lo è. Soprattutto quando si parla di politica.
1. Politica e Pessimismo
Antropologico
Che ci sia un pensiero antropologico implicito nel Machiavelli pare non ci siano dubbi. Che questo pensiero si possa definire come pessimismo antropologico pare, sotto certi aspetti, sia anche vero: «li uomini sempre ti riusciranno tristi [cattivi], se da una necessità non sono fatti buoni», dice Machiavelli in Il Principe (1966: 115).
E in effetti egli viene regolarmente inserito nella scuola del pessimismo antropologico, per non dire nella scuola degli scellerati, degli assassini, di quelli che predicano la bontà della congiura e degli assassinati, come fa Federico II, nel suo Antimachiavelli, del 1741: «i cattivi esempi che Machiavelli propone ai principi sono di una malvagità imperdonabile» (1987: 61), «ma se Machiavelli non avesse posto come premessa la malvagità del mondo, su che cosa avrebbe basato la sua abominevole teoria»? (1987: 81) (2). «Malvagità del mondo»: la premessa di Machiavelli o il suo pessimismo antropologico, registrato da Federico II. Però, questo registro pessimistico non scaturisce dall’«intento di distruggere i principi di una sana morale», corrompendo la politica, come voleva Federico II, criticandolo subito nella Prefazione del suo Antimachiavelli (1987: 3). Questo registro pessimistico scaturisce, invece, a mio parere, più da uno sfondo realistico, da una profonda conoscenza dell’essere umano, dall’imperfetta natura umana in atto e da un freddo e puramente strumentale uso della ragione analitica, riscontrabile nei suoi scritti, che da un’intenzione malvagia o da una visione filosofica della natura umana, fondata su dei valori o su delle posizioni di principio riconducibili a fondamenti metateoretici. Le parole di Croce, che fungono da leimotiv di questo saggio, sono molto chiare a questo riguardo: «la storia è una vicenda di vite e morti, di beni e mali, di felicità e miserie, di splendori e decadenze». Registro narrativo diverso è quello dei contrattualisti (Hobbes, ad esempio), dove lo sfondo antropologico serve strumentalmente una narrativa politica che cerca di trovare un fondamento legittimo all’idea di Stato rappresentativo moderno.
Dice Carl Schmitt (1972: 143): «si potrebbero analizzare tutte le teorie dello Stato e le idee politiche in base alla loro antropologia, suddividendole a seconda che esse presuppongano, consapevolmente o inconsapevolmente, un uomo cattivo per natura o buono per natura». Distinzione che Schmitt (1972: 143) non considera morale o etica, bensì problematica, vale a dire, come risposta alla domanda «se l’uomo sia un essere pericoloso o non pericoloso, amante del rischio o innocentemente timido». Problematica: vuol dire che può servire da filo conduttore, da guida ad un percorso teoretico ed interrogativo intorno alla natura della politica. Citando Wilhelm Dilthey, Schmitt (1972: 144) chiarisce, così, la posizione del Machiavelli su questo punto: «l’uomo per Machiavelli non è cattivo per natura», dice Dilthey, però «alcuni suoi passi sembrano dire ciò… Ma egli vuol solo esprimere l’idea che l’uomo ha una inclinazione irresistibile a scivolare dalla cupidigia alla cattiveria, se nulla gli si oppone: animalità, istinti, affetti sono il nocciolo della natura umana, in primo luogo l’amore e la paura. Machiavelli è inesorabile nelle sue considerazioni psicologiche sul gioco degli affetti… Da questa tendenza di fondo della nostra natura umana egli trae la legge fondamentale di tutta la vita politica».
Uomo non cattivo per natura, però con inclinazione irresistibile che va dalla cupidigia alla cattiveria: animalità, istinti, affetti, amore, paura – tutte caratteristiche che nel discorso di Machiavelli funzionano come variabili del sistema politico. A cui si potrebbe aggiungere ancora la categoria dell’errore nel senso di una indebita sovradeterminazione (ideologica, pulsionale, passionale o emozionale) dell’uso della ragione strumentale nell’azione politica o nella gestione dei processi politici. Come dice Thierry Ménissier (2012: 61-62): «perché è alle passioni tradizionalmente intese come ciò che spinge l’uomo a compiere atti irrazionali ed egoistici che Machiavelli riconosce un ruolo fondamentale in tutta la collettività umana normale». Ossia, dice Ménissier, «Machiavelli giunge ad una rappresentazione della politica intesa come gioco delle passioni».
Le parole di Dilthey, proprio come quest’ultime, sembrano confermare l’idea di presenza nel Machiavelli di un immenso sforzo analitico di approssimazione alla complessa, volubile, impura ed imperfetta realtà umana coinvolta nei processi politici. E così direi che da questa ten- denza di fondo risulta – più che una legge fondamentale, come vuole Dilthey – un filo conduttore della sua fredda analitica in filigrana della meccanica della società e dei processi politici, dei rapporti umani, dei rapporti di società e, soprattutto, della meccanica del potere, da Il Principe (1513) ai Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio (1513-1519). D’altronde, lo possiamo confermare, ancora una volta, con le parole di Benedetto Croce in Etica e Politica: «Ed è risaputo che il Machiavelli scopre la necessità e l’autonomia della politica, della politica che è di là, o piuttosto di qua, dal bene e dal male morale, che ha le sue leggi a cui è vano ribellarsi, che non si può esorcizzare e cacciare dal mondo con l’acqua benedetta. È questo il concetto che circola in tutta l’opera sua e che, quantunque non vi sia formulato con quella esattezza didascalica e scolastica che sovente si scambia per filosofia, e quantunque anche vi si presenti talvolta conturbato da idoli fantastici, da figure che oscillano tra la virtù politica e la scelleraggine per ambizione di potere, è da dire nondimeno concetto profondamente filosofico, e rappresenta la vera e propria fondazione di una filosofia della politica. Ma quel che di solito non viene osservato è l’acre amarezza con la quale il Machiavelli accompagna questa asserzione della politica e della sua intrinseca ne- cessità. Se gli uomini fossero tutti buoni (egli dice), questi precetti non sariano buoni. Ma gli uomini sono ingrati, volubili, fuggitori di pericoli, cupidi di guadagno; sicché conviene pensare piuttosto a farsi temere che amare, provvedere prima al timore e poi, se è possibile, all’amore. Bisogna imparare a essere non buoni; bisogna che tu manchi di fede quando ti giovi, perché altrimenti gli altri ne mancherebbero a te» (Croce, 1973: 205).
È questo sfondo che porta Machiavelli a delineare il percorso che la ragione tecnica deve fare tra le variabili che compongono quella natura umana che viene coinvolta nell’azione e nei processi politici.
2. Schmitt, il Politico
e il Rapporto Amico-Nemico
Sappiamo che Schmitt fonda il concetto di politico sul rapporto strutturale amico-nemico (Freund-Feind), non proprio in senso antropologico, bensì in senso strettamente dialettico su sfondo ontologico o, al limite, in senso intersoggettivo (tra popoli, intesi come soggetti collettivi). Questo rapporto riguarda i popoli, le loro relazioni in tensione vitale, in quanto estranei tra di loro, non i singoli soggetti (vedasi Santos, 1999: 9-11). Ed ha, perciò, dimensione pubblica, non privata, esprimendosi come «l’estremo grado di intensità di un’unione o di una separazione, di un’associazione o di una dissociazione» (Schmitt, 1972: 109). E, tuttavia, soggiace senz’altro a questo rapporto strutturale della politica – che lo distingue dal rapporto morale (buono-cattivo), estetico (bello-brutto) o economico (utile-che nuoce) – un pessimismo antropologico evidente, peraltro riconosciuto da Schmitt: «teorici della politica come Machiavelli, Hobbes, spesso anche Fichte, con il loro pessimismo in realtà non fanno altro che presupporre la reale possibilità o concretezza della distinzione di amico e nemico. In Hobbes, un pensatore davvero grande e sistematico, la concezione pessimistica dell’uomo, la sua esatta comprensione che proprio la convinzione, presente nelle due parti antagoniste, di essere nel buono, nel giusto e nel vero provoca le ostilità più violente, e alla fine addirittura il bellum di tutti contro tutti, devono essere intese non come parti di una fantasia paurosa e sconvolta, e neanche solo come filosofia di una società borghese fondata sulla libera concorrenza (Tönnies), ma come presupposti elementari di un sistema di pensiero specificamente politico» (1972: 150).
Anche il rapporto amico-nemico, costituente del politico, che coinvolge soggetti collettivi, popoli, alla fine può anch’esso essere riconducibile ad una evidente antropologia d’ispirazione pessimistica, poiché questa pulsione radicale ed antagonistica non esisterebbe se gli uomini fossero buoni per natura e cercassero la pace invece della guerra.
Secondo Schmitt (1972: 145), viceversa, l’ottimismo antropologico è contrario alla politica, tende ad annullarla o, perlomeno, a farla diventare residuale, subordinata o surrogata. Questo ragionamento ottimistico lo vediamo in atto presso i liberali e gli anarchici: essi non costruiscono (non possono costruire) una teoria politica positiva, essendogli permessa soltanto una critica della politica e una visione dello Stato come entità subordinata alla società o, per dirla con Thomas Paine, come risultato dei nostri vizi. Una concezione, dunque, negativa dello Stato e della politica. È questo il senso della concezione negativa della libertà dei liberali. Parlando dello Stato e proprio sotto questo registro, Norberto Bobbio (1981: VII) afferma: «Hegel continuava la tradizione del giusnaturalismo moderno iniziato con Hobbes nel considerare lo stato come il momento positivo dello sviluppo storico dell’umanità, e che soltanto dopo Hegel, e in parte contro Hegel, tutte le correnti vive del pensiero politico ottocentesco, dal socialismo utopistico a quello scientifico, dall’anarchismo in tutte le sue forme al liberalismo fautore dello stato minimo, dal darwinismo sociale al vitalismo nietzscheano, avevano completamente rovesciato l’immagine tramandata del corso storico, abbassando lo stato a momento negativo di cui l’umanità avrebbe dovuto liberarsi o rendendolo sempre più innocuo o sopprimendolo o lasciandolo estinguere» (3).
E chi parla di Stato parla anche di politica. Si conferma così, in queste parole di Bobbio, quella che risulta essere la concezione di Schmitt sulla politica quando fondata su di un ottimismo antropologico, come avremo occasione di vedere più avanti. Ossia, quando lo Stato e la politica diventano momenti negativi del processo storico-sociale, alla fine dello Stato segue la fine della politica stessa, avendosi, dopo, la redenzione piena della vita comunitaria originaria oppure della vita privata in tutto il suo splendore. Fine della Storia.
3. Politica e Ottimismo
Antropologico
Ed è vero, nella storia del pensiero politico troviamo ottimismi antropologici che fungono da fondamento a diverse teorie politiche: i liberali, come detto, dove la politica (lo Stato) serve soltanto a preservare la libertà civile/privata, non politica (vedasi il discorso di Benjamin Constant al Reale Ateneo di Parigi, nel 1819, sulla libertà dei moderni paragonata a quella degli antichi); gli anarchici, rappresentanti del rifiuto radicale dello Stato, fonte di tutti i mali; Rousseau, con il suo discorso sull’origine della diseguaglianza tra gli uomini e sui danni provocati alla celestiale comunità originaria dalla comparsa della proprietà privata; i marxisti che, seguendo Rousseau, vedono anche loro nella proprietà privata e nelle forme di organizzazione politica corrispondenti l’origine dell’alienazione e dello sfruttamento degli uomini, assumendo, in modo tacito, un originario stato di bontà umana da ricostruire attraverso la società comunista, dalla quale spariranno la proprietà privata, le classi, lo Stato e la politica stessa. Queste antropologie (esplicite o implicite) ottimistiche hanno avuto conseguenze politiche: per i liberali, la libertà corrispondeva all’assenza dello Stato dalla vita privata degli individui («Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empeché» – art. 5 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino), così come per gli anarchici, in modo ancora più radicale; per Rousseau la libertà verrebbe ripresa attraverso il contratto sociale, laddove sarebbe un corpo morale e collettivo, lo Stato commissario (non veramente rappresentativo: per i liberali la politica risiedeva proprio nella rappresentanza), a garantirla (4); per i marxisti la libertà sarebbe rimessa nella società che avesse annullato la proprietà, le classi e lo Stato stesso e avesse reintrodotto la logica comunitaria (non è un caso che la società futura venga designata come comunista). L’utopia dei liberali sarebbe lo Stato minimo e suppletivo, ossia la politica minima (confinata appunto al livello della rappresentanza); quella degli anarchici la fine dello Stato e di ogni forma d’organizzazione; quella di Rousseau, un po’ più complessa: da una parte, nel Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1754), egli glorifica la vita comunitaria e campestre come vita felice e secondo l’ordine naturale, subito disturbata quando il primo uomo ha deciso di recintare un po’ di terra, chiamandola sua, ossia introducendo un ordine convenzionale; dall’altra, egli propone nel Contratto Sociale (1762) un superiore superamento del caos provocato da questa proprietà privata attraverso la costituzione di un nuovo corpo morale e collettivo (uno Stato commissario) dove i vizi provocati dall’introduzione della proprietà verranno risolti, ossia, dove la giustizia e la morale sostituiscono l’istinto, il dovere, l’impulso fisico, il diritto, l’appetito, la ragione, le sue inclinazioni – laddove l’uomo acquisisce una libertà che diventa anche morale e obbedisce solo alla legge che egli, collettivamente, ha dato a se stesso. Così il contratto sociale serve solo a risolvere i danni provocati dalla proprietà privata attraverso la costituzione di un corpo morale e collettivo dove la politica in senso convenzionale (come rappresentanza) è assente. In tutte queste teorie o dottrine politiche vediamo in modo palese la presenza di argomenti filosofici che fondano le posizioni sul potere sociale. Il potere come surrogato della civil society; il potere come usurpazione che bisogna, dunque, sopprimere; il potere come corpo morale e collettivo. Dietro a queste posizioni c’è un ottimismo antropologico esplicito o implicito che in qualche modo determina (o ne è conseguenza dimostrativa) il disegno (politico) generale. E, se seguiamo Carl Schmitt, verifichiamo che laddove troviamo posizioni di questo tipo non troviamo teoria o dottrina positiva sulla politica e sullo Stato, anche perché questo, nell’ottimismo antropologico, viene concepito negativamente, come qualcosa che interrompe la bontà naturale degli individui: Stato minimo e suppletivo, per i liberali; fine dello Stato per gli anarchici e marxisti; Corps morale et collectif che redime l’originario peccato proprietario, per Rousseau (5).
Schmitt dice, in effetti, che i liberali non hanno prodotto teoria politica sostanziale; neanche Marx e i marxisti, è vero, hanno prodotto una teoria dello Stato consistente e rilevante (vedasi Bobbio, 1999: 132-147; e 243-251); gli anarchici nemmeno, come pare ovvio; Rousseau neanche, avvicinandosi ad una logica da commissariato, estranea alla teoria moderna dello Stato rappresentativo. Per gli altri, si veda quel che, con Bobbio, abbiamo su riferito. Si capiscono facilmente queste conseguenze poiché lo Stato non viene compreso come entità a sé, bensì come surrogato della realtà sociale, essa sì, veramente sostanziale. Ossia, pare che in tutte queste teorie abbiamo a che fare con delle posizioni a sfondo ontologico, sì, ma dove lo Stato non supera una dimensione ontica o semplicemente strumentale. Da superare, quindi.
Altri sono, poi, gli autori ai quali, costatando il loro pessimismo antropologico, Schmitt riconosce, altresì, un effettivo contributo al pensiero politico: Machiavelli, Hobbes, Bossuet, Fichte, De Maîstre, Donoso Cortés, H. Taine e anche Hegel (dal doppio volto). Vediamo, quindi, ciò che dice Schmitt: «Perciò resta valida la constatazione stupefacente e per molti sicuramente inquietante che tutte le teorie politiche presuppongono l’uomo come cattivo, che cioè lo considerano come un essere estremamente problematico, anzi ‘pericoloso’ e dinamico». E più avanti: «In un mondo buono fra uomini buoni domina naturalmente solo la pace, la sicurezza e l’armonia di tutti con tutti; i preti e i teologi sono qui altrettanto superflui dei politici e degli uomini di Stato» (1972: 146; 149). Certo, in questo mondo, la politica (ma, a quanto pare, anche la religione istituzionale) non può essere ricondotta alla distinzione fondamentale di Schmitt, quella tra amico-nemico. E, così, nel senso in cui viene concepita dal nostro autore, la politica sparisce, svanisce nel nulla. Ovvero non può essere concepita nemmeno come dimensione strumentale, come mero surrogato. C’è poi bisogno di aggiungere che, in questo senso, l’idea di Stato come «monopolio dell’uso legittimo della forza» non ha più senso proprio perché lo Stato non sarebbe più necessario o, perlomeno, l’idea di Stato perderebbe il senso che nel tempo aveva acquisito. Sappiamo che Hegel è stato il grande accordatore (se posso usare questo verbo d’origine musicale) dell’idea di Stato. In primo luogo, per toglierle la connotazione d’interesse che la contaminava dai tempi e dai modi della narrativa giusnaturalista, come sostiene Norberto Bobbio nei suoi Studi Hegeliani. In secondo luogo, perché egli stesso vedeva il mondo empirico, la società civile, come il regno del caos in modo tale che solo l’Idea e il suo corpo organico, lo Stato, erano in grado di risolvere e di superare, diventando il suo vero fondamento, «ihr wahrhafter Grund» (Hegel, 1976: § 256, p. 397; e §§ 238-307, pp. 386-476). Ossia, Hegel, che del mondo empirico ha una visione negativa, anche quando questo mondo vieneconvertito (entgegengearbeitet) in opposizione logica – e, proprio per ciò, come negazione logica – all’interno di un processo dialettico ideale, può così sviluppare una teoria positiva dello Stato, eliminando le contaminazioni provenienti dalla società civile e potendo, così, consolidare la sua natura ideale e universale.
Senza questo intervento hegeliano e senza il presupposto su riferito non sarebbe stata possibile una vera teoria dello Stato. Anche qui siamo davanti ad una prospettiva simile al pessimismo antropologico: lo Stato funge da unificatore formale della molteplicità indiscriminata e caótica (6).
4. Machiavelli e la Meccanica
dei Processi Politici
Perché, poi, tutto questo, parlando di Machiavelli? Perché è qui che risiede una delle questioni centrali della teoria politica e perché la discussione sul machiavellismo di Machiavelli (vedasi Bento, 2012a) si deve porre intorno a questo problema. Non lo ha fatto Federico II e, perciò, ha commesso troppi errori di lettura, nel suo Anti-Machiavelli (1747): una lettura sbagliata e angelica/malefica di Il Principe (1513), dalla prefazione alle ultime pagine. Ma anche il Guicciardini non lo ha fatto quando lo definisce uno «scrittore al quale sempre piacquono sopra modo e’ remedi estraordinari e violenti» (Berardi, 1984: 13).
In effetti, sotto l’analitica di Machiavelli c’è un pessimismo antropologico evidente, come riconosciuto dallo stesso Federico II, laddove nei suoi disegni razionali della meccanica dei processi politici adopera come variabili di questo sistema tutte le caratteristiche specificamente umane (psicologiche, istintuali, passionali, morali, fisiche, razionali, sociologiche) coinvolte in ogni azione, decisione o intenzione politica. Si può vederlo in atto leggendo Il Principe o i Discorsi Sopra la Prima Deca di Tito Livio (1513-1519). Per esempio, nel cap. VI del libro III dei Discorsi, Delle congiure, se non troviamo una parola d’incitazione a praticare la congiura, bollata qui come cattività o giudicata anche all’insegna dell’ingratitudine (1966: 318), ad ammazzare o ad avvelenare i principi, invece troviamo una fredda analitica in filigrana della meccanica della congiura, della sua organizzazione e delle variabili che bisogna prendere in considerazione se si vuole avere successo nell’operazione, tante volte usando la nota tecnica della dicotomia, per meglio spiegarsi (le congiure «si scuoprono o per relazione o per coniettura»; si fanno «o contro alla patria o contro ad uno principe»; «quegli che congiurano, o ei sono uno o ei sono più» (1966: 315, 317, 319; italico mio) (7). Svolgendo questa analitica a fini di conoscenza, Machiavelli serve, certo, gli interessi dei principi, ma serve anche l’interesse d’ogni possibile congiurato, consigliandolo ad avere timidezza o prudenza (8). Dice Machiavelli, nel Libro III, cap. VI, sempre sulle congiure, dei Discorsi: «Ei non mi è parso di lasciare indietro il ragionare delle congiure, essendo cosa tanto pericolosa ai principi ed ai privati (…). Acciò che adunque i principi imparino a guardarsi da questi pericoli, e che i privati più timidamente vi si mettino; anzi imparino ad essere contenti a vivere sotto quello imperio che dalla sorte è stato loro proposto» (1966: 315).
L’analisi punta alla conoscenza della meccanica dei processi umani e, perciò, la conclusione (il consiglio) sul coinvolgimento dei privati nelle congiure non è, anche qui, di tipo morale poiché la si deduce dal pericolo (di morte) che esse rappresentano per tutti quelli che le promuovono o eseguono: «gli uomini privati non entrano in impresa più pericolosa né più temeraria di questa: perché la è difficile e pericolosissima in ogni sua parte. Donde ne nasce che molte se ne tentano e pochissime hanno il fine desiderato» (1966: 315). Machiavelli non cerca di dissuadere gli eventuali congiurati, a difesa del principe, ma neanche a promuovere la congiura nei confronti di un principe considerato cattivo. Egli punta soprattutto al sapere, alla conoscenza, non avendo molto senso le posizioni radicali che, nel tempo, tanti intellettuali illustri (il cardinale Reginaldo Polo, Diderot, Rousseau) hanno assunto circa gli obiettivi nascosti del Machiavelli quando scrive Il Principe: insegnare al popolo la meccanica del potere per meglio conoscere chi lo governa oppure «per indicare ai tiranni la via della loro rovina». Non pare, comunque, che l’obbiettivo centrale del Machiavelli sia stato proprio rivoluzionario (su questo vedasi Santos, 2012: 140-141). Vediamo, quindi, cosa si può dire al riguardo.
5. Machiavelli e il Popolo
Ma allora si potrebbe anche dire lo stesso circa i Discorsi Sopra la Prima Deca di Tito Livio. In effetti, lo si può verificare nei suoi lunghi discorsi, nell’argomentare intorno ad ogni tema, prendendo in considerazione i vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni e analizzando tutti gli argomenti possibili intorno ad un tema. Per esempio, Machiavelli, nel Libro I, Cap. XXXIV e XXXV, arriva alla formulazione dei vantaggi della manutenzione e della separazione dei diversi poteri quando riflette sulle differenze tra la tirannia del Decemvirato e l’autorità dittatoria romana, anticipando quella che sarebbe diventata la più famosa proposta del Montesquieu di Lo Spirito delle Leggi (1748) (9); arriva anche a formulare l’idea del governo delle leggi (non degli uomini), i suoi vantaggi, in modo analitico, ossia in discorso argomentativo; ma formula anche, in modo molto sui generis, quello che soltanto più tardi sarebbe stato teorizzato dai contrattualisti, ossia la superiorità, con tutti i vantaggi politici connessi, del governo del popolo su quello del principe, della repubblica sul principato, del primato del potere ex parte populi su quello ex parte principis. Vediamo, poi, quel che dice nel Libro I, Cap. LVIII, dei Discorsi: «ci sono assai esempli, ed intra gl’imperadori romani ed intra gli altri tiranni e principi; dove si vede tanta incostanzia e tanta variazione di vita, quanta mai non si trovasse in alcuna moltitudine. Conchiudo adunque contro alla comune opinione, la quale dice come i popoli, quando sono principi [quando hanno il potere], sono varii, mutabili ed ingrati; affermando che in loro non sono altrimenti questi peccati che siano ne’ principi particulari. (…) un principe sciolto dalle leggi sarà ingrato, vario e imprudente più che un popolo» (Machiavelli, 1966: 224-225; italico mio); «Ma quanto alla prudenzia ed alla stabilità, dico come un popolo è più prudente, più stabile e di migliore giudizio che un principe. E non sanza cagione si assomiglia la voce d’un popolo a quella di Dio»; e, finalmente, «il che non può nascere da altro, se non che sono migliori governi quegli de’ popoli che quegli de’ principi» (Machiavelli, 1966: 226; italico mio).
Questa chiarissima posizione di Machiavelli pare anticipare senz’altro il discorso dei giusnaturalisti, l’emergenza del popolo come soggetto politico, ma pare altrettanto dar ragione ai suoi critici, ossia, a quelli che hanno visto nelle sue riflessioni, soprattutto, un discorso volto a favorire il potere d’impronta popolare, a insegnare ai popoli le tecniche del governo, svalutando i principati. Posizione contrastata da uno dei suoi innumerevoli critici, peraltro suo amico, Francesco Guicciardini (1984: 41): «Di male vi è, che el popolo per la ignoranzia sua non è capace di deliberare le cose importante, e però presto periclita una republica che rimette le cose a consulta del popolo».
Ma ciò che mi preme sottolineare è che Machiavelli, per via analitica, riesce ad entrare in anticipo in quei sofisticati meccanismi che i teorici del sistema rappresentativo avrebbero introdotto, più tardi, nella teoria politica. E anche che la sua è un’opera svolta soprattutto all’insegna del suo pessimismo e realismo antropologico.
6. Machiavelli e la Dittatura
Ma vediamo più da vicino ciò che dice Machiavelli su quest’«autorità dittatoria» di cui parla nel Libro I dei Discorsi (Cap. XXXIV e XXXV). Il paragone viene fatto tra i Decemviri e il Dittatore: avendo entrambi poteri eccezionali, i Decemviri, tuttavia, hanno abolito le istituzioni che potevano moderare l’uso del potere, mentre il secondo coesisteva con queste istituzioni, specie con il Senato, i Tribuni ed i Consoli, funzionando la sua magistratura in un registro di tipo checks and balances. Mentre i primi esercitavano il potere come dittatura sovrana, l’altro lo esercitava come dittatura commissaria (Schmitt). Ossia, nei primi si esauriva l’ordine costituzionale; nel secondo, l’ordine costituzionale gli sottostava poiché la figura del Dittatore era prevista in questo stesso ordine («dato secondo gli ordini pubblici», «per vie ordinarie», Machiavelli, 1966: 188), non potendo, questo, in nessun modo, cambiare quest’ordine. In effetti, il Dittatore, potremmo dire nel segno di Hans Kelsen (10), essendo previsto e regolato dall’ordine costituzionale, ricava dall’ordinamento giuridico la sua stessa legittimità. Ciò che non avviene con i Decemviri o qualsiasi dittatura sovrana, dove il principio di legittimità può solo essere fondato politicamente. D’altronde questa riflessione sui due tipi di potere eccezionale è molto interessante e significativa poiché, essendo i Decemviri eletti e il Dittatore nominato dal Senato o da un Console, si vede che Machiavelli valorizza molto di più l’ordine costituzionale e legale – che prevede i tempi e i modi di concedere l’autorità assoluta – arrivando addirittura a metterla a confronto con l’autorità data da’ suffragi liberi. Questa posizione ci porta a ripensare ciò che Machiavelli dice sul rapporto tra popolo e principe, valorizzando il primo sul secondo, poiché il suffragio, riconducendo inevitabilmente al suo fondamento popolare, può anch’esso essere valorizzato solo all’interno di un ordine costituzionale e legale razionale (bene ordinato), potendo essere deviato se l’autorità non viene data «con le debite circunstanze e ne’ debiti tempi», com’è successo con i Decemviri (1966: 190). Popolo, suffragio, ordine costituzionale-legale razionale, autorità, modalità e temporalità del potere – questi paiono essere gli elementi che fondano le basi di una repubblica ben ordinata: «e principali fondamenti che abbino tutti li stati, così nuovi come vecchi o misti, sono le buone legge e le buone arme», diceva in Il Principe (1966: 86); «talché mai sia perfetta una repubblica, se con le leggi sue no ha provisto a tutto, ed ad ogni accidente posto il rimedio e dato il modo a governarlo», diceva nei Discorsi (1966: 189; italico mio). Ossia: una repubblica che non permetta un’autorità assoluta (dittatura sovrana), poiché essa «in brevissimo tempo corrompe la materia e si fa amici e partigiani» (Machiavelli, 1966: 190).
Dalle seguenti parole di Machiavelli (1966: 190) si può confermare quanto detto: «e se si considerrà l’autorità che ebbero i Dieci e quella che avevano i Dittatori, si vedrà sanza comparazione quella de’ Dieci maggiore. Perché creato il Dittatore, rimanevano i Tribuni, i Consoli, il Senato, con la loro autorità; né il Dittatore la poteva tòrre loro: e s’egli avesse potuto privare uno dello Consolato, uno del Senato, ei non poteva annullare l’ordine senatorio e fare nuove leggi. In modo che il Senato, i Consoli, i Tribuni, restando con l’autorità loro, venivano a essere come sua guardia a farlo non uscire della via diritta. Ma nella creazione de’ Dieci occorse tutto il contrario: perché gli annullorono i Consoli ed i Tribuni, dettero loro autorità di fare legge ed ogni altra cosa, come il Popolo romano. Talché, trovandosi soli, sanza Consoli, sanza Tribuni, sanza appellagione al Popolo, e per questo non venendo ad avere chi gli osservasse, ei poterono il secondo anno, mossi dall’ambizione di Appio, diventare insolenti» (11).
È chiara qui la presenza del concetto di separazione dei poteri come condizione della limitazione del potere stesso, anche quand’esso fosse straordinario. Ma soprattutto bisogna sottolineare che il più importante di tutto questo risiede nella costituzione, nel modo come la legge prevede e regola il funzionamento del sistema politico, prendendo in considerazione la volubilità del comportamento umano, quella inclinazione irresistibile a scivolare dalla cupidigia alla cattiveria, se nulla gli si oppone, quella tendenza di fondo della natura umana di cui parlava Dilthey. Ed è proprio per rimediare a ciò che intervengono le costituzioni, le leggi, la forza istituzionale, insomma la politica e lo Stato. Come verrà ad essere formulato da Hobbes, nel Leviatano, o, in generale, nella narrativa giusnaturalistica.
7. Conclusione: Machiavelli
e la Natura Umana
Se ci fossero dubbi circa lo sfondo pessimistico che sottostà alle sue riflessioni basterebbe leggere la favola Il demonio che prese moglie (1966: 845-853),e che riassumo in poche parole. Stando i demoni discutendo del perché tutti gli uomini condannati all’inferno si lamentassero del matrimonio (avere preso moglie – 1966: 847) come la principale causa dell’infelicità di quei poveri mortali, decisero di inviare uno di loro sulla terra per prendere moglie e fare la verifica di quanto detto da quelli. Cosa che capitò a Belfagor, arcidiavolo: col nome de Roderigo va a Firenze, munito di un bel po’ di soldi, e lì prende moglie. Succe- de che sua moglie, Onesta, terribile e vanitosa, gli fa spendere tutti i soldi, in modo tale che non aveva Roderigo alcuna possibilità di pagare, dovendo, poi, scappare ai creditori che lo perseguitavano. Salvato da un tale Gianmatteo, decide di ricompensarlo, dandogli il potere di salvare donne indemoniate, mediante il pagamento di somme di denaro. Come in effetti successe. Dopodiché Roderigo, essendosi liberato del debito, disse a Gianmatteo che non voleva più vederlo. Successe, tuttavia, che la fama di questi come guaritore aveva attraversato i confini ed era arrivata fino al re di Francia, che aveva sua figlia indemoniata. Chiamato Gianmatteo, non poté questi fare nulla per aver perso i suoi poteri, rischiando così la morte. In un ultimo dialogo con Roderigo, questo gli dice che lo avrebbe fatto impiccare per aver osato cercare di guarire la figlia del re. Al che Gianmatteo risponde che in quest’ultimo suo tentativo di salvarla era presente Onesta, la moglie di Roderigo. E, così, impaurito e spaventato dalla presenza della moglie, Roderigo-Belfagor decise di scappare via tornando in inferno e liberando la figlia del re di Francia, Lodovico VII.
Certo, è una favola. Prende in giro il matrimonio e soprattutto le donne, ma la radicalità della conclusione della vicenda, facendo diventare l’inferno un paradiso rispetto al matrimonio, illustra bene questo pessimismo antropologico che giustifica la necessità di dar vita agli ordinamenti costituzionali e legali e ad una politica ragionata che sia in grado di rispondere con efficacia ai corsi e ricorsi della vita in società, alle tendenze deleterie degli uomini, alle inclinazioni perverse verso la cattiveria, il potere o il denaro, insomma, all’impura esistenza degli esseri umani, che non possiedono le ali angeliche della vita celestiale, quando anch’essa sia costituita da angeli dalle ali nere. Esistenza che, in malvagità e cupidigia, supera addirittura i conosciuti protagonisti infernali dell’aldilà. Se la mia interpretazione è giusta, è proprio questo che Machiavelli vuole evidenziare: un mondo impuro ed imperfetto che bisogna conoscere in profondità per governarlo il meglio che si possa. Ed è così che in base a questo pessimismo antropologico è possibile aprire le porte ad una teoria politica moderna, libera dai vincoli teologici o morali e in grado di far fronte alle umane aspettative di autogoverno.
8. Note
(1). Vediamo, ad esempio, ciò che, a questo riguardo, dice Windelband, nella sua Storia della Filosofia Moderna (1878) sul Rinascimento: «Perciò l’Italia del Rinascimento ci dà lo spettacolo d’un rigoglio dell’individualismo; essa è la culla dell’individuo moderno». «Però anche questo individualismo sorpassò ben presto i limiti entro cui poteva dirsi giustificato. Preso dalla vertigine della libertà assoluta dell’autodecisione, l’individuo innalzò al posto della libertà l’arbitrio, e, nel rigoglio delle sue forze, si scatenò come potenza distruggitrice» (Windelband, 1925: III, 9).
(2). Interessante, a questo rispetto, l’osservazione, del tutto diversa, di Gramsci nei Quaderni del Carcere: «Lo Schopenhauer avvicina l’insegnamento di scienza politica del Machiavelli a quello impartito dal maestro di scherma che insegna l’arte di ammazzare (ma anche di non farsi ammazzare) ma non perciò insegna a diventare sicari e assassini» (Gramsci, 1975: III, 1568, §<9>).
(3). Ma è lo stesso Bobbio (1981: 12) a sottolineare la rottura tra Hegel e il giusnaturalismo: «non c’è opera giuridico-politica di Hegel in cui la teoria contrattualistica (con particolare riferimento a Rousseau) non venga confutata». «Hegel non disconosce la categoria del contratto [sociale], ma le riconosce validità solo nella sfera del diritto privato: la teoria del contratto sociale è un’indebita trasposizione di un istituto proprio del diritto privato alla sfera del diritto pubblico (trasposizione che, per Hegel, è uno degli errori caratteristici di tutta la tradizione del diritto naturale). Con estrema energia, già nel saggio del 1802, deplora che la forma di un siffatto rapporto privato subordinato si sia introdotta nell’assoluta maestà della totalità etica», facendo dipendere «la volontà oggettiva della costituzione statale» dalla «volontà soggettiva dei singoli» (1981: 13-14).
(4). «La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point: elle est la même, ou elle est autre; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires» (Rousseau, 1762: 80; vedasi anche Della Volpe, 1974: 45-60).
(5). In una lettura volutamente coerente e conseguente: dal Discorso (1754) al Contratto (1762).
(6). Interessante a questo riguardo la critica di Marx, in Kritik des Hegelschen Staatsrechts, del 1843 (Marx-Engels Werke, I, Berlin, Dietz Verlag, 1981), ai Grundlinien der Philosophie des Rechts, del 1821 (Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1976), di Hegel, proprio per avere sviluppato questa formalizzazione del concetto di Stato.
(7). Sulle congiure vedasi il saggio di Bento (2013).
(8). Sulla discussione intorno a chi si rivolgeva il Machiavelli, chi conosceva o non conosceva la meccanica del potere, si veda Gramsci (1975).
(9). Dice Gramsci (1975: III, 1572, §<13>) a questo riguardo: «In Machiavelli si può sco- prire in nuce la separazione dei poteri e il parlamentarismo (il regime rappresentativo): la sua ferocia è rivolta contro i residui del mondo feudale, non contro le classi progressive».
(10). Si veda Kelsen (1984: 118-119): Il principio di legittimità.
(11). Vedasi anche quest’importante brano dei Discorsi: «Oltra di questo, il Dittatore era fatto a tempo e non in perpetuo, e per ovviare solamente a quella cagione mediante la quale era creato; e la sua autorità si estendeva in potere diliberare per se stesso circa i rimedi di quello urgente pericolo, e fare ogni cosa sanza consulta e punire ciascuno sanza appellagione: ma non poteva fare cosa che fussi in diminuzione dello stato; come sarebbe tòrre autorità al Senato o al Popolo, disfare gli ordini vecchi della città e farne de’ nuovi» (Machiavelli, 1966: 188).
9. Bibliografia
Bento, A. (org.) (2012a). Maquiavel e o Maquiavelismo. Coimbra: Almedina.
Bento, A. (org.) (2012b). Razão de Estado e Democracia. Coimbra: Almedina.
Bento, A. (2013). “«Das Conjuras». Análise de um Capítulo de «Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio»”. ResPublica, n.º 13, pp. 63-78.
Berardi, G.F. (1984). “Introduzione”. In: Guicciardini, F. (1984).
Bobbio, n. (1981). Studi Hegeliani. Diritto, Società Civile, Stato. Torino: Einaudi.
Bobbio, n. (1999). Ni con Marx ni Contra Marx. México: Fondo de Cultura Económica.
Constant, B. (1819). De la liberté des anciens comparée a celle des modernes. Online: <http://www.panarchy.org/constant/liberte.1819.html> (referência de 13-12-2013).
Croce, B. (1973). Etica e Politica. Roma-Bari: Laterza.
Croce, B. (1976). Teoria e Storia della Storiografia. Roma-Bari: Laterza.
Della Volpe, G. (1974). Rousseau e Marx. Roma: Riuniti.
Federico II (1987). L’Antimachiavelli. Pordenone: Edizioni Studio Tesi.
Gramsci, A. (1975). Quaderni del Carcere. Torino: Einaudi.
Guicciardini, F. (1984), a cura di Gian Franco Berardi. Antimachiavelli. Roma: Riuniti.
Hegel, G. F. (1976). Grundlinien der Philosophie des Rechts. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Kelsen, H. (1984). Teoria Generale del Diritto e dello Stato. Sonzogno: Etas.
Machiavelli, n. (1966). Opere. Milano: Mursia.
Marx, K. (1981). Kritik des Hegelschen Staastsrechts. In Marx-Engels Werke, Band (I).
Berlin: Dietz Verlag, pp. 203-333.
Ménissier, T. (2012), “Inactualidade de Maquiavel? Regresso ao «Maquiavelismo»”. In: A. Bento, A. (org.), 2012b: 51-99.
Montesquieu (1748; 1970). De l’Esprit des Lois. Paris: Gallimard.
Rousseau, J.-J. (1754; 1975). Sull’Origine dell’Ineguaglianza. Roma: Riuniti.
Rousseau, J.-J. (1762). Du Contrat Social. Amsterdam: Marc-Michel Rey. Ed. portuguesa:
(1981). O Contrato Social. Mem Martins: Europa-América
Santos, J. A. (1999). Breviário Político-Filosófico. Lisboa: Fenda.
Santos, J. A. (2010). A Esquerda e a Natureza Humana: https://joaodealmeidasantos.com/2025/11/04/artigo-226/.
Santos, J. A. (2012), “Viagem Pelas Releituras de Maquiavel”. In: A. Bento (org.), 2012a: 137-157.
Sartori, G. (2008). Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza Editorial.
Schmitt, C. (1972). Le Categorie del «Politico». Bologna: Il Mulino.
Windelband, G. (1925). Storia della Filosofia Moderna (I-III). Firenze: Vallecchi.
JAS@11-2025

A ESQUERDA E A NATUREZA HUMANA
João de Almeida Santos
SE É POSSÍVEL LER O CÓDIGO GENÉTICO DA ESQUERDA, não será difícil constatar que ela tem de desenvolver uma nova ontologia da relação entre os elementos constituintes do tecido social, propondo novas leituras sobre a sociedade e sobre si própria, em linha com o seu código genético, mas também com as formas organizativas das sociedades e com as tendências estruturais que se exprimem num mundo em profunda transformação. Trata-se de reconstruir uma filosofia em linha com os tempos, sem cedências aos novos ideologismos de duvidosa inspiração que têm alimentado abundantemente o discurso triunfante da direita radical.
Sumário
- “Ética da Convicção” e “Ética da Responsabilidade”.
- Uma nova «Ontologia da Relação».
- Fracturas e Interrogações.
- A Esquerda e a Natureza Humana – uma Questão de Fundo.
- Repensar a Esquerda, repensando a Sociedade.
- Uma visão «espacial» da política.
- A Esquerda e o Estado Social.
- A Esquerda e os Intelectuais.
- Conclusão.
1. Ética da Convicção e Ética da Responsabilidade
Num tempo em que da política já só restam, aparentemente, técnicas de marketing para rostos de líderes, tem sentido reflectir sobre as identidades que esses rostos de algum modo representam ou dizem representar. Ocupo-me, hoje, da esquerda.
Afinal, que questões se põem hoje a uma esquerda em profunda crise? A uma esquerda que, em linha com o seu código genético, se mantenha radical nos seus pressupostos filosóficos, valores, princípios e ideais, na sua utopia, no seu élan propulsivo (ética da convicção) quanto moderada nos programas com que se propõe governar – compromisso e pragmatismo (ética da responsabilidade). Creio que é desta combinação que resulta parte importante da sua identidade: a justa combinação entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Porque se a esquerda tem inscrita no seu código genético a palavra «utopia», ela própria, inspirando-se em valores projectados no futuro e numa forte ética da convicção, cruza inevitavelmente o seu destino com o da democracia representativa, um espaço social de compromisso. Mas um espaço político que, afinal, também ele próprio se revela utópico porque exige, como seu fundamento radical, uma cidadania plenamente informada, esclarecida, movida por valores e por uma consistente ética pública. Em linha com o velho imperativo categórico de Kant: age como se a máxima da tua vontade pudesse valer sempre, e ao mesmo tempo, como princípio de uma legislação universal. Responsabilidade máxima para a acção individual que seja determinada por critérios morais. E também porque, ao contrário do que pensam os decisionistas e os absolutistas da ética da convicção, a democracia implica, em si mesma, compromisso, diálogo, interacção, isto é, uma ética da responsabilidade que modere, oriente e regule a força propulsora das convicções. Liberdade, sim, mas também responsabilidade. A esquerda deve, pois, procurar harmonizar a ética da convicção com a ética da responsabilidade.
2. Uma nova Ontologia da Relação
A esquerda e a democracia têm também inscrita na sua matriz a palavra igualdade. Alexis de Tocqueville, liberal, viu isso como ninguém no sistema político americano. A sua era a «igualdade de condições» no território social em que se moviam os americanos. Curioso é que os primeiros liberais (na altura, os progressistas) eram antidemocráticos («democráticos e quase comunistas», foi uma frase usada pelo liberal Croce para falar de democracia) porque anti-igualitários e avessos ao sufrágio universal (censitários: veja-se a constituição francesa de 1791, os escritos de Kant ou de Constant) e cedo (e muitos) toleraram (em Itália, por exemplo) soluções políticas autoritárias. Ao princípio, em Itália, o próprio Benedetto Croce, esse «Papa laico» italiano, como lhe chamou Antonio Gramsci, e outros eminentes intelectuais italianos. De resto, os valores matriciais da direita são a ordem, a diferença (a desigualdade) e a hierarquia (Ernst Nolte). Dizendo-o, com o Bobbio de Destra e Sinistra, a esquerda, no signo de Rousseau, afirma que, à partida, todos são iguais, sendo a sociedade (e os seus mecanismos) a fomentar, quando mal organizada, as desigualdades (a propriedade privada, a que se refere no Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdades entre os Homens). Que, por isso mesmo, são sociais, não naturais. Pelo contrário, a direita, no signo de Nietzsche, afirma que, à partida, todos são desiguais, sendo a sociedade que, indevidamente, torna igual o que igual não é, tornando-se, assim, necessário o aprofundamento das singularidades e a minimização dos mecanismos sociais ou públicos de integração igualitária. É por isso que uma esquerda que se preze tem de sublinhar esta diferença matricial entre a esquerda e a direita, mas sem estigmatizar a ideia contrária porque também ela tem algum fundamento, tratando-se, no fundo, de diferenças de grau, de maior valorização de um princípio ou de outro. O que não deve é limitar-se a cantar e a glorificar os seus velhos valores de referência ou a exercer a função exclusiva de eterno sindicato dos deserdados, dos desiguais. O que deve, isso sim, é colocar os valores da liberdade e da igualdade no seu devido lugar, assumindo a complexidade da natureza humana e da sua organização societária. Porque foi o uso arbitrário destes valores que levou, por um lado, ao totalitarismo (o igualitarismo) e, por outro, ao utilitarismo mais desbragado: igualitarismo da miséria e darwinismo social. E se é possível ler o código genético da esquerda, também é verdade que a leitura desse código não é suficiente para uma sua afirmação política: ela tem de fazer uma fenomenologia crítica do existente ou, melhor, uma ontologia do presente, ou melhor, ainda, uma ontologia da relação, propondo novas leituras em linha com o seu código genético. O que é uma ontologia da relação? O reconhecimento de que o modelo de relação social centrado no sujeito e no objecto, no emissor e no receptor, no produtor e no consumidor ou, ainda, no actor e no espectador cedeu o seu lugar a um modelo de relação centrado no espaço intermédio, a um modelo relacional onde os sujeitos se comportam como variáveis num sistema horizontal sem perderem, ao mesmo tempo, a sua dimensão subjectiva ou substancial. E a Rede é o melhor modelo para relançar a reflexão porque ela é um espaço intermédio, uma realidade que já está a estruturar – e para além das fronteiras territoriais nacionais – novos tipos de relação que nada têm a ver com o módulo moderno e espacial de relação e de representação. É neste espaço intermédio e nesta lógica relacional que se pode identificar uma esquerda que queira superar uma filosofia do sujeito, meramente instrumental, própria da sociedade de massas, da «democracia do público», da era do «spinning» e de uma visão meramente utilitarista da própria natureza. Neste modelo, a igualdade é um valor central porque nele não há hierarquia e é horizontal (e não vertical). Neste espaço, que poderíamos identificar como um espaço reticular, pode emergir finalmente um indivíduo moderno livre de vínculos orgânicos e capaz de irromper directamente, sem mediadores e «gatekeepers», no espaço público, graças exclusivamente à sua competência social. Ou seja, estamos perante um espaço comunitário de novo tipo que não só não anula a individualidade como ainda a reforça. Mas para isso é necessário que o princípio da igualdade, garantido pelo Estado, torne possível a emergência dessa competência social. Este, como se vê, não é o espaço de uma esquerda que ainda se move por módulos comunitaristas e antilibertários, centrados exclusivamente na ética da convicção e numa visão comunitarista da sociedade. Bem sei que neste novo espaço comunitário há distorções que sobrevieram e que existe um poder administrativo que gere a rede e que a pode administrar ao sabor dos seus próprios interesses, como se tem verificado na mudança da sua relação com os utilizadores, transformando-os em matéria-prima em vez de clientes directos e na gestão dos processos através de algoritmos programados exclusivamente para fins de interesse empresarial e não de serviço e de responsabilidade social. Mesmo assim, o modelo é o que referi e pode exprimir uma nova filosofia social que a esquerda deveria já ter compreendido e metabolizado em vez de o diabolizar (sobretudo a esquerda radical) como o novo imperialismo digital, como puro “capitalismo da vigilância”. O que está em causa é, todavia, a superação do velho modelo orgânico e territorial de relação. A ontologia da relação corresponde ao reconhecimento de que a assimetria presente na relação entre sujeito e objecto no plano das relações sociais, a relação vertical e hierárquica expressa na chamada filosofia do sujeito, pode ser superada por um novo conceito de igualdade na esfera do espaço intermédio, ou seja pela equivalência recíproca entre os sujeitos do sistema. Por exemplo, a ideia de igualdade no consumo: tal como todos os produtores são ao mesmo tempo consumidores, assim todos os consumidores são ao mesmo tempo produtores. Na ideia igualitária de consumidor verifica-se esta correspondência num mesmo terreno social comum.
3. Fracturas e Interrogações
Poderíamos, pois, perguntar: as fracturas sociais da sociedade pós-industrial – aquela que foi inaugurada pela revolução da microelectrónica – são as mesmas da velha sociedade industrial, com as grandes concentrações operárias, o fordismo e o taylorismo? Não, deveria ser a resposta. Que efeitos sociais produziu a generalização das, humanamente desérticas, linhas de «robots» de comportamento não determinístico, vigiadas pelos poucos e novos «operários» de bata branca, os «condutores», ou já geridos pela inteligência artificial? Que soluções tem a esquerda para responder aos desafios das grandes plataformas digitais e para os profundos desvios, inclusivamente políticos e empresariais, que têm vindo a conhecer? O novo conceito de «middle class», não patrimonial, profissionalmente instável e culturalmente nómada, que lugar ocupa na reflexão estratégica da esquerda? Que balanço e soluções há para um Estado social cuja crise se tornou praticamente crónica? A responsabilidade da sua crise reside, ou não, no excesso de procura e nas fragilidades da oferta,mesmo quando é a esquerda a governar? Ou seja, a sua crise resulta, ou não, de uma contradição interna, e genética, que o pode levar a uma espiral autodestrutiva? Qual o papel dos «media» e dos “new media” na nova hierarquia dos poderes? A partidocracia e a endogamia não continuam a afectar gravemente a democracia, confiscando ilegitimamente direitos à cidadania? Qual é a solução para estes dois graves desvios? Que papel têm os meios de comunicação, clássicos e novos, na erosão da democracia representativa e na queda tendencial do valor de uso do voto? Como se transforma a «cidadania passiva» em «cidadania activa» numa época de crescimento da abstenção eleitoral? Como libertar o cidadão da nova «gaiola electrónica» que substituiu essa «gaiola de aço» de que falava Max Weber? A esquerda incorporou de forma consistente na sua matriz o individualismo moderno ou pretende superá-lo promovendo novas expressões de sociabilidade comunitária? Que relação tem a esquerda com a tradição liberal clássica? Há nisso uma incompatibilidade insuperável? A esquerda moderada e de governo assume definitivamente causas electivas ou mantém-se prisioneira de um frio pragmatismo de governo? Que lugar ocupa o consumidor na acção reguladora e de controlo do Estado perante o enorme poder dos grandes e inúmeros oligopólios (banca, telecomunicações, energia, centrais de distribuição, etc.)?
O espaço intermédio (o espaço social constitucionalmente regulado) onde hoje ocorrem as relações sociais não exige que a esquerda formule uma nova ontologia da relação, para além da relação sujeito-objecto, emissor-receptor, meio-fim, produtor-consumidor, actor-espectador e de qualquer conceito vertical e instrumental das relações humanas? Há muito que se fala de crise de representação e ninguém responde a esta crise. Agora até já se fala de democracia pós-representativa e poucos são os que se preocupam com a mudança de paradigma político que já estamos a viver. Que pensa a esquerda do novo constitucionalismo democrático que a direita radical parece estar já a esboçar, designadamente em Itália? E do constitucionalismo digital que enquadre a nova sociedade digital e em rede ou a sociedade algorítmica? Bastará este constitucionalismo para regular o espaço digital ou deverão ser criadas outras plataformas que limitem o poder e o alcance das já existentes, quase todas elas nos EUA ou na China? O protagonismo político dos «media» e o mais sofisticado protagonismo das plataformas digitais rivalizam hoje com o dos partidos tradicionais, mas ninguém os confronta com a questão da legitimidade. As novas “constituencies” financeira e digital não merecem uma resposta articulada da esquerda? A verdade é que a esquerda está em crise generalizada e por alguma razão será. Falta-lhe hoje uma filosofia integrada que sustente uma nova cartografia cognitiva da esquerda.
4. A Esquerda e a Natureza Humana – uma Questão de Fundo
A esquerda sempre se confrontou com um desafio a que nunca foi capaz de responder claramente: o desafio de assumir uma ideia complexa de natureza humana. Por uma razão essencial: esta ideia era considerada incompatível com a dinâmica transformadora do processo histórico-social. Porque a esquerda sempre viu o processo humano como processo histórico-social em devir, onde a componente natural ocupava sempre uma posição subalterna. Outra coisa era atribuir-lhe leis de desenvolvimento de tipo determinístico, como viria a fazer o marxismo ortodoxo. Se tivesse de falar de natureza humana, a esquerda clássica diria sempre que ela é o resultado de um processo, não havendo predeterminação digna de registo. O que enquadrava esta visão era uma filosofia do sujeito (por exemplo, uma classe axialmente centrada no devir histórico, como queria o Lukács de História e Consciência de Classe). Os existencialistas traduziram esta ideia através daquela conhecida fórmula de que «a existência precede a essência». E, antes, Gramsci traduziu-a por aquela outra feliz expressão de que o homem é aquilo em que se torna («è ciò che può diventare»). Mas a verdade é que há, em Marx, páginas muito interessantes, nos Manuscritos de 1844, onde a dimensão natural da vida em comunidade é muito valorizada e onde a natureza é considerada como «corpo inorgânico do homem». De qualquer modo, a ideia de que existem no ser humano determinadas características estruturais comuns que, na sua aleatoriedade, tendem a manifestar-se recorrentemente na vida em sociedade, sendo reconduzíveis aos próprios indivíduos singulares, nunca foi muito acarinhada conceptualmente pela esquerda. As características comuns, naturais e morais, eram tendencialmente distribuídas por classes sociais, tendo, depois, uma sua expressão política. A ideia genérica de que o «homem é o lobo do homem» («homo hominis lupus») tem, na visão da esquerda clássica, uma concreta tradução de classe: o homem-lobo e o homem-cordeiro representam classes antagónicas. A natureza humana, que aqui surge como aleatória e transversal a todos os indivíduos, na lógica da esquerda fracturava-se em função das classes. A esquerda sempre assumiu um optimismo antropológico que um dia haveria de prescindir da política, ao restabelecer a inocência natural do ser humano (Rousseau), corrompida pela sociedade e pelo triunfo provisório das pulsões negativas do ser humano (veja-se a este respeito o meu ensaio “Da Carl Schmitt à Niccolò Machiavelli. La Politica o il Pessimismo Antropologico”, em ResPublica, 13/2013, pp. 43-61: https://recil.ulusofona.pt/collections/0cb22049-801b-43c0-9fc2-c6371ba40ac4). Se, no utilitarismo, a pulsão egoísta orientada para o útil podia converter-se em benefício colectivo, à esquerda este só podia ser obtido por intervenção da «razão pública» que a corrigisse. A esquerda sempre acreditou na capacidade de a sociedade corrigir os desvios por ela mesma provocados. Sempre acreditou na ideia de um progresso contínuo. Sempre professou um optimismo antropológico conducente ao fim da política. Esta crença no valor taumatúrgico da dinâmica social levou-a, contudo, a desvalorizar a força das pulsões estruturais que sempre persistem e condicionam o processo social, para além do princípio da razão. E o sábio princípio da lei viquiana dos “corsi e ricorsi”, de épocas de avanço progressivo e de épocas de regressão. O resultado tem sido a adopção do construtivismo social e dos seus derivados hoje tão presentes e perturbadores. Lá onde a esquerda tem procurado usar a razão para canalizar um processo histórico-social considerado progressivo, muitas vezes tem esquecido o papel resistente dessas pulsões estruturais que também determinam o curso histórico (na fase dos “ricorsi”) e que fundamentam a ideia de pessimismo antropológico, de que falo longamente no ensaio que acima citei. Alguém (Althusser, por exemplo) dizia que a ideologia é eterna e que, mesmo quando parece que morre, sempre há-de ressurgir, de novo vigorosa, em tempos futuros. Também Jürgen Habermas, nos chamados «Seminários de Istambul», parece ter revalorizado o papel das religiões nas chamadas sociedades pós-seculares. Ou seja, de algo que a esquerda sempre tendeu a remeter para o domínio da pura alienação, não admitindo que essa possa ser uma componente estrutural da natureza humana, ligada à ideia de finitude. Nem de outro modo se compreende o poder das religiões. Mas é claro que a esquerda muito ganharia em compreensão do mundo se incorporasse estes dados rejeitados na sua rede conceptual e procurasse integrá-los numa lógica racional superior, sem qualquer veleidade construtivista, projectando e inscrevendo idealmente esse «corpo inorgânico» de que falava Marx sem o esmagar com a força do puro voluntarismo ético–político. Toda esta lógica está, afinal, envolvida por um voluntarismo moral («ética da convicção») que dificulta o reconhecimento das reais fracturas sociais e das persistentes pulsões sociais que, de tempos a tempos, acabam por determinar soluções regressivas (“ricorsi”) e, por isso, uma sua correcta interpretação e superação. Por outro lado, a “ética da responsabilidade” não pode ser descartada porque é ela que permite a descida à terra das altas convicções. Na verdade, o reconhecimento de que as sociedades humanas estão também elas condicionadas por pulsões de tipo estrutural torna-se decisivo. É neste reconhecimento que reside a capacidade de progredir de forma sustentada, reconduzindo o exercício da vontade política ao equilíbrio social. Conjugando optimismo da vontade com pessimismo da razão, num quadro onde a ética pública se funde com a política. A esquerda deve reconciliar-se com a ideia de natureza humana e até com a ideia de pessimismo antropológico, renunciando à ideia de que a regressão histórica é somente fruto de um livre e ocasional exercício da vontade humana ou societária. Existem no ser humano e, portanto, também nas sociedades humanas, persistentes pulsões negativas que em determinadas circunstâncias se impõem ao processo histórico provocando formas regressivas de sociabilidade (“ricorsi”).
5. Repensar a Esquerda, repensando a Sociedade
Mas a tendência a repensar a esquerda continua a ser mais crítica do que propositiva, afirmando-se mais como proclamação de intenções do que como concreta reflexão analítica sobre a sociedade. Repensar a esquerda ou repensar a sociedade? Eu creio que para repensar a esquerda é preciso, antes, repensar a sociedade. E é preciso também abandonar as proclamações morais, indo directamente ao assunto. E, para ir ao assunto, é preciso reflectir sobre as mutações profundas que estão a revolucionar a democracia, o novo espaço público, os novos modelos de desenvolvimento, a emergência da inteligência artificial para além da mecânica produtiva e do respectivo hardware, avançando para o domínio da linguagem, as novas formas pós-orgânicas de reorganização política da sociedade, a vertiginosa mobilidade social pós-nacional (imigração/emigração), o papel do indivíduo no conjunto orgânico de uma sociedade onde parece ser o intangível a ditar as regras essenciais. Eu diria que sem uma fenomenologia rigorosa da sociedade moderna não é possível compreender o lugar da esquerda na sociedade. É certo que muitos dizem que a distinção esquerda-direita já não faz sentido. Outros dizem que quem assim pensa é de direita. Uma coisa é certa: não é possível repensar a esquerda como se esta fosse uma condição. Sobretudo a condição dos deserdados, mas também dos seus apóstolos. Todos sabemos que não é assim. Todos sabemos que o conservadorismo atravessa todos os grupos sociais, sendo transversal. Tal como o progressismo. Mas, aqui como ali, há sempre apóstolos vocacionados para as grandes proclamações morais, assumindo-se como eleitos e como depositários da justiça histórica dos povos. À direita e à esquerda. Como todos os apóstolos, eles pertencem ao reino do imaterial e preocupam-se pouco com as coisas concretas e muito com os grandes princípios. Sacerdotes. E como entre o material e o espiritual sempre foi difícil encontrar a justa adequação, o seu papel está garantido até ao fim dos tempos. Outra coisa é o esforço analítico de descrição e de explicação dos mecanismos sociais e a tentativa de os aperfeiçoar, melhorando a sua «performance». Por exemplo, que modelo de desenvolvimento terão de adoptar as sociedades modernas para se adaptarem às novas exigências globais e desiguais da competitividade e das assimetrias tecnológicas? O «suor do rosto» continua a ser a principal força produtiva ou já foi substituído pela ciência e pela tecnologia, como principais forças produtivas? A resposta implica consequências impressionantes no modelo de organização social, empresarial e do trabalho. Outra questão, de resto, ligada com esta: as sociedades modernas estão estruturadas em grandes blocos sociais, as ditas classes, ou a sua organização é cada vez mais de tipo superestrutural, uma vez que elas estão fragmentadas, sendo constituídas por indivíduos, em particular por todos os que integram a nova e gigantesca “middle class”, hoje maioritária nas sociedades desenvolvidas? Ou seja, a velha componente orgânica não cedeu definitivamente a sua centralidade a uma nova recomposição das relações sociais? Nova questão: o modelo de organização democrática das sociedades não pressupõe precisamente esta desestruturação das sociedades orgânicas e a sua recomposição a partir da soberania individual, onde o indivíduo singular já exibe várias pertenças (culturais, civilizacionais, políticas, sociais) e maior complexidade? Que implicações tem a frase «um homem, um voto»? Neste contexto, que democracia e que sociedade? A democracia representativa, tal como a temos vindo a viver ainda continua a manter validade plena ou já estamos a evoluir para um novo tipo de organização democrática, pós-representativa, onde cada vez mais começam a exprimir-se mecanismos de democracia directa de novo tipo? Ou seja, mantendo-se como seu fundamento a nova identidade da singularidade individual, não estão alteradas radicalmente as condições da sua participação na produção da decisão política colectiva? Ou melhor: não se está a verificar uma alteração radical nas formas de expressão política do cidadão quando os partidos políticos cedem cada vez mais o terreno aos meios de comunicação, desde a televisão até às formas mais avançadas de «comunicação individualizada de massas», na Rede (Castells)? Não é por acaso que já se fala de “partidos-plataforma” ou de plataformas digitais que mobilizam milhões de cidadãos e também de “democracia deliberativa”. E o Estado como se comporta perante tal evolução? Não terá de se transformar para responder às novas exigências emergentes? De certo modo, o «e-government» constitui uma primeira resposta, embora muito limitada no seu alcance porque funciona sobretudo no plano administrativo. Mas outra resposta deverá consistir na determinação da sua natureza reguladora, nem maximalista nem minimalista, em condições de garantir uma relação justa entre o indivíduo singular (o consumidor) e as corporações e oligopólios, relação que aquele não pode controlar. Finalmente, como é que os partidos políticos podem responder a estas transformações, garantindo uma efectiva autonomia, capacidade de agenda e relação, orgânica e inorgânica, com a sociedade ao mesmo tempo que resolvem o bloqueio burocrático interno, as suas tendências endogâmicas? A solução não passará pelo aperfeiçoamento dos métodos de selecção e de legitimação interna, eventualmente com uma maior exigência constitucional relativa à sua gestão interna, enquanto forem eles os detentores do monopólio de propositura das candidaturas aos parlamentos nacionais? É confrontando-se com estes temas que se pode responder às perguntas sobre a esquerda. Na verdade, a esquerda deve reconstruir a sua identidade a partir do reconhecimento das novas fracturas sociais e agir para as resolver no quadro de uma ética da convicção (os valores) temperada com a ética da responsabilidade (o compromisso).
6. Uma visão «espacial» da política
A análise que circula continua excessivamente apoiada numa visão «espacial» ou «geométrica» da política: esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, extrema-esquerda, extrema-direita. É certo que os conceitos de esquerda e de direita possuem já um património analítico tal que estão em condições de designar algo bem preciso. Mas há um conceito que é tanto mais usado quanto menos é definido: o conceito de centro. Centro geométrico, centro sociológico, centro político? Mas, afinal, o que é o centro? Eu creio que quando hoje se fala de centro se está a falar necessariamente da nova «middle class». Na linguagem marxista clássica, o centro nem sequer tinha dignidade conceptual, espartilhado que estava por aquela contradição fundamental que determinava a vida social: a contradição entre os proprietários dos meios de produção e os assalariados. Mas a tradição sociológica passou a definir os grupos sociais não só em termos de relações de produção, mas também com critérios, digamos, de tipo superestrutural: estilos de vida, influência, capacidade de consumo, mobilidade profissional, etc. Em particular, a sociedade pós-industrial provocou o crescimento de um sector social intermédio que possui características comuns a ambos os lados, a proprietários e a assalariados. A democracia, com a laicização integral das funções sociais, cresce, aliás, com o crescimento deste sector. E, este, reforça-se com a democracia. A própria democracia é o regime mais congenial a este sector, isto é, à «middle class». Mas a classe média já existia na chamada civilização industrial. Só que, antes, as suas características eram bem diferentes da actual. Tratava-se de uma classe patrimonial, de profissão e rendimentos estáveis, com uma mundividência estruturada e global, culturalmente sedimentada, com valores morais bem definidos e uniformes, com clara afirmação e reconhecimento social de tipo territorial, não sendo maioritária na sociedade. A nova classe média da era pós-industrial define-se mais por critérios de tipo superestrutural, por estilos de vida, capacidades e hábitos de consumo, mobilidade profissional e territorial. É existencialmente nómada e culturalmente precária, massificada, anónima e socialmente dominante. Como diz Giddens: «a velha economia industrial foi inexoravelmente substituída por um novo modelo económico baseado no saber, e a classe média tornou-se já o grupo socialmente dominante». Uma classe média centrada no terciário e nos novos sectores de negócio que têm origem na nova economia do conhecimento. É por isso que a esquerda de hoje não pode, pois, construir o seu quadro de referência político-ideal a partir daquela que era a sua base social de apoio tradicional, de sectores sociais que a história tem vindo a tornar cada vez mais subalternos. A ideia de que a esquerda deve propor à vastíssima e heterogénea classe média um discurso feito à medida de grupos sociais que já são historicamente minoritários – porque se recusa a reconhecer como dominante uma economia de tipo pós-industrial e uma sociedade onde os processos informacional e comunicacional já transformaram completamente as relações sociais e os comportamentos individuais – significa agir no presente com os olhos postos no passado, quando, afinal, o horizonte próprio da esquerda sempre se situou no futuro. É certo que os valores da esquerda persistem no tempo e são transversais aos vários grupos sociais. Mas os seus conteúdos mudam com os tempos. Exercer a liberdade em democracia não é o mesmo que exercê-la durante a ditadura: as formas da opressão deixaram de ser físicas para passarem a ser simbólicas. E a opressão simbólica tem de combater-se com instrumentos mais sofisticados do que a resistência física. Em democracia, a universalização dos direitos formais, aliada ao igualitarismo do consumo, produz uma imagem do mundo igualitária, precisamente quando se insinuam cada vez mais novas formas de discriminação. Sob o manto formal da democracia também a luta pela igualdade (e pelo direito à diferença) exige novos e mais sofisticados instrumentos. Mas também o cidadão se tornou mais complexo nas modernas sociedades democráticas. Ele exibe hoje dimensões que outrora estavam mitigadas. Por exemplo, na moderna sociedade de serviços, o cidadão-consumidor emerge como sujeito central de direitos a tutelar. Uma esquerda com futuro não pode deixar de o integrar como elemento central do seu quadro de referência político-ideal e para além das tradicionais fracturas de classe. Numa palavra, uma esquerda moderna não olha para o futuro com os olhos do passado. A ideia de centro deve ser, para a esquerda, materializada na nova “middle class”, socialmente maioritária, vista a sua composição social e a heterogeneidade da sua composição. Ela representa o referente social que mais pode corresponder à verdadeira essência da democracia representativa e que, por isso, melhor pode induzir políticas compatíveis com ela. Pela sua dimensão, ela contém em si o essencial da heterogeneidade social, exigindo respostas complexas que a linguagem binária da velha esquerda não consegue exprimir.
7. A Esquerda e o Estado Social
Um artigo de Rui Ramos, publicado no longínquo ano de 2008, no «Público» (23.07) e intitulado «Os pobres de Estado», fez-me, então, e também agora, regressar a um tema central na discussão em torno da identidade da esquerda: o tema do Estado Social. Ressalvo, em relação a tudo o que a seguir direi, que não me parece feliz o título do artigo, pela carga depreciativa que encerra. Mas não deixo de reconhecer pertinência à crítica de Rui Ramos. Porque ele põe em evidência um paradoxo muito comum numa certa esquerda: reivindica tão radicalmente os direitos sociais que o resultado acaba por ser oposto ao que proclama – a permanente dependência do Estado Social (exemplo meu: Francisco Louçã que «sente uma revolta enorme», porque «se possa impor a uma pessoa que tem subsídio de desemprego a obrigação de ir trabalhar por um pouco mais do que o subsídio que recebia», DN, 28.03.2010, p. 9). Mas Rui Ramos critica também uma certa ideia de construtivismo social: uma lógica auto-referencial que vê os necessitados como laboratório social das suas próprias concepções do mundo. E conclui dizendo que a luta pela libertação social dos necessitados acaba por resultar num novo tipo de opressão de Estado. Por isso lhes chama «pobres de Estado». Há, neste interessante artigo de Rui Ramos, mais retórica e menos substância do que, à primeira vista, pode parecer. Mas há também a sinalização de problemas ligados ao modelo persistente de Estado Social. Sobretudo ao modelo maximalista, aquele modelo que adoptou a cultura dos direitos como matriz exclusiva das suas políticas. E que vive do garantismo como seu alimento político exclusivo e quotidiano. Um modelo onde a pobreza representa o principal capital político, sendo o seu volume directamente proporcional à depressão económica e social dos países. Um modelo que, à força de reivindicar, ao sistema, sempre direitos acaba por legitimar a irresponsabilidade, a ausência de sentido do dever, de empenho e de luta individual por uma vida melhor e mais livre. Compreende-se. Esta é, aliás, uma visão organicista da sociedade, onde a responsabilidade individual se dilui sempre na responsabilidade colectiva. “A culpa é do sistema”. Mas se, depois, a responsabilidade colectiva acaba por se esgotar sempre na luta pelos direitos orgânicos das comunidades, a responsabilidade individual esvai-se e anula-se. De resto, esta lógica não decorre directamente da estrutura nuclear da democracia representativa, cujo fundamento, digamos, ontológico, é o indivíduo singular: «um homem, um voto». Diria mesmo que ela representa a tábua de salvação para os que sempre mantiveram reservas mentais em relação à democracia representativa. Constitui o enxerto político necessário para poderem agir com boa consciência no interior daquela que sempre rotularam como democracia burguesa. Toda a gente entende o que quero dizer. Ora, na lógica a que se refere criticamente Rui Ramos, os indivíduos singulares são sempre tutelados pelo Estado Social e, por isso, na sua perspectiva, ela acaba por induzir um processo de permanente submissão à vontade do Estado e da sua máquina protectora, com a consequente anulação do princípio da liberdade, que só a responsabilidade individual pode gerar. É por tudo isto que se torna necessário clarificar a natureza do Estado Social e a relação da esquerda com este conceito. Em primeiro lugar, recusando as leituras maximalistas. É claro que as sociedades têm o dever de garantir os «bens públicos» essenciais, bem mais vastos do que as funções estritamente vitais do Estado. Mas nenhum Estado Social pode sobreviver a uma lógica construtivista e a uma filosofia maximalista dos direitos sociais. Por uma razão muito simples: uma e outra convergem para o agigantamento de um Estado que tende a atrofiar a sociedade civil, acabando ele mesmo por implodir, fruto de um excesso de procura para o qual acaba por não ter resposta. Na verdade, aquilo que a esquerda radical ainda não compreendeu foi que a uma cultura de direitos, essencial à democracia representativa, deve corresponder uma outra cultura de deveres e de responsabilidade tão intensa como aquela. Só que esta não pode emergir no interior de um pensamento que ainda não superou, a não ser numa óptica puramente instrumental, uma cultura política organicista, hoje absolutamente superada pelas democracias modernas. A vocação organicista e moralista da esquerda radical acaba sempre por produzir o atrofiamento da emancipação individual e por contrariar aquela que é a vocação originária da própria democracia representativa. De resto, o Estado Social tem uma origem que nem sequer se identifica exclusivamente com a própria esquerda. Exemplos: Bismarck, a encíclica Rerum Novarum ou o “Beveridge Report”, precisamente de um liberal, William Beveridge. Sendo absolutamente necessário, o Estado Social não deve, todavia, ser identificado com a ideia de um Estado-Caritas (veja o meu artigo sobre este tema : https://joaodealmeidasantos.com/2023/03/21/artigo-96/ ).
8. A Esquerda e os Intelectuais
Finalmente, a questão dos intelectuais. E começo por referir uma entrevista do filósofo francês Alain Badiou a «Le Monde» (de Julho de 2007) que, na altura, deu que falar. Nela, ele declarava o fim – desejado – do «intelectual de esquerda». A coisa pareceu ganhar mais sentido após a debandada geral de ilustres figuras do PS francês para o projecto sarkoziano. De qualquer modo, o caso intelectualmente mais flagrante, depois de algumas viragens já verificadas durante a corrida presidencial de Ségolène Royal e do caso Kouchner, foi a transmigração do pós-moderno ex-ministro socialista da cultura Jack Lang. Dizia Badiou: “esta adesão a M. Sarkozy simboliza a possibilidade, para intelectuais e filósofos, de serem, doravante, reaccionários clássicos ‘sans hésitation ni murmure’, como diz o regulamento militar”. (…) “Nós vamos assistir – ao que eu anseio – à morte do intelectual de esquerda, que vai soçobrar ao mesmo tempo que toda a esquerda, antes de renascer das suas cinzas como a fénix”. Aqui, a verdadeira questão consistiria em saber o que é a esquerda, não antes de saber em que consistiria o ser-intelectual. Um pouco por todo o lado, o problema é complexo, reconheçamos. Mas, em boa verdade, há muito que estamos a assistir à morte do «intelectual», do «filósofo», do «maître-à-penser». Que, na verdade, tem o seu ADN à esquerda, apesar do(s) excelente(s) Aron(s). Permitam-me recordar que, disto, muito falei no meu livro de 1999, Os intelectuais e o Poder (Lisboa, Fenda): que acabaram os Sartres. E que Sartre foi, talvez, o último dos «maîtres-à-penser». Que estes acabaram ao mesmo tempo que as «grandes narrativas» e a emergência do pós-modernismo. Que acabaram quando acabou a densificação do tempo vivido, a identificação territorial dos percursos de vida, a exaltação da memória e subentrou o triunfo do plano, da superfície, do presente sobre a profundidade e a temporalidade diacrónica. E quando o princípio da esperança se desligou do futuro. Quando o presente se impôs como ditadura e as ideologias se diluíram, sendo substituídas por fugazes e superficiais estilos de vida. A verdade é que os intelectuais não eram simplesmente autores de livros ou de ensaios. Eram, isso sim, autores de ideologias, de mundividências, de concepções do mundo. Demiurgos. Eram artífices de ideias projectadas no futuro, mas com capacidade propulsiva sobre o presente, como se fossem forças materiais, físicas, sujeitas à lei da gravidade. Substituíam-se, com eficácia, às religiões e projectavam a laicidade à categoria de concepção do mundo. Construíam vastas redes de pertença, onde se reconheciam inteiros grupos sociais. O pensamento tornava-se norma de comportamento, atitude, ética, sentido. E eles emprestavam um certo heroísmo de atitude à esquerda, uma certa nobreza, para não dizer uma certa superioridade moral. Nada disto subsiste. Tudo se fragmentou. Até as causas, que passaram a ser especialidades de uns tantos profissionais. O fim das grandes narrativas, a ditadura do presente, o triunfo do inorgânico, a velocidade, o tempo como sucessão de instantes absolutos, o indivíduo como função do inorgânico, o império do simulacro, tudo isto gerou uma nova rede social onde não há lugar para os velhos intelectuais. O novo intelectual é o «fast-thinker». O «Lucky Luke» do pensamento e da palavra. O velho «maître-à-penser» deu lugar ao novo «prêt-à-penser», que ocupa os interfaces da comunicação como seu ambiente natural. Está por todo o lado e ao mesmo tempo. É um clone de si próprio. Fala de tudo como se de tudo fosse especialista. E ao ritmo da comunicação electrónica. O «sound bite» é a medida do seu discurso. Ele é uma espécie de centauro: meio intelectual, meio publicitário. Assume o meio onde comunica como «púlpito» onde exerce o poder da palavra, olhos nos olhos com o público, essa «multidão solitária» que se une em torno do terminal electrónico onde ele pontifica. Este é o novo intelectual «tout court». Já nem de esquerda nem de direita. Mais do que de esquerda ou de direita, o novo intelectual é orgânico do inorgânico, do simulacro, da velocidade, da emoção curta e eficaz, do discurso binário, da urgência do presente, do negativo. Não cria nem representa ideologias ou concepções do mundo. Representa-se a si próprio e age como se fosse o umbigo do mundo. Ora, quando a política começa a exibir excessivas afinidades com este universo discursivo dos novos intelectuais do vídeo, podendo ser definida como “política tablóide”, torna-se necessário reivindicar o regresso em força do orgânico, contra os cavaleiros do simulacro. O que em si poderia representar uma eventual regressão da própria esquerda. Mas eu diria, à esquerda, que o regresso do orgânico só pode ser hoje representado pela irrupção do indivíduo, fisicamente determinado, complexo e livre de vínculos orgânicos no seu mandato de cidadania, de múltiplas pertenças, na nova cena comunitária global. A esquerda deve, pois, recuperar a função da elite intelectual – e não de “fast-thinkers” – como propulsora de visões do mundo orientadas para o futuro, em vez de sucumbir à retórica, à propaganda e ao marketing político como instrumentos de acesso e de conservação do poder de Estado.
9. Conclusão
A esquerda, toda ela, incluído o centro-esquerda, está em crise profunda e para sair dela deve fazer as contas com todas estas questões que tenho vindo a enumerar. Questões que estão a montante dos concretos programas políticos e que têm a ver com a visão do mundo que sustenta as opções de política concretas. Mas não é isso que se vê. Os partidos políticos dispensam bem estas questões preocupados que andam com a conquista imediata do consenso para o poder, usando outsourcing com empresas especializadas em propaganda, em marketing político. Nem sequer apostam em promover a reflexão a partir das suas próprias exigências, da sua identidade, do seu próprio corpo organizado, das suas elites, dos seus próprios “intelectuais orgânicos”, para usar a feliz expressão de Gramsci. Transformaram-se em puros comités eleitorais sem gravitas histórica. Leves como plumas ao vento. Guiados por personagens sem densidade nem consequência porque se preocupam apenas em criar as máscaras adequadas aos ciclos eleitorais, na esperança de aceder ao maravilhoso mundo do poder è as suas ilimitadas benesses. JAS@11-2025
A BURQA
João de Almeida Santos
ESTOU PLENAMENTE de acordo com aqueles que consideram que a lei da Burqa (e do Niqab) deveria ter tido um amplo debate, na linha daquilo que hoje se designa por “democracia deliberativa”, antes da apressada aprovação do projecto de lei do CHEGA pelo parlamento, deixando a suspeição de que não é o assunto em si que merece atenção parlamentar, mas a ideologia da direita radical e a sua estratégia política e ideológica. Por uma simples razão: verifica-se nesta lei uma eventual contradição entre a ideia de comunidade com poderes normativos e a ideia de legítimos direitos individuais, evidenciando uma velha discussão entre a visão republicana e a visão liberal, a primeira valorizando mais o papel do Estado e, a outra, pelo contrário, valorizando mais o papel dos direitos individuais. A discussão sobre a constitucionalidade da lei está já em cima da mesa. Entretanto, salta para a arena pública a ideia de que o que verdadeiramente está em causa é o desejo de colocar politicamente na agenda pública a ideologia anti-imigração, em particular a islâmica; ou, então, a contestação da lei devida exclusivamente a um critério quantitativo – sendo poucas as praticantes não se justificaria legislar sobre tão socialmente irrelevante assunto. Também não me parece muito adequada a posição “politicamente correcta” de recusar (porque sim ou por princípio) tudo aquilo que possa pôr em causa a visão multiculturalista radical que é professada por muitos dos que criticaram a lei. Compreende-se bem por que razão é adoptada esta posição. O identitarismo não conhece limites. Como adequada não me parece possa ser a recusa de um projecto de lei tendo apenas em consideração o rosto do seu proponente. Bem pelo contrário, o debate teria mesmo valido a pena nos termos de um sério confronto entre uma visão republicana e uma visão liberal da questão, até porque a nossa constituição inscreve-se em ambas as matrizes, estando estas visões na génese da nossa tradição político-institucional. A questão elevar-se-ia para um patamar em que se discutiria a relação entre o Estado e a liberdade, designadamente a liberdade religiosa, e os limites de ambos, o da intervenção do Estado e o da reivindicação dos direitos individuais, sejam eles religiosos ou não. E é isto que está em causa, para além de agendas ideológicas marcadas por prévios juízos de valor que só impedem uma avaliação séria do quer está realmente em causa. Não me parece, pois, razoável enquadrar o tema por opções ideológicas estranhas às razões específicas da doutrina democrática sobre a questão, ou seja, sobre a natureza do espaço público, por razões de proveniência do projecto de lei, por escassez de praticantes ou por submissão a uma agenda woke ou politicamente correcta. Ou, pior ainda, para ir comodamente na onda da tendência mediática dominante, que, de resto, tem vindo a alinhar paulatinamente num temperado politicamente correcto.
1.
Não tomo em consideração, por motivos óbvios, o facto de a questão de se pôr exclusivamente em relação à mulher, e não também em relação ao homem (qualquer que fosse a indumentária que produzisse os mesmos efeitos), o que permitiria tirar ilações directas sobre as razões desta diferença, designadamente sobre a aplicação do princípio da igualdade em matéria de exposição social do rosto ou do corpo. A questão da burqa, para o objectivo em vista, deverá ser colocada em abstracto em relação à cidadania, como se ela fosse aplicável quer a homens quer a mulheres.
2.
É claro que a lei parece estar mais do lado da visão republicana do que da visão liberal, ao sublinhar o imperativo comunitário relativamente ao imperativo dos direitos individuais. O que é verdade é que mesmo na visão liberal são aceites limitações aos direitos individuais se eles ferirem responsabilidades directas do Estado, por exemplo, responsabilidades relativas à soberania. A comunidade, a cidadania e a nação estão, em dimensões fundamentais, ao cuidado do Estado que as representa e que tem o dever de as preservar, legislando e agindo em conformidade para o conseguir legitimamente. Quando se fala da lei e da segurança, a propósito da burqa, é isso que se está a invocar, sendo certo que outras dimensões também deveriam ser postas em cima da mesa. Por exemplo, a questão da sociabilidade no espaço público e dos planos em que ela se processa. E até no plano social da relação estética, que Schiller elevou, nas suas Cartas sobre a Educação Estética do Homem, a factor primordial da boa sociabilidade. Ou da clara distinção entre o que pertence ao espaço público e o que pertence ao espaço privado. E o que coexiste em ambos. Lembro-me bem da discussão que houve em França a propósito do uso, não da burqa, mas simplesmente do uso do chador na escola pública e na proibição do proselitismo religioso nesse espaço público e laico (veja-se o meu ensaio Diversidade Cultural e Democracia, em: https://joaodealmeidasantos.com/2018/02/05/diversidade-cultural-e-democracia-2/). Mas, no meu entendimento, mais do que isso, a questão que se põe está centrada na questão do reconhecimento interpessoal no espaço público democrático. É esta, no meu entendimento, a clivagem principal que deve ser colocada no centro da reflexão.
3.
A questão da liberdade de uso do vestuário também fica posta, mas poder-se-á sempre pôr a questão de saber se é legítimo usar vestuário que impede esse reconhecimento e a relação comunitária que está implícita nele. Normalmente, a subtracção ao reconhecimento público é exercida através do legítimo refúgio no espaço privado e não através da colonização do espaço público pela linguagem do espaço privado com o cortejo de critérios que lhe são próprios, com a sua liturgia. É claro que uma projecção excessiva do espaço privado no espaço público é tão criticável como o excesso de projecção do que é público no espaço privado. A virtude reside em respeitar esse ponto de intersecção entre o que é público e o que é privado, esse lugar de fronteira. As ditaduras sempre procuraram anular esta fronteira, entrando prepotentemente por ela adentro, anulando-a a favor do Estado (totalitário), tudo reduzindo a espaço público (sujeito, pois, a controlo administrativo – é proibido tudo aquilo que não é permitido). Nestes regimes não está garantida a autonomia do espaço privado, que tende a desaparecer. A religião, porque julgo ser disso que se trata (mas numa versão radical que, pelos vistos, não existe sequer nas respectivas escrituras), situa-se no espaço privado e nas teocracias esse espaço expande-se para além da zona de fronteira, tendendo a absorver e a colonizar integralmente, com as suas liturgias, o espaço público. Coisa que não deve acontecer nas democracias, onde são os princípios constitucionais que devem ficar como marco delimitador da livre expressão das diversas identidades, seja de grupo seja individuais – é permitido tudo aquilo que não é proibido. Deste modo, o Estado só deve intervir com força sancionatória lá onde estes princípios forem gravemente ofendidos. Mas se o fizer de forma excessiva lá estarão os tribunais constitucionais para o corrigir. O que é imperativo é que a constituição deva proteger o espaço público naquilo que ele tem de essencial e de ineludível pois é ele que define a democracia naquilo que ela tem de mais específico. Ao colocarmos o voto na urna devemos identificar-nos de modo a garantir que a nossa soberania individual não foi confiscada por outrem – voto secreto, mas identificado na sua titularidade. Em democracia, um cidadão com burqa não está autorizado a colocar o seu voto secreto na urna.
4.
Um amigo lembrava-me que nós vemos remotamente a democracia como um espaço territorial onde as pessoas estão reunidas fisicamente, olhando-se olhos-nos-olhos, argumentando, corrigindo-se ou convencendo-se acerca das boas ideias e razões para um bom governo da comunidade. O modelo até poderia ser o da agorá ateniense onde se discutiam os assuntos da polis depois de preparados pela Assembleia dos Quinhentos. Um modelo que esteve sempre sob os holofotes e que, de certo modo, ainda estava implícito como modelo remoto na célebre Enciclopédia de Diderot e D’Alembert, de meados do século XVIII. Ou seja, parece ser pouco estranha uma democracia que se possa fundar em cidadãos que se cobrem o rosto no espaço público e que, nessa qualidade, possam decidir acerca dos destinos da comunidade (falo de cidadãos com plenos direitos). A aplicarmos o imperativo categórico de Kant, em tese até poderia ser concebida como moralmente legítima uma democracia de embuçados – “age como se a máxima da tua vontade pudesse valer sempre e ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal”. Não havendo numa democracia uma discriminante acerca dessa possibilidade, isso seria possível para os cidadãos que professassem uma moral fundada no imperativo categórico, um princípio que pode ser adoptado como definidor do princípio democrático por excelência. Se eu uso a burqa no espaço público de forma moralmente assumida e convicta estou a admitir que todos legitimamente a usem, admitindo, assim, em tese, uma democracia de embuçados.
5.
O assunto, de resto, já mereceu atenção por parte de vários tribunais constitucionais estrangeiros tendo respostas diferentes. Em França, a decisão foi validada pelos tribunais superiores. E até o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos validou as decisões de proibir o uso da burqa em espaços públicos. Mas a matéria é complexa, delicada e sensível. E, todavia, ao que parece, e invocando razões diferentes, a quase totalidade dos opinionistas portugueses tem-se manifestado contra a lei, enquanto a maioria do parlamento foi a favor, sendo a generalidade da oposição também contra. Incluído o PS. Uma profunda divisão talvez porque nunca houve um aprofundado debate analítico sobre a questão.
6.
A verdade é que o debate começou quando não devia, com excesso de polarização política e com argumentos estranhos à matéria em causa. Tivesse começado antes da decisão parlamentar e tudo teria sido diferente. Embora compreenda, como já disse, os argumentos contra a decisão do parlamento e respeite a liberdade religiosa, não vejo, todavia, por que razão não pode o Estado legitimamente legislar como legislou sobre esta matéria. Em França, a proibição foi validada pela autoridade judicial máxima, mas em Portugal a génese política do diploma acabou por arrastar posições que poderiam ser diferentes se a lei tivesse tido outra génese política. Talvez a teoria da “espiral do silêncio” (na opinião pública, que não na esfera política) possa explicar isto. O que não se pode é tomar uma posição invocando razões e argumentos que não tocam no essencial do que está em causa.
7.
O uso da burqa não é tecnicamente equivalente ao uso do bikini naqueles tempos, nos anos ’50, em que era isso era proibido porque considerado atentado à moralidade dominante, ao pudor, à decência. Não só não é questão de pudor, sendo até o seu exacto contrário, como também é de nível superior. Nem sequer é, pelas mesmas razões, equivalente à fractura da nudez integral em espaços públicos, mas que nem sequer conhece proibição legal directa, creio, sendo punível somente quando associada a outro tipo de imputação. Não. Também aqui o uso da burqa é de nível superior. A comparação é feita somente para se compreender melhor a natureza do espaço público e a normatividade que pode recair sobre ele. O problema central, no meu entendimento, consiste no reconhecimento sensível e intersubjectivo da pessoa, na identidade pessoal exibida no espaço comunitário ou público através do rosto. E não parece ser sequer questionável a afirmação de que é o rosto que define a pessoa, o cidadão. A persona, a expressão visível da sua existência social. A obrigatoriedade de foto do rosto nos documentos de identidade é prova disso. O rosto é a janela da alma, como dizem os grandes poetas. Escondê-lo é, pois, esconder a alma, naquilo que ela tem de pertença social, rejeitando, deste modo, o reconhecimento comunitário ou societário e o próprio sentimento de pertença à comunidade que interage no espaço público. Seja qual for a motivação. É remeter o reconhecimento totalmente para a esfera privada ou íntima, um espaço onde, afinal, isso é natural e onde as categorias do reconhecimento público não são, portanto, aplicáveis, porque se trata de planos completamente diferentes. Não “dar a cara”, a não ser no espaço privado ou íntimo, é não reconhecer o próprio espaço público na sua essência ou, então, é considerá-lo como ameaça, estranho, profano. O que significa também não reconhecer, nele, o outro – no acto de me negar publicamente ao outro também o nego a ele, ipso facto, anulando assim a própria ideia de sociabilidade, de pertença a uma comunidade ou, então, esgotando a ideia de comunidade na ideia redutora de espaço privado. Só reconheço a minha comunidade privada e só perante ela me identifico. A verdadeira comunidade seria, pois, aquela em que o espaço privado acabaria por colonizar o espaço público, considerado, este, como espúrio e profano, onde a revelação da identidade não deveria, pois, acontecer, ser acessível. Uma teocracia torna o espaço público num espaço também ele regulado por normas de comportamento ditadas pela respectiva liturgia identitária. Em última análise, esta visão representa a rejeição da sociabilidade democrática e do Estado laico que a garante. A identidade aqui sobrepõe-se a um espaço societário diferenciado, sim, mas com regras de convivência comuns, onde a diferença é manifesta, reconhecida e protegida. Diferença, não desigualdade no uso do espaço público. Uma conversa parecida é verificável também no wokismo. Eu creio que a matriz liberal ou republicana não aceitam, por definição, que o espaço público seja amputado de uma sua dimensão fundamental de sociabilidade, a do reconhecimento interpessoal. E creio mesmo que o problema, entendido democraticamente, seja somente este, devendo a discussão ficar, neste plano, completamente liberta de valoração ideológica.
8.
O que significa, pois, esse espaço público que, assim, se rejeita e não se reconhece, por recusa de “dar a cara” nesse mesmo espaço? “Dar a cara” num duplo aspecto: revelá-la e assumir as respectivas responsabilidades, impedindo até que outros se apropriem indevidamente da sua própria identidade (oculta). Não se trata aqui de moral, de liberdade individual ou sequer de ritual religioso. Trata-se simplesmente de um problema de identidade social e de reconhecimento interpessoal numa sociedade, a contemporânea, que adoptou a transparência como valor universal, mas que, em tese, também, como nunca, mantém protegida a esfera privada, através precisamente da democracia. É claro que a questão da segurança é factor a ter em consideração, mas não é, no meu entendimento, o elemento decisivo. O reconhecimento interpessoal no espaço público é, sim, o elemento decisivo porque esse reconhecimento é que institui a dimensão comunitária, a dimensão pública da sociedade, a sociabilidade. E a burqa impede-o, ainda que assumida com toda a autenticidade e adesão interior. Mas, ao impedi-lo ou recusá-lo, revela-se hostil à democracia, quer na sua versão liberal quer na sua versão republicana. Usá-la nos espaços privados e religiosos ou em casos em que se justifique deve ser permitido, mas transpor o seu uso habitual para o espaço comunitário ou público levantará sempre o problema do reconhecimento interpessoal, que, afinal, é o elemento discriminante e definidor da sociabilidade no espaço público. A sociabilidade implica o reconhecimento recíproco e a igualdade nas relações no espaço público, que é, afinal, o espaço próprio da deliberação pública.
9.
Não me admira, pois, que os que sempre criticaram a democracia representativa como democracia burguesa sejam hoje grandes críticos desta lei. O que me admira é que um partido como o PS apareça a criticar uma lei que se funda numa das dimensões essenciais do espaço público democrático, ou seja, na ideia do reconhecimento interpessoal como processo decisivo da dialéctica democrática e da sociabilidade. Infelizmente, não é caso único, pois o que se constata é algum desnorte ideológico das recentes lideranças deste partido, que ainda é e será o meu. JAS@10-2025
A PROPÓSITO DA APRESENTAÇÃO
DO MEU LIVRO “FRAGMENTOS”
POR LUÍS AMADO
(Porto de Mós, “Moz’Art,
Kitchen and Gallery”, 18.10.2025)
João de Almeida Santos
POR FALTA DE TEMPO, pois nunca na apresentação de um livro pode ser dito tudo, não foi possível responder a muitas das inúmeras, estimulantes e certeiras observações que Luís Amado nos propôs na apresentação do meu livro Fragmentos – Para um Discurso sobre a Poesia (S. João do Estoril, ACA Edições, 2025) no belíssimo Restaurante “Moz’Art, Kitchen and Gallery”, em Porto de Mós, a sua terra. E também ao que nos referiu acerca do interessante e profícuo diálogo que, a meu respeito, ele teve com o ChatGPT. Algo absolutamente incrível, sobretudo pelas respostas certeiras que ele lhe deu. Ficámos todos impressionados com os avanços da inteligência artificial, ali demonstrados exaustivamente pelo aturado trabalho de diálogo de Luís Amado com ele, na presença do visado (eu próprio), que pôde confirmar a imensa “cultura”, o grau de informação de que o ChatGPT dispõe e o quanto ele acerta nas suas instantâneas respostas. Um exercício muito interessante e motivador.
1.
Mas não é sobre isto que hoje aqui quero falar, apesar do fascinante mundo que se está a abrir perante a nossa estupefacta incredulidade, mas sobre algumas suas certeiras observações que foram feitas sobre a natureza da arte. E por alguém que há muito a cultiva, na forma de escultura. Não é só o tempo que é um grande escultor, como diz a Yourcenar, mas também os seres humanos o são. Aliás, o que o tempo esculpe é a densidade do humano que se vai revelando na sua própria história. Que também o ser humano dialogue com a natureza cristalizada e a procure modelar segundo as suas próprias categorias e o seu gosto, sem a trair, é, pois, natural.
2.
E começo por referir duas referências que Luís Amado me fez em momentos diferentes da nossa já longa amizade e que têm motivado algumas minhas reflexões sobre a arte. A primeira, que me foi referida há muito, é a de que a ideia de fronteira é extremamente rica e de que, por isso, ela nos deve guiar, porque na fronteira é possível, ao mesmo tempo, observar os dois lados essenciais da geografia da vida, o lado de cá e o lado de lá, o que nos enriquece cognitivamente. Vemos o que outros, os que não habitam a fronteira, não podem ver. Talvez seja mesmo mais interessante essa ideia de estar na fronteira do que a ideia de sair da ilha para dela podermos tomar consciência. Porque na fronteira estamos num ponto nuclear de intersecção. A segunda refere-se à resposta que me deu sobre o seu processo de trabalho na escultura, a propósito do trabalho sobre pedra, que o ocupa no seu trabalho de escultor: sigo sempre, disse-me, a fractura principal que encontro numa pedra. Também nestas posições de Luís Amado, e não só nos Fragmentos de Novalis, sobre os quais já aqui escrevi e que ele conhece muito bem, encontro uma profunda convergência com o exercício poético. A ideia de fronteira é equivalente à que podemos encontrar na ideia de intervalo, onde se coloca o poeta, ou seja, na fronteira entre si (o lado de cá, de onde ele provém) e o mundo (o lado de lá, para onde vai). E é por isso que o poeta vê melhor, porque vê para os dois lados: aquele de onde vem, o da sua alma, e aquele para onde está condenado a ir, o do mundo. Convergência a quatro, permitam-me a imodéstia, poderia dizer: Luís Amado, JAS, Bernardo Soares e Novalis. Diz Novalis: “O lugar da alma está no ponto onde o mundo interior e o mundo exterior se tocam” (Fragmentos de Novalis, Porto, Assírio & Alvim, 2024, p. 31). E diz o Bernardo Soares: “saber interpor-se constantemente entre si próprio e as coisas é o mais alto grau de sabedoria e prudência” ou, ainda, “sou a ponte de passagem entre o que não tenho (no mundo, digo eu) e o que não quero (na alma, digo, de novo)” (Livro do Desassossego, Porto, Assírio & Alvim, 2015, pp. 409 e 206). Portanto, fronteira, intervalo, ponto de passagem, sendo que a alma é o território que o poeta habita, ou seja, é ali que o poeta se coloca, num território que sente fisicamente como a matéria de que o espírito se ocupa no seu processo de cristalização (como diz Novalis), as pulsões da alma, e a componente interna desse mundo que os sentidos registam. Sempre de fronteira se trata: a alma como o ponto de intersecção do mundo com o espírito. De onde resulta a poesia. Depois, a ideia de fractura estrutural, aquela que o escultor segue, explora e desenvolve – por exemplo, a de uma pedra – no trabalho de projecção material da sua relação estética com a natureza. Também a poesia incide sobre as fracturas essenciais da existência humana, aquelas que existem em todos os seres humanos. Por exemplo, a fractura abismal do amor ou a fractura da insustentável dor de alma. São esses veios estruturais e profundos que a poesia, tal como a sua escultura, percorre.
3.
Mas também, na apresentação, Luís Amado referiu, e bem, as três dimensões essenciais que são referidas no Epílogo do livro: a do tempo, a da melancolia e a da alquimia. Sim, estes são territórios que o poeta frequenta de forma diferente: o tempo poético é diferente do tempo cronológico e ele condensa-se no instante criativo, naquilo que os gregos designavam por kairós, “tempo oportuno”, o tempo da criação, que é tempo sem limites cronológicos (os gregos, note-se, até tinham um tempo verbal que não era temporal, o aoristo, um tempo verbal sem tempo). No instante criativo há como que um poder de expansão, em vários sentidos, do espírito e que não conhece limites temporais. Tão depressa se passa do passado para o futuro como do futuro para o passado. E aqui está, mais uma vez, a ideia de fronteira: o presente como fronteira entre o passado e o futuro. E o poeta que a habita, podendo ver para um lado temporal e para o outro. Sempre a fronteira. O tempo da poesia é durée, no sentido em que Bergson o definiu: tempo vivido como fluxo, como transição. Depois, a melancolia, como a atmosfera de culto da poesia, onde a tristeza se converte em “doce melancolia” poética, que é, creio, uma expressão atribuída a Schiller. Lá onde a tristeza deixa de ser triste. E, finalmente, a alquimia, ou seja, a capacidade de a poesia retirar o essencial da experiência da alma, de a lapidar e de a oferecer à sensibilidade de quem a sente e a frui. Também a escultura é, de certo modo, alquímica.
4.
Esta incursão no mundo da arte poética também me permite responder à observação de Luís Amado de que o poeta parece ter necessidade de se explicar, de explicar o que acontece na criação, de explicar o “instante criativo”, quase como autojustificação dessa fuga para o mundo do “espírito apolíneo”, deixando para trás o “espírito dionisíaco”, para usar as categorias do Nietzsche de “A Origem da Tragédia”. Além de ser, como disse então, uma passagem para o diálogo acerca da arte que o poeta propõe aos seus leitores, esta incursão é, de certo modo, também ela um acto poético, um exercício espiritual sobre o que o poeta sente ao escrever poesia. Uma espécie de fenomenologia da poesia em toada poética. No livro, muitas vezes, desenvolvendo-se o discurso já fora da conversa analítica, e já idominantemente poética, dizia para mim que o que estava a dizer podia ser interpretado como ousadia interpretativa, conclusão analítica que poderia ser sujeita ao critério da verdade/falsidade ou a correcção teorética, contaminando, deste modo, a minha própria poesia e a sua própria marca original. Pois bem, mesmo assim, continuei sempre e de forma ainda mais intensa a usar a linguagem poética para dizer coisas com aparência analítica sobre a minha própria poesia, livremente, seguindo, de resto, o que disse o Edgar Allan Poe, ou seja, que os que melhor podem falar da poesia são precisamente os poetas. Poderia um poeta falar de poesia sem o fazer em linguagem poética? Talvez não. A verdade é que é frequente os poetas escreverem também sobre a própria poesia. Por exemplo, Edgar Allan Poe ou Thomas S. Eliot. E é precisamente como poetas que eles devem ser entendidos, no que dizem.
5.
Luís Amado também referiu a ideia de opressão simbólica da língua (que Roland Barthes designou como “fascista”) através da imposição de códigos ou de estruturas formais que determinam, de forma impositiva, o funcionamento de uma língua, referindo precisamente a posição de Roland Barthes: “Mais la langue (…) n’est ni réactionnaire ni progressiste; elle est tout simplement: fasciste; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire” (Barthes, R. Leçon, Paris, Seuil, 1978: p. 14). Obriga a dizer, e isso seria fascismo; o poder impositivo do discurso sobre o sujeito, impondo-lhe uma determinada direcção, à revelia da sua própria vontade. Tal como acontece na ideologia: a visão do mundo do sujeito é por ela sobredeterminada – para usar o conceito de um outro estruturalista, Louis Althusser, na sua obra Pour Marx (Paris, Maspero, 1973, pp 85-116 e 206-224) – adoptando ele passivamente a sua normatividade, que se impõe à fala, à escrita e ao próprio comportamento. Uma visão estruturalista, onde o poder das estruturas formais da língua se impõe e determina o sentido do discurso para além do seu controlo subjectivo. E foi a este propósito que tive a oportunidade de dizer que a poesia de certo modo foge a esta opressão devido às suas características: ao seu minimalismo, à sua flexibilidade ou liberdade formal, ao seu carácter não denotativo nem analítico, por ser uma linguagem que está entre a música e a prosa (Bernardo Soares, 2015: 206 – “considero o verso como coisa intermédia, uma passagem da música para a prosa”) e por não poder ser sujeita ao critério da verdade/falsidade, sem que, todavia, se possa considerar uma arte retórica ou virtuosismo linguístico porque a sua força pulsional, centrada na alma, não o permite. A sua linguagem não pode ser sobredeterminada porque ela é como que a pauta musical das pulsões da alma, que a determinam, não a sobredeterminam. A poesia, diria, usando a sua linguagem, não obriga a dizer, é mais parole do que écriture, é mais corpo do que codificação, onde falar não é submeter, é mais fuga à norma do que norma impositiva. A poesia interpela a sensibilidade tal como a palavra dita oralmente ou como a música. E até o poeta é uma espécie de proscrito existencial, de sem-abrigo existencial que fala em código, sim, mas criado por ele e não sobredeterminado pela língua e pelas suas estruturas formais. A sobredeterminação nega a própria essência da poesia. Proscrito ou sem-abrigo existencial, o poeta, para resistir à dor, subverte a lógica da vida mundana, logo, a sua própria linguagem, para resolver a sua vida? Sim, o poeta é um subversivo doce.
6.
Finalmente, a ideia de porco-espinho aplicada à ideia de fragmento: “um fragmento deve ser igual a uma pequena obra de arte, totalmente separado do mundo circundante e perfeito em si mesmo como um porco-espinho” (Friedrich Schlegel). Na verdade, a ideia de autonomia de cada fragmento, que não precisa de qualquer referente exterior a si próprio, nem sequer do poema que lhe deu origem, foi o que esteve na génese deste livro de 206 fragmentos. Apesar de a sua génese ser dialógica, ter resultado do diálogo do poeta com os seus leitores, a sua posterior reelaboração para um livro de fragmentos foi orientada de acordo com esta mesma ideia que encontramos em Schlegel e em Novalis.
7.
Estas minhas reflexões procuram dar conta do que se passou na apresentação do livro, complementando-o com ulteriores considerações que não aconteceram nos comentários de resposta à intervenção de Luís Amado, mas que julgo serem importantes para uma mais cabal compreensão não só do livro em questão, mas também da minha própria poesia. O meu obrigado a Luís Amado, a Fernando Amado, proprietário do “Moz’Art”, e a todos os amigos que estiveram presentes. Completou-se, assim, a série de apresentações deste livro, depois das que foram realizadas na Guarda e em Cascais, encontrando-se, neste momento, esgotada esta edição de “Fragmentos”. JAS@10-2025
NOTA
LUÍS AMADO é licenciado em Economia e, entre outros inúmeros e relevantes cargos, foi deputado à Assembleia da República, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna, Ministro da Defesa Nacional e Ministro dos Negócios Estrangeiros. Dedica os seus tempos livres à escultura.
SOBRE AS AUTÁRQUICAS 2025
João de Almeida Santos
1.
Quando ouço dizer que o PS está de volta, depois de serem conhecidos os resultados das autárquicas, a frase soa-me um pouco estranha. Na verdade, o PS perdeu as autárquicas de forma significativa: a) perdeu 21 câmaras (tinha 149 e ficou com 128); b) passou a ser o segundo partido em número de câmaras, com o PSD a conquistar 136; c) tem globalmente menos votos e menos mandatos do que o PSD, tendo, pois, perdido a ANMP e a ANAFRE (a mero título de exemplo, o PSD teve para as câmaras mais 29 mandatos e 63.000 votos do que o PS, considerando também as coligações que lideraram); d) não venceu os maiores concelhos do país (Porto, Lisboa, Braga, Vila Nova de Gaia, Sintra, Cascais, Setúbal), embora tenha ganho nove capitais de distrito (Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Coimbra, Leiria, Viseu, Castelo Branco, Évora e Faro) e, por maioria absoluta, outra câmara de grandes dimensões (Loures). Reconhecer os factos e olhar de frente a realidade são condições sine qua non para melhorar a performance política no futuro. E isso vale também para o PS.
2.
Sendo expectável uma derrota do PS, nunca me pareceu sensato admitir que o PS deixasse de ser uma força com uma expressiva consistência autárquica e muito menos que se pudesse comparar este resultado com o das legislativas, em particular com um eventual resultado do CHEGA, o partido que neste momento tem a segunda maior representação parlamentar. Que a quebra aconteceu, é verdade, mas o PS bateu-se taco a taco com o PSD lá mesmo onde perdeu ou não conquistou presidências de grandes câmaras. Basta comparar o número global de votos obtidos por estes partidos.
3.
De facto, neste plano da democracia local continua bem robusta a dialéctica da alternância entre o PS e o PSD, somando ambos os partidos quase 86% do total das presidências de câmara do país, o que, comparando com a soma dos mandatos parlamentares de ambos os partidos, cerca de 64% dos mandatos, se traduz numa diferença, para mais, de 22 pontos percentuais. Estes resultados espelham uma presença territorial difusa e capilar destes partidos em matéria de gestão das 308 fracções territoriais do país. Não me parece legítimo e razoável estabelecer comparações entre as legislativas e as autárquicas, uma vez que nestas o voto é polarizado, certamente, pela sigla partidária (que consta do boletim de voto), mas também e em grande medida pela figura do candidato a presidente da câmara, tendo em consideração, por um lado, a maior proximidade entre eleitores e candidatos e, por outro, o presidencialismo do sistema de democracia local, sendo certo, todavia, que nos grandes núcleos urbanos os critérios de escolha se tornam mais parecidos com os que polarizam a escolha, por exemplo, do candidato à liderança do governo do país. Tudo isto torna a decisão eleitoral menos ideológica, mais pragmática e mais pessoal, lá onde o cidadão, na escolha política, pode usar os mesmos meios cognitivos, a mesma lógica e os mesmos critérios que utiliza nas escolhas da sua vida pessoal e quotidiana. Trata-se, pois, de uma escolha empiricamente mais consistente e mais directamente verificável. Onde a accountability fica mais directamente ao alcance da cidadania.
4.
De notar que, felizmente, a abstenção baixou muito relativamente às autárquicas de 2021, de 46,35% para 40,7%, o que mostra a importância que lhes foi atribuída pela cidadania, e que o total dos votos obtidos pelo PS e pelo PSD (sozinhos e em coligação) não é muito diferente: para a câmara, 1 milhão e 828 mil votos para o PS e 1 milhão e 891 mil para o PSD, ou seja, uma diferença de 63 mil votos, num universo de cerca de 5 milhões e meio de votantes efectivos.
5.
Em relação aos restantes partidos é de sublinhar que o CHEGA, com apenas 3 presidências de câmara, 653.943 votos e 137 mandatos para a câmara (os do PSD foram 832 e os do PS foram 803), não conseguiu uma significativa progressão nestas eleições, tomando como referência a dimensão dos seus resultados nas recentes eleições de Maio; que a CDU teve uma nova queda, perdendo as duas capitais de distrito que governava e baixando as presidências de câmara de 19 para 12; que o Bloco de Esquerda ficou, de novo, reduzido à insignificância e que os movimentos autárquicos não partidários aumentaram em três o número de câmaras que governavam – de 19 passaram para 22 presidências de câmara, revelando um sustentado e progressivo crescimento.
6.
Vejamos, mais de perto, o caso do Bloco, somente a título de exemplo. Listas lideradas por si, sozinho ou em coligação, obtiveram para a câmara um total de 54.464 votos e zero mandatos, enquanto para as assembleias de freguesia, nas mesmas condições, obtiveram 54.365 votos e apenas 18 mandatos. Já o PCP/PEV obteve para a câmara 316.271 votos e 93 mandatos, tendo o CDS/PP obtido 73.140 votos e 33 mandatos; a IL obteve 87.809 votos e 2 mandatos enquanto o LIVRE obteve 58.440 votos e 7 mandatos; o PAN obteve 9.559 votos e zero mandatos (estes números são referidos somente a listas lideradas por estes partidos e para a câmara). Quanto aos movimentos autárquicos não partidários ou “grupos de cidadãos”, sendo certo que, como disse, conquistaram 22 câmaras, constituindo-se como a terceira força política autárquica, obtiveram, também para a câmara, pelo menos 318.523 votos e 139 mandatos (incluídos os 4 mandatos da Guarda). Em qualquer circunstância, os movimentos não partidários constituem a terceira força autárquica em número de câmaras e em número de mandatos para a câmara, embora não em votos expressos, visto que o CHEGA obteve um resultado muito mais expressivo, como vimos (mais de 650 mil votos).
7.
Perante estes resultados é claro que não é possível extrapolar para as legislativas, pois a geografia parlamentar não coincide, como vimos, com a geografia autárquica, exceptuando a liderança do PSD e a irrelevância parlamentar e autárquica do Bloco e do PAN. No entanto, há que levar muito a sério o significado destas eleições para efeitos de diagnóstico sobre a saúde da democracia e sobretudo da ligação da cidadania à decisão eleitoral, na medida em que se trata de 308 territórios onde a presença da política se faz sentir de forma mais visível e directa na vida dos cidadãos e onde as escolhas têm concretos valores de referência muito significativos e verificáveis empiricamente, devido à proximidade.
8.
Confirma-se, pois, a irrelevância dos pequenos partidos, numa tendência que, olhando para as coligações, se poderia dizer que, à excepção do CHEGA e do PCP, funcionam como satélites de astros maiores, e um crescimento sustentado dos chamados movimentos não partidários ao mesmo tempo que se mostra robusta a lógica da alternância e a crescente diminuição do enquadramento ideológico ou até programático. Há uma personalização crescente da política quer no plano nacional quer no plano local, com a relativização das instâncias de intermediação, enquanto tais. E esta tendência absolutamente dominante não é de per si boa, nem no plano nacional nem no plano autárquico, devendo por isso ser equilibrada com qualificadas instâncias de intermediação, desde que libertas de corporativismo e daquilo que o Robert Michels designou por lei de ferro das organizações partidárias, ou seja, com a erradicação de lógicas endogâmicas que tendem a afastar os representantes da cidadania. E este é um grande desafio: o de equilibrar a inevitável personalização da política com instâncias qualificadas de intermediação (por exemplo, partidos de novo tipo) que funcionem como forte contrapeso das fugas para a autocracia. A política, e muito menos a política autárquica, não pode prescindir de uma sua componente orgânica, que é aquilo que a liga ao território. Compreende-se melhor isto se estudarmos a actual tendência dos partidos para o uso de outsourcing digital nas redes sociais e a desilusão quando se verifica, pelos resultados, que isso, afinal, não passou de puro malabarismo digital e de ilusão de contacto orgânico. O marketing digital, ou marketing 4.0, é propício à construção desta ilusão de relação orgânica com a cidadania. Nestas eleições isto aconteceu com alguma frequência.
9.
No meu entendimento, estas eleições representaram uma radiografia do “estado da arte”, devendo, por isso, ser analisadas por todos os que se interessam pela democracia porque elas espelham de forma substantiva a relação da cidadania com o processo de construção do poder. Aqui, a personalização não tem a mesma natureza da política nacional nem está tão sujeita à cenografia do marketing como a política nacional, precisamente devido à proximidade e à verificabilidade directa da acção política. A sigla partidária continua a ter a sua função de bússola política, mas a figura dos candidatos, em particular a do candidato à presidência da câmara, tem um papel muito relevante, como se pode ver pelo sucesso dos movimentos autárquicos não partidários. É claro que também aqui se verifica uma progressiva aproximação à política nacional, não só porque o voto é sobre uma sigla, mas também porque se vai evoluindo de centros urbanos pequenos para os grandes centros urbanos, diminuindo a proximidade em relação aos candidatos, mas sendo, todavia, certo que, pelo menos em relação aos incumbentes, também aqui a obra feita (ou não feita) é verificável empiricamente. A diferença de votos e de mandatos no CHEGA entre as legislativas e as autárquicas é devida sobretudo à fraca implantação no terreno de um partido que tem apenas seis anos e que nunca governou. Mesmo assim, os cerca de 650 mil votos que obteve, o dobro do que tiveram partidos com uma significativa presença autárquica (movimentos autárquicos não partidários, com 22 câmaras, e PCP/PEV, com 12) deve-se certamente aos mesmos critérios que explicam os votos das legislativas (mais de um milhão e 400 mil votos), feita agora a redução devido à sua fraca implantação territorial, à figura dos candidatos e também à forte implantação dos dois maiores partidos e à sua política de coligação com os partidos-satélite.
10.
Estes são, quanto a mim, os factores que explicam o que aconteceu nestas eleições autárquicas, a que ainda se tem de acrescentar o factor-governo, ou seja, o facto de o PSD (e o CDS) governar actualmente o país, com todas as consequências que isso tem na potencial polarização pragmática do voto.
NOTA
Quero aqui referir a extraordinária vitória, por maioria absoluta (43, 83% e seis mandatos em 11), de Ricardo Leão, em Loures, um concelho com cerca de 169 mil eleitores. Não sendo, claro, uma resposta aos humanistas António Costa, Silva Pereira e José Leitão e a todos os que o levaram a demitir-se de presidente eleito da FAUL, achincalhando, em nome de um politicamente correcto com laivos de wokismo, a sua coragem de ter posto o dedo na ferida, na verdade, também é uma resposta a todos eles. Outros, que também alinharam alegremente nesse discurso, perderam clamorosamente a batalha autárquica. Parabéns, Ricardo Leão. JAS@10-2025
NOTAS SOBRE A POLÍTICA
EM TEMPO DE ELEIÇÕES
João de Almeida Santos
AS AUTÁRQUICAS
Eleições autárquicas 2025 – uma radiografia territorial da democracia portuguesa. Provavelmente, o mais significativo retrato da profunda mudança política que está a acontecer no nosso país, mas que muitos insistem em não ver. Trata-se da política em acção em todo o território nacional, repartido por 308 concelhos, num país com um sistema de partidos já muito fragmentado e alterado em relação à sua configuração tradicional. Não se sabe em que medida as autárquicas replicarão, à sua escala e à sua medida, o que aconteceu nas legislativas de Maio passado e de 2024. Provavelmente, o crescimento dos movimentos políticos autárquicos não partidários continuará a verificar-se talvez de forma mais intensa (dispõem, actualmente, se não erro, de 19 presidências de câmara), agora alavancados por dois pequenos partidos (Nós, Cidadãos e PPM) como modo de superar os constrangimentos que a lei (em certos aspectos claramente inconstitucional, por violação do princípio da igualdade) impõe a estes movimentos. Falta conhecer a consistência territorial do segundo maior partido parlamentar, o CHEGA, em particular em grandes concelhos, onde as razões do voto se aproximam mais das que explicam o voto nas legislativas. Uma incógnita também a performance autárquica daquele que é actualmente o maior partido autárquico português, o PS, com cerca de 150 presidências de câmara. Nestas eleições será possível detectar tendências muito significativas acerca do rumo político que o nosso país está a seguir.
O BLOCO, AS AUTÁRQUICAS E O MEDITERRÂNEO DA LIBERDADE
Eu não sei se será mesmo o FB do Pedro Nuno Santos, mas parece que sim, onde li: “Solidariedade e um profundo agradecimento à Mariana Mortágua, à Sofia Aparício e ao Miguel Duarte por nos representarem com tanta bravura”. Eu não me sinto representado por eles e, por isso, não partilho deste sentimento do PNS, que, todavia, reconheço ser legítimo. No entanto, devo dizer o seguinte: não sendo eu do Bloco, até acho que ela, deputada da nação, deveria estar em Portugal a lutar por quem a elegeu, pelo seu partido e pelas suas convicções no parlamento e pelo país fora, tentando, neste período de eleições, suster a hemorragia política que o partido de que é líder está a sofrer, com graves riscos de fatal colapso. Detida e mandada para casa, onde chegou, em festa (“recebidos em apoteose no aeroporto de Lisboa”, noticiava um site), no domingo à noite, apesar de o drama continuar em Gaza até que as negociações em curso cheguem a bom porto. A Mariana chegou, pois, e estava óptima, tendo ainda cinco dias para fazer campanha, depois de ter estado detida em Israel e de ter ganho um novo estatuto: heroína do keffiyeh. Fosse ela eurodeputada, eu teria compreendido a sua decisão, mas deputada única e líder de um partido em profunda crise e em luta na difícil campanha autárquica, é, para mim, de difícil compreensão. Veremos o que acontecerá ao Bloco no próximo domingo. Mas, acrescento, também é de difícil compreensão o abandono a que esta frente política tem votado a causa ucraniana e as centenas de milhares de mortos ucranianos e russos que a ilegítima invasão de um país independente e internacionalmente reconhecido já provocou ou o silêncio sepulcral sobre os 1200 chacinados e os 250 raptados (muito deles mortos, permanecendo ainda em cativeiro 48, vivos ou mortos) pelo Hamas. O Bloco é um partido em grave risco de extinção. Mas faz falta, desde que mude de rumo e possa, assim, contribuir para travar a ascensão política da direita radical*. Uma luta que deve ser travada em território nacional. Para ser claro, devo dizer que nem me revejo no ideologismo exacerbado e propagandístico da senhora deputada Mariana Mortágua nem no radicalismo feroz do senhor Benjamin Netanyahu e dos próceres ultra-ortodoxos de Israel.
“LA PERNACCHIA” PAR(A)LAMENTAR
Aquilo não foi um propriamente beijo, aquilo foi o que os italianos chamam “pernacchia” (“som vulgar emitido com um forte sopro com os lábios apertados em sinal de desprezo ou de troça”, Dicionário Garzanti). Visto, com olhar italiano, parece mesmo uma “pernacchia”. Um beijo é coisa séria e nunca, mas mesmo nunca, poderia gerar controvérsia parlamentar ou mesmo nacional. Um beijo é afecto, é amor. É para ser aplaudido, não contestado ou criticado. Mas, neste caso, nem ele nem ela parece poderem trocar um beijo. “Pernacchia”, sim. Beijo, não. E muito menos um beijo político. Talvez seja também por uma questão de estética. Mas eles, deputados, lá saberão. Cada um sentirá o gesto à sua maneira. O parlamento, já se sabe, é um lugar de relações intensas. E deve mesmo ser, porque ali se discute e decide a nossa vida. Não com beijos ou com “pernacchie”. Mesmo assim, esta “pernacchia” comparada com o “truca-truca” do “capado” Morgado, na lírica da poetisa-deputada Natália Correia, ou com os “corninhos” do ministro Manuel Pinho apontados a Bernardino Soares, é brincadeira de meninos. Mas não espanta que, mesmo assim, haja controvérsia, pois até já a palavra “vergonha” usada por um deputado foi objecto de escândalo e de grave censura presidencial. A política nacional navega bem é por estas irrelevâncias retóricas e gestuais e já há saudades da velha e sofisticada retórica parlamentar, fosse ela em jeito poético ou não. O Parlamento, infelizmente, não é hoje um poço de virtudes públicas. E nem sequer por motivos deste tipo.
2300
2300 é hoje o número maldito na controvérsia nacional. Nada mais importa. Nem sequer qual a solução para o gravíssimo problema da habitação – propriedade pública, expansão do mercado de arrendamento, bonificações fiscais para a recuperação de edifícios a colocar no mercado de arrendamento. Nada disto. Gritam todos: 2300 não é moderado! Esta combinação entre o número 2300 e a palavra moderado apagou tudo. Qual é afinal o problema? Simples: arrendas uma casa por valores entre 5 e 2300 euros e tens um alívio fiscal de 15% sobre o IRS. O crime foi falar de moderação num país de imoderados. E ter posto o limite máximo em 2300. E, todavia, o que, à primeira vista, parece é que o objectivo é desonerar fiscalmente quem puser casas no mercado de arrendamento, por valores situados neste intervalo. A coisa, indo na direcção certa, sabe-me a pouco. Creio mesmo que o problema só se resolve com a expansão do mercado de arrendamento. Promova-se a habitação pública, certamente, mas o que pode resolver o problema (dos valores do arrendamento e do custo das casas) é favorecer por todos os meios possíveis o mercado de arrendamento. Então, se assim for, que o Estado use todos, mesmo todos, os recursos para expandir este mercado. Para grandes males, grandes remédios. A coisa não se resolve com o Estado como arrendatário, vista a sua mais que demonstrada incapacidade como gestor. Use-se, então, de forma consistente, a alavanca fiscal para incentivar os senhorios a porem casas no mercado de arrendamento, tornando o negócio economicamente atractivo e seguro. Só que quando toca a mexer a sério nos impostos, nicles. Precisam de dinheiro para redistribuir. Algum dele pelas clientelas. Duma coisa estou eu seguro: não é incentivando a compra de casas, por exemplo, ficando o Estado como fiador, que se resolve o problema da habitação; pelo contrário, o que, segundo a lógica da relação entre a oferta e a procura, acontece é o imediato aumento do preço das casas, como tem vindo a acontecer. Mas, dirá alguém, isso agora não interessa nada, porque 2300 euros não é, de facto, um preço de arrendamento moderado, o que mostra a imensa malvadez do governo em funções. Eu não gosto muito deste governo, mas que a medida aponta um caminho correcto, lá isso aponta.
A CORPORAÇÃO
Ivo Rosa, o proscrito. Ousou contrariar os donos da corporação e do sistema. Decidiu sobre um processo maldito e foi castigado. Absolveste Sócrates, então acusamos-te a ti (e devassamos-te, durante anos, “a vida financeira, fiscal e pessoal”, “Público, 03.10, p. 21). Tudo muito correcto para o actual PGR. E assim, assim, para a Associação Sindical dos Juízes. E mais: segundo Marcelo Rebelo de Sousa, PR e constitucionalista, deve ser a corporação a reflectir sobre si própria e não o governo ou o parlamento para não afectar o princípio da separação de poderes. Estranho conceito de democracia, onde se aconselha os representantes do povo a não se pronunciarem sobre um dos pilares do sistema democrático. Mas eu, que não sou constitucionalista, tenho a convicção profunda de que o princípio da separação dos poderes não deve sobrepor-se à legitimidade de primeiro grau, ontológica, dos representantes – a dos titulares directos da soberania (o parlamento) – nem impedir a sua legítima e devida regulação do sistema. Entretanto, pelo caminho ficou o processo de António Costa. Também aqui deve acontecer o mesmo, quando o sistema foi gravemente abalado em dimensões fundamentais com um estranho comunicado da PGR, emitido quando a PGR estava em reunião com o PR? A verdade é que já lá vão quase dois anos e duas eleições legislativas e sobre isso ninguém sabe o que quer que seja. E por onde anda a averiguação preventiva a essa estranha empresa Spinumviva, que, ao que parece, continua sedeada na residência privada do PM? Quando haverá resultados? Os 500 mil euros atribuídos a Alexandra Reis, depois de uma longa CPI, conhecem novos episódios com Pedro Nuno Santos a ser de novo investigado. Parece que o homem se tornou o bombo da festa. E sobre a legalidade de o PGR, magistrado do ministério público com mais de 70 anos, continuar em funções ninguém fala? Já ninguém controla a poderosa corporação nem ela se controla a si própria. O PR a coberto do princípio da separação de poderes lava as mãos como Pilatos e aconselha outros a fazerem o mesmo. E o Parlamento parece estar refém de uma classe política indigente. Mas não admira, visto o sistema de recrutamento dos deputados e o seu modo de eleição. De quando em quando vêm-me à memória os estudos que há muito fiz sobre a I República e acabo por ficar preocupado. Mudam os tempos, mas certas vontades nunca mudarão.
A EXPULSÃO
Outro proscrito é o Daniel Adrião, que ousou enfrentar o candidato do PS à presidência da junta de freguesia de São Vicente (Lisboa) – depois de, sendo membro da Comissão Nacional e da Comissão Política Nacional do PS, se ter oferecido ao seu partido para aqui concorrer -, liderando um movimento não partidário nestas eleições autárquicas. Expulso. Já aqui escrevi acerca deste assunto da expulsão de militantes pelo PS a propósito da notícia da expulsão, pelas mesmas razões, de 320 militantes e do velho militante Maximino Serra (“Militância e Liberdade” – Link: https://joaodealmeidasantos.com/2022/05/09/artigo-68/ ). Volto agora ao assunto, porque não me quero ficar pela redução da política a assunto de obediência estatutária e partidária. Os casos já são muitos e, nestas eleições, muitos mais haverá. E se acontecem não será só porque a natureza humana é assim. Se isto acontece quer dizer que há má gestão dos processos e que há deficiência no método de escolha dos candidatos a eleições, sejam elas internas sejam elas externas. Sobretudo em eleições autárquicas, onde as relações de proximidade tornam os processos mais complexos e delicados. Depois, há dois aspectos a tomar em conta: a queda tendencial do chamado “sentimento de pertença”, não só devida à crise das narrativas ideológicas, mas também ao crescimento dos canais de informação à disposição da cidadania; e a crise da organicidade dos partidos. Tudo isto deveria levar os partidos, neste caso o PS, a fixarem-se mais na dimensão política do problema e menos no rigor estatutário, que, se praticado em excesso, e nos tempos que correm, pode mesmo levar ao “rigor mortis”. Mas, não, o que se vê é um exercício da política por inércia, como se nada tivesse mudado. Depois, também é verdade que, em certos casos, a militância pode tornar-se mesmo impeditiva da liberdade que é suposto promover, quando o “sentimento de pertença” se torna exclusivo, impedindo o livre exercício de uma cidadania activa. E eu nem acho que haja incompatibilidade entre uma pertença política orgânica e a plena liberdade no uso dos direitos de cidadania. O que já não faz sentido é considerar a “pertença” como bloqueadora do exercício de cidadania activa através do ferrete estatutário. E muito menos quando essa cidadania se exerce fora do âmbito partidário, como no caso vertente. Daniel Adrião foi candidato a secretário-geral, membro da CN e da CPN, líder de uma tendência interna do PS com representação nos órgãos nacionais do partido e, mesmo, assim, não foi aceite nesta batalha autárquica, não importa aqui por que motivos. Não saiu do partido nem integra uma lista partidária, mas sim um movimento de cidadãos à Assembleia de Freguesia de São Vicente. Sempre expôs os seus pontos de vita frontalmente nas reuniões dos órgãos nacionais. E isto deveria levar o PS a reflectir seriamente sobre tantos daqueles aspectos organizacionais que precisam de ser revistos e actualizados. Mário Soares foi o candidato apoiado pelo PS nas presidenciais e Manuel Alegre foi seu adversário nessas mesmas eleições, não tendo sido, por isso, expulso. A revisão da identidade organizacional deverá ser revista (o que, de resto, até já foi anunciado pelo actual secretário-geral nas recentes eleições internas) a começar pelos processos de selecção dos seus dirigentes e dos candidatos a cargos electivos institucionais, processos onde reside grande parte do problema, devido à presença difusa das chamadas “bolsas de quotas” e a um indesejável sectarismo militante (e interesseiro). E que obstam a que, por exemplo, seja promovida a selecção dos candidatos através primárias abertas. O que acontecerá se a candidatura de Daniel Adrião, mesmo assim, resultar vencedora em S. Vicente? São já demasiados os casos em que uma má gestão dos processos eleitorais deu lugar a pesadas derrotas do PS. Em tempos, analisei detalhadamente um caso paradigmático de deficiente gestão do processo autárquico: o das eleições autárquicas de 2013, na Guarda (veja a revista ResPublica, 17/2017, pp. 103-125 – http://cipes.ulusofona.pt/wp-content/uploads/sites/137/2018/07/RES-17v11.pdf ). Uma coisa é certa: não faz sentido que os estatutos sirvam, em certos casos, para bloquear o livre exercício da cidadania por parte de militantes que sempre demonstraram coerência ideológica, lealdade partidária e activismo no interior do próprio partido. Talvez Daniel Adrião devesse ter solicitado a suspensão provisória da sua condição de militante, com motivação argumentada da sua decisão. Mas a verdade é que muitas coisas mudaram e o fechamento endogâmico dos partidos também deveria acabar. Um grande partido como o PS não pode comportar-se como uma imensa federação de interesses pessoais ou intergrupais. Não é por acaso que a quebra dos partidos da tradicional alternância (governativa) tem vindo a acontecer progressivamente. Sobre este assunto há muito que aqui venho escrevendo.
NOTA
* Sobre este assunto, veja-se a posição de Francisco Mendes da Silva, “Mariana Mortágua deu-me razão”, no “Público” de 03.10.2025, p. 6, com a qual genericamente concordo. JAS@10-2025
“FRAGMENTOS – PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA”
de João de Almeida Santos (S. João do Estoril, ACA Edições, 2025, 228 páginas)
APRESENTAÇÃO
Centro Cultural de Cascais 19.09.2025
Por Salvato Teles de Menezes*
FRAGMENTOS é um livro dividido em 15 secções, a que o autor chama capítulos, com títulos tão sugestivos quanto díspares, como “O Pleno e o Vazio”, “A Saudade, o Poeta e a Musa”, “Amar”, “Paisagens”, “O Loureiro e a Poesia” e “Templo e Melancolia”, entre outros, contendo cada uma um incerto número de poemas, de 9 a 24, se a minha álgebra ainda funciona, versando temas que acomodam divagações sobre objectos animados e inanimados, situações, conceitos, paisagens, sensações, sentimentos, pulsões, a que entendeu chamar sábia e gregamente “fragmentos”. Não me debruçarei sobre estes aspectos mais textuais, mas não deixarei de dar algumas notas sobre o que o autor chama “processo sinestésico” e a que eu, numa manifestação de ousadia, acrescentarei a noção de Écfrase. E não entrarei em terrenos demasiado textuais por duas razões: a primeira tem que ver com o facto, melhor, os factos de eu acreditar que os consumidores de literatura, em sentido estrito, não são ignaros e também, seguindo o pensamento de Duchamps, se ao artista, ao criador, é exigido tanto esforço e aplicação para construir a sua obra, também ao leitor ou fruidor de qualquer obra de arte deve caber algum trabalho de interpretação e de identificação dos traços técnico-formais que a caracterizam; a segunda, porque não só o livro, que mostra vontade de ser teoria, mas também o prefácio e a réplica aos comentários dos internautas que com o autor dialogam, instam o apresentador a teorizar, sob pena de ficar aquém dessa provocação ou de deixar a ideia de que já se esqueceu dos tempos em que ensinou Teoria da Literatura na sua alma mater. Riscos que o apresentador não quer correr. E permita-se-me uma citação: “Da leitura deste livro resultará um conhecimento mais preciso daquilo que se designa por póetica, neste caso, da minha poética, ou seja, dos elementos estruturais e constantes que integram o núcleo de todos os poemas”: eis uma declaração de JdAS em que, para mim, ressoa aquela bela definição de Novalis:
“Die Poesie ist das echt absolut Reelle. Das ist der Kern meine Philosophie. Je poetischer, je wahrer”,
que, curiosamente, pode ser encontrada num seu livro intitulado Fragmente. Ora, como não quero deixar de tentar responder da melhor maneira que sei e posso a essa convocação, aqui se apresentam algumas considerações que, ainda que possam parecer estar apenas obliquamente relacionadas com o livro, tem tudo, ou pelo menos muito, a ver com ele.
I.
Mas, antes disso, ainda quero dizer deux ou trois choses que je sais sobre as tais Sinestesia e Écfrase, começando por defini-las. A Sinestesia é, então, a fusão de diferentes domínios sensoriais num mesmo enunciado, criando uma percepção híbrida (visão + tacto, audição + paladar etc.), sendo, portanto, uma figura ligada à intensidade da experiência estética, com forte presença na poesia e na prosa lírica, que é o caso vertente.
Por sua vez, a Écfrase, segundo a tradição clássica (de Homero a Filóstrato, passando pela retórica antiga), é a descrição verbal de uma obra visual (um quadro, uma escultura, uma tapeçaria). Dois dos seus mais brilhantes teóricos contemporâneos, James Heffernan e W. J. T. Mitchell, definem-na assim: o primeiro, como a verbalização de uma “representação visual”, e o segundo, que lhe amplia o conceito, como um lugar de intermedialidade, onde palavra e imagem se confrontam, competem e dialogam.
Significa isto que a relação entre os dois conceitos é fecunda e pode ser pensada em três frentes:
a) Dimensão sensorial expandida
A Écfrase, em princípio, parte do visual (uma pintura, uma cena vista), mas muitos textos ecfrásticos recorrem à Sinestesia para ultrapassar a pura visão, conferindo espessura táctil, sonora, olfactiva, gustativa às imagens descritas, podendo isto ser exemplificado com uma pintura descrita não apenas pelo que mostra, mas também pelo “silêncio metálico” que sugere ou pelo “perfume ácido” das cores.
b) Intensificação da presença
Heffernan e Mitchell observam que a Écfrase tende a criar uma “ilusão de presença”, sendo a Sinestesia um dos modos de reforçar essa presença: quanto mais sentidos são convocados, mais a imagem verbal ganha corpo e densidade.
c) Transposição inter-semiótica
Se a Écfrase é já uma transposição de um meio (imagem) para outro (palavra), ou vice-versa (a chamada “écfrase invertida”), a Sinestesia pode ser vista como um paralelo interno: uma transposição entre diferentes registos sensoriais. Assim, a Sinestesia funciona como recurso estilístico que intensifica a operação ecfrástica, tornando a descrição mais vívida e multissensorial.
Em resumo: a Écfrase e a Sinestesia encontram-se na tentativa de transcender os limites da linguagem verbal, aproximando-a da experiência sensorial plena. A Écfrase faz a ponte entre artes (imagem ↔ palavra), enquanto a Sinestesia faz a ponte entre sentidos (visão ↔ tacto, audição, etc.). Ambas operam, portanto, como estratégias de “tradução” e de intensificação do real no texto literário. Aplique-se isto, por exemplo, a: “Este poema e o respectivo quadro (ambos com o mesmo nome ‘A Janela’) até poderiam equivaler à garrettiana janela e à garrettiana Joaninha, como dizia um Amigo, a propósito. E também a um Carlos…” (“A Janela”, p. 123, poema 111); ou a: “Na verdade, a sinestesia é um enlace entre duas artes…” (“Enlace”, p. 131, poema 117).
Este excurso, ou não, feito, passemos então, à teoria, para, como é sugerido pelo autor de Fragmentos, seguir a fórmula de E. A. Poe.
II.
Como a palavra poesia significa etimologicamente criação, não é incorrecto apelidar toda a produção literária de poética. Assim o faz o nosso mestre Alfonso Reyes, o teorizador cujas concepções críticas servem de base ao que vamos enunciar, por certo sem o brilho da sua perspicácia intelectual e da sua prosa elegante e clara. Reyes divide a criação literária pura (poesia) em três funções: drama, romance e lírica. Cada uma destas funções subdivide-se, ainda segundo o mestre mexicano, em géneros, isto é, diferentes tipos de drama, romance ou lírica[1].
Mas a palavra poesia tem ainda outro significado: a maneira da forma literária oposta à prosa. Em geral, pensamos que a prosa é um modo literário relativamente arrítmico e mais apropriado à expressão de ideias, enquanto a chamada poesia é uma forma mais regularmente rítmica e mais adequada à expressão de emoções. Deste modo, à medida que a prosa se torna mais rítmica e se carrega de emoção, consideramo-la mais poética. Sem a presença de um certo «peso» do ritmo, não há efectivamente prosa artística. Entretanto, como a palavra poesia é usada noutro sentido, o de obra em verso, é importante esclarecer que, se bem que o verso seja a maneira “habitual” de certos géneros poéticos, não constitui um elemento essencial. Pode haver dissertações em verso que não são poesia, como é o caso de certos tratados didácticos do século XVIII (Ler “Concerto”, pp. 42-43, poema 20).
Agora, quando a predominância da literatura escrita ainda é quase total, reconhecemos que o metro, a rima e mesmo o ritmo regular não são aspectos essenciais no que à poesia respeita. O ritmo tout court é, no entanto, absolutamente essencial. A poesia é rica em emoção e, por isso, é necessariamente rítmica, como acontece com todas as outras artes do movimento que se desenvolvem no tempo. A poesia é persuasiva, não argumentativa, apela mais à imaginação que ao raciocínio lógico: é por isso que emprega símbolos que são quadros ou imagens e não puras abstracções. O seu recurso principal é a intensidade da expressão verbal: é uma luta com o logos, que alguns teorizadores e escritores comparam à luta de Jacob com o Anjo no célebre passo bíblico (Génesis, 32:25-33 e Oseias 12: 3-7). E aqui estamos, aliás, a ecoar várias intervenções teórico-poéticas de JdAS sobre a sua prática, intervenções, aliás, persistentes e pertinentes.
O poeta transforma em nova e positiva latitude o que poderia parecer limitação, não lhe podendo ser indiferente o elemento técnico-formal, uma vez que lhe não é permitido confiar demasiado na poesia como «estado da alma» e deve insistir na ideia de que a poesia é sempre uma árdua vitória sobre a palavra. É neste segundo aspecto que reside o valor essencial da sua arte; o primeiro é apenas (?) emoção prévia. Veja-se o ponto “Poética” da citada réplica aos amigos internautas: na poesia, “natureza variável / das palavras, / nada se perde / ou cria, / tudo se transforma” [2], nada portanto pode ser deixado ao arbítrio do acaso.
A emoção poética só é poeticamente (textualmente) expressa por meio de uma forma verbal que é aquilo que legitimamente se deve apelidar de retórica. Ora, estes métodos e hábitos da expressão verbal estão sujeitos à evolução do gosto [3].Quando um sistema de expressões se esgota no decurso do tempo (a worn out mould, como dizem alguns teóricos norte-americanos) e não porque careça em si mesmo de qualidade, podemos dizer que essa forma deixou de nos emocionar, porque é tão nova para nós como o foi para os homens da época em que surgiu, mas não é aceitável denegar o seu valor real já fixado no tempo e na verdade poética. Leia-se o ponto “Estremecimento” ainda do referido texto.
É indiscutível que existe na poesia uma comunicação de mistério, definindo-se os grandes artistas por serem capazes de captar a sua etérea essência. No tempo actual tenta-se realizar a expressão do mistério poético procurando escapar aos rigores lógicos, enquanto em tempos idos, os românticos, por exemplo, tentaram encerrá-lo na carga emocional que deram às palavras (foi essa a sua grande inovação) e os que chamamos clássicos perseguiam esse escopo de outros modos. Seja qual for o tipo de poesia praticado, os poetas esforçam-se por alcançar essa capacidade de expressão do mistério. Lembremo-nos de que se hoje nos cansa o rigor lógico e o excesso sentimental, estes elementos tinham para quem os introduziu na poesia «um calor substantivo de mistério» (Leia-se “O Milagre do Impossível”, p. 197, poema 190).
E é óbvio que o poeta contemporâneo nos comunica coisas idênticas às que foram comunicadas pelos poetas seus antecessores, residindo a diferença na utilização de determinados processos técnico-formais (Leia-se “Revelação”, p. 155, poema 139).
E se há poesia difícil é porque o poeta assim o quer, poesia a que se poderia chamar hermética, que, aliás, existiu em muitas épocas, se não em todas: há, hoje em dia, como sempre houve, poesia caótica ou incoerente por debilidade ou defeito do poeta, mas há outra que resiste aos nossos esforços interpretativos justamente por ser pertinentemente actual (Herberto Hélder). Seja como for, grande parte da poesia contemporânea parece difícil porque poucos leitores lêem poesia enquanto tal, por quererem entendê-la sem lhe dedicarem a atenção que ela exige. São mentalmente preguiçosos, e o poeta contemporâneo necessita da colaboração intelectual do leitor, porque a sua poesia sugere, recusa-se a declarar: os procedimentos literários de que se serve são indirectos. JdAS é também um poeta que exige a total atenção do leitor para ser integralmente apreciado.
III.
O leitor actual necessita de ter uma preparação superior ao do passado para abordar a poesia deste tempo, porque essa prática poética releva de uma longa e vasta tradição literária, filosófica e cultural: a poesia contemporânea é mais pura no sentido de que destaca mais e melhor os procedimentos característicos da arte poética: o símbolo e não a atracção, a sugestão e não a declaração explícita, a metáfora e não a linguagem linear, directa (Leia-se “Epílogo”, p. 211).
Toda a experiência é potencialmente poética e o poeta dá ao leitor a liberdade de reagir a essa matéria de acordo com os diversos modos que estão ao seu dispor. Ao oferecer-nos a possibilidade de sentir e conhecer um mundo cada vez mais complexo e variado em todas as suas manifestações, a poesia contemporânea acaba por se tornar difícil e impor àquele que lê o exercício de todas as suas capacidades intelectuais e não exclusivamente a sua sensibilidade, seja lá o que isso for. Qualquer um dos poemas do livro serve para exemplificar isto, mas “Prosa poética”, p. 201, poema 196, é suficiente.
Recapitulando: uma das razões principais da deficiente apreciação da poesia reside no hábito de o leitor procurar no poema as verdades poéticas que lhe são familiares, aquilo a que o acostumou a poesia de épocas anteriores, sobretudo a romântica, mais directa na sua encenação textual.
Sabemos que o tema, isto é, a ideia ou motivo básico de um poema, pode ser o mesmo em épocas diferentes e que, contudo, a atitude do poeta pode variar consideravelmente. Ora, o modo de apresentar o tema varia de um poema para outro, segundo as combinações de símbolos, imagens, ritmos e sons que o poeta utilize, sendo que, ao apresentar um tema, o poeta nunca se limita a enunciá-lo. Se assim fosse, muitos poetas poderiam ficar reduzidos aos primeiros versos das suas composições.
Um poema é, afinal, a dramatização de um tema. Qualquer poema — mesmo os mais breves cantos líricos ou os mais longos poemas descritivos ou estes que compõem Fragmentos — traz implicita uma organização dramática. Esta é uma característica que convém ter presente quando se lê poesia: o seu aspecto dramático.
Quando dizemos que em poesia há sempre um tema básico, não queremos com–isso inspirar no leitor o equívoco de que deve procurar em qualquer poema uma moralidade que aplicará ou não à sua vida. Há poemas em que realmente existe essa moral prática e muitos deles são excelentes exercícios poéticos. Ninguém pode negar o valor moral de muitas máximas contidas em poemas, mas isso não chegaria para fazer deles obras de mérito literário. Uma ideia em si não basta para criar um poema. O facto de ela lá estar também não basta, como é evidente, para o destruir. Por isso, se o leitor não estiver de acordo com a ideia que um dado poema exprime, errará se acreditar que o poema é desprezível. Pode ser um bom poema, a expressão acabada e perfeita de ideias que diferem das do leitor. É muito provável que poucos de nós concordem com as ideias que alguns poetas exprimem, mas isso não significa que o resultado poético não seja artisticamente capaz: protestantes e ateus convictos lêem e admiram a Divina Comédia de Dante; católicos fervorosos e agnósticos podem ler e admirar Paradise Lost de Milton, sem alterar por isso as suas fidelidades ideológico-religiosas; idealistas e conservadores podem apreciar a poética materialista de Maiakóvskii. A poesia não deve ser julgada apenas do ponto de vista do tema, que pode estar em conflito directo com as nossas crenças pessoais. Também quem não concorde com a mundividência expressa nos textos de JdAS pode tirar gozo estético da leitura deles.
Outros leitores adoptam a perspectiva de que a poesia não deve encerrar ideias ou verdades, mas expressar a pura emoção, como se isso fosse possível. Um crítico também pode adoptar esta visão e dizer que um poema é a expressão de um momento de pura realização do ser, que só tenta dar ao leitor a impressão de uma sensação ou de um momento vivido. Examinemos melhor esta afirmação: será que um poema exprime a pura emoção, digamos, da tristeza, com a mesma intensidade que, por exemplo, um grito? Ou será que o leitor, quando lê um poema que exprime tristeza, sente tanto essa emoção como sentiria um pesar pessoal? A resposta só pode ser negativa. No que respeita à mera intensidade emocional, o poema não pode ser igualado à experiência directa: é a reacção do artista a uma experiência, seja de que tipo for, e, portanto, é uma interpretação, que por sua vez provocará no leitor uma reacção análoga, mas que não será necessariamente a mesma.
Outro conceito que pode confundir o leitor é aquele que afirma que a poesia «é a expressão bela de uma verdade elevada». Isto não passa de poesia como parte da didáctica. Nos livros infantis são por vezes utilizados poemas cuja finalidade é transmitir em forma rítmica certos preceitos ou conhecimentos e, de um ponto de vista didáctico, esse procedimento é legítimo, mas não poderá ser essa a atitude adequada à abordagem de um poema como obra de arte; porque a linguagem da poesia não se cria separada da ideia – forma e conteúdo são inseparáveis na obra artística (dentro dos limites estabelecidos por Hjelmslev). Se examinarmos exemplos de poesia genuína, descobriremos que não é assim, que a poesia pode usar, com grande arte, objectos, situações, ideias, símiles e imagens que não são conaturalmente poéticos, se por poético se entende o que é «bonito» ou «agradável». O efeito de um poema depende do modo como os seus elentos constitutivos são operados pelo poeta.
IV.
Há poemas dos finais do período romântico que se caracterizam por uma selecção muito requintada de vocábulos, pela elegância da forma, e que exprimem uma determidada ideia, normalmente muito delicada, com grande finura. Contudo, muitos deles não conseguem criar no leitor a poderosa impressão de outros poemas que não empregam uma única palavra ou imagem que seja em si mesma bela. Veja-se, por exemplo, o caso de alguns poemas de Federico Garcia Lorca, José Gomes Ferreira ou João de Almeida Santos. Digamos que em certos poemas se nota uma discrepância fundamental entre forma e ideia, que os seus autores se deixam dominar por uma tendência preciosista, ofuscando a ideia sob o manto aveludado de um esplendor desnecessário.
No segundo tipo de poema pode não haver palavras preciosas, pode não haver imagens que sejam intrinsecamente belas. Muitas vezes é o oposto que acontece: grande número de vocábulos e imagens, que podem chegar a ser chocantes, precipitam-se sobre o nosso espírito e adquirem um valor inusitado. A força desses poemas, o seu alto valor poético, reside na perfeita unidade que o poeta soube construir entre expressão e ideia.
Um poema, portanto, não pode ser apenas considerado uma sequência de objectos e ideais poéticos em si mesmos, por mais beleza individual que possam possuir. Também não é apenas um grupo de elementos em combinação mecânica — metro, rima, linguagem figurada, etc. —, reunidos como os tijolos de uma parede. É a relação entre estes ou aqueles elementos do poema que importa, e essa relação tem um carácter íntimo e fundamental: um poema constitui um todo orgânico. Quando consideramos os elementos de um poema — ritmo, imagens, vocabulário, métrica — de nada servirá analisá-los separadamente, devendo ser avaliados em relação com a intenção global e a forma de organização (a composição) do poema no seu todo (Leia-se “O Milagre da Poesia”, p. 121, poema 108).
V.
As qualidades que distinguem o modo de tratar poeticamente um assunto, se comparadas com a maneira de o fazer em prosa, são essencialmente duas: concentração e intensidade; e este aspecto é importante para perceber por que se entende que os textos de Fragmentos são, como atrás se referiu, prosa lírica. É que a forma da poesia apresenta uma organização mais complexa do que a da prosa, requerendo um processo de selecção mais rigoroso, com a sugestão a predominar como meio de expressão. Com isto não queremos dizer que este tipo de organização esteja fatalmente fora do âmbito da prosa, mas que é predominante em poesia.
Veja-se este belo exemplo de prosa poética (ou poesia em prosa), que poderá ser colocado ao lado dos que preenchem Fragmentos, sem desprimor para nenhum dos autores:
Poiso a mão vagarosa no capô dos carros como se afagasse a crina dum cavalo. Vêm mortos de sede. Julgo que se perderam no deserto e o seu destino é apenas terem pressa. Neste emprego, ouço o ruído da engrenagem, o suave movimento do mundo a acelerar-se pouco a pouco. Quem sou eu, no entanto, que balança tenho para pesar sem erro a minha vida e os sonhos de quem passa?
(Carlos de Oliveira, “Posto de Gasolina”)
O ritmo, já o dissemos, não é exclusivo da poesia: a diferença entre poesia e prosa quanto ao ritmo é unicamente de grau. Mas esta diferença de grau é central. A poesia tende a empregar o ritmo com regularidade, se bem que haja inúmeros matizes que vão da prosa rítmica ao ritmo regular do verso. A versificação é uma ordenação sistemática do ritmo, daí que o verso seja uma maneira da forma primordialmente utilizada pela poesia.
A propósito do verso livre convém referir que a frequência de uma versificação sistemática como forma da poesia em geral pode fazer com que se tenda a confundir versificação com poesia, levando a esquecer que o verso não é senão um dos instrumentos que o poeta tem à sua disposição para transmitir uma mensagem. Ninguém pensará que várias palavras sem relação ou sentido possam ser consideradas poesia só porque apresentam uma forma versificada. Para que haja poesia é necessário que as palavras se relacionem entre si de modo a construir um sentido poético, se bem que às vezes não pareça lógico. A poesia é justamente o resultado da interrelação de diversos elementos e não é inerente a nenhum deles isoladamente, sendo a forma da disposição desses vários factores de acordo com uma finalidade artística (Leia-se “Voar sobre o silêncio”, p. 116, poema 104).
Outro modo de utilizar o efeito expressivo dos sons é a rima, ou igualdade das letras finais da palavra, a partir da última vogal acentuada, mas a rima pode existir dentro do verso ou linha: a aliteração pode ser considerada uma manifestação de rima interna. A finalidade da rima é, portanto, de ordem estrutural, além de que possui a qualidade de ser agradável, repetitiva e musical, mas todos os recursos da versificação, por mais fundamentais que sejam, não deixam de também ser limitações. Os poetas que trabalharam em períodos nos quais esses procedimentos foram considerados regras que era “obrigatório” respeitar viram-se muitas vezes forçados a alterar as palavras para que pudessem caber num metro determinado ou a empregar vocábulos que diminuíam o rigor da expressão. A tanto obrigava a necessidade de terminar uma rima. Não foi por acaso que Verlaine se revoltou contra a rima — «ce bijou d’un sou» (essa jóia de pacotilha), que não é o caso, diga-se, deste belo e rimado poema “ILUSÃO”:
A MUSA Nunca existiu, Dizia O poeta Fingidor, Era apenas Artifício Pra simular O amor. E O POEMA Também não, São palavras Ritmadas Pra criar A ilusão De vidas Que são Criadas Com alguma Inspiração. NADA EXISTE A não ser Como desejo Que não se torna Real, Só nuvens Que o vento Leva E já não voltam Ao céu Onde o poeta Navega E desenha Com palavras Tudo aquilo Que perdeu. O VENTO É seu amigo Leva palavras Consigo Pra simular A vontade D’estar sempre Ao pé dela Evitando O castigo De só a ver Da janela. É TUDO Piedosa Ilusão De quem nunca Partiu Do lugar Que habitou Onde o amor Mais não era Do que aquilo Que sonhou.
(João de Almeida Santos, “Ilusão”. Link para o poema: https://joaodealmeidasantos.com/2025/08/09/poesia-pintura-275/
VI.
Por outro lado, a poesia contemporânea também desenvolveu no mais alto grau a função do símbolo e da imagem e o uso da linguagem figurada.
A representação, em poesia, de uma experiência dos sentidos chama-se imagem. O poeta transmite as suas experiências por meio de comparações e daquilo a que chamamos linguagem figurada, cujas formas mais habituais são o símile e a metáfora, sendo que o símile, como todos sabemos, emprega os termos comparados e o comparativo (a sua face fresca como uma rosa) e a metáfora suprime o termo comparativo, identificando os termos comparados directamente um com o outro (a rosa da sua face). É claro que a metáfora sugere muitas interpretações que não cabem no símile, mas o que importa sublinhar é que a imagem não é um ornamento da poesia: é uma forma de comunicação, como já afirmámos. Os modos de funcionamento da imagem são demasiado numerosos e complexos para serem apresentados aqui, mas convém sublinhar que nunca a devemos encarar como uma simples ilustração (Leia-se “O Eco do Silêncio”, pp. 110-111, poema 94).
Um processo que está relacionado com o espaço metafórico é o da criação e uso do símbolo em poesia. O símbolo é uma espécie de metáfora em que se omite um dos termos. Se um poeta nos diz que uma mulher é «a rosa do Abril das almas», construiu uma metáfora, mas quando escreve sobre um poema «nunca a toques; assim é a rosa», sugerindo com esta palavra a qualidade do poema, então converteu a rosa num símbolo. Os poetas chegam, aliás, a ser identificados pelos seus símbolos característicos, pois cada um costuma criar alguns muito pessoais: quem não recorda a lua de Garcia Lorca, o cisne de Rubén Dario, a cal de Carlos de Oliveira, o loureiro de João de Almeida Santos? A relação do símbolo com o seu significado não é de carácter lógico — «é demasiado subtil para o intelecto», disse Yeats —, mas tem poder e intensidade ilimitados.
Sabe-se que desde sempre a poesia dá expressão ao mito. A poesia dramática, por exemplo, limitou-se (?) durante muito tempo a ser representação do mito em forma de acção directa; a poesia épica, por seu lado, representou-o em forma de narração, e mesmo a poesia lírica, mais pessoal na sua expressão, lhe emprestou voz musical. Se bem que agora essas três funções da poesia abordem temas muito diferentes e afastados dos antigos mitos, não podem todavia desenraizar-se deles e frequentemente fazem com que eles revivam em novas interpretações (como, por exemplo, o mito de Narciso e o de Orfeu) ou baseiem neles novas construções míticas (Leia-se “Sísifo”, p. 94, poema 77).
VII.
Para (quase) terminar, queremos tocar num ponto que nos parece de particular interesse. A poesia, como sabemos, tem um valor sonoro: não é feita apenas para ser lida, também existe para ser ouvida. O leitor que não seja capaz de ouvir a poesia não poderá apreciá-la devidamente. Quando lê, deve reproduzir mentalmente os sons e a entoação sem os quais não pode apreciar o poema na sua inteireza. Será conveniente, pelo menos nas primeiras vezes, ler os poemas em voz alta até aprender a ouvi-los mentalmente. O poeta dirige-se sempre ao leitor na expectativa de que este o «ouça com os olhos».
Veja-se, por exemplo, a musicalidade deste soneto:
Vocábulos de sílica, aspereza Chuva nas dunas, tojos, animais Caçados entre névoas matinais, A beleza que têm se é beleza. O trabalho da plaina portuguesa, As ondas de madeira artesanais Deixando o seu fulgor nos areais, A solidão coalhada sobre a mesa. As sílabas de cedro, de papel, A espuma vegetal, o selo de água, Caindo-me das mãos desde o início. O abat-jour, o seu luar fiel, Insinuando sem amor nem mágoa A noite que cercou o meu ofício.
(Carlos de Oliveira, “Soneto Fiel”)
Ou deste poema, que é diferente e igualmente intenso:
EU CANTO E pinto O meu destino, Sonhos velados, A minha vida, Sonhos marcados Por tudo aquilo Que imagino Nas noites frias Da despedida. PERDI A CHAVE Do meu futuro Já só me resta A partida, Por isso canto E, como as aves, Voo mais longe E com mais cor Porque no céu Há mais azul E nos meus sonhos Já não há dor. MAS HÁ SEGREDO Não revelado E se o dissesse Não deveria, Como poeta E fingidor Eu certamente Até mentia. E NÃO O DISSE, Mas eu pequei Com murmúrios D’enamorado Em poemas Inocentes Onde cantava Esse meu fado Com palavras Luminescentes. POR ISSO VOO Sempre mais alto, Trepo nas cores Pra lá chegar, O céu azul Dá-me alento Pra meus segredos Nele guardar. LEVO PALAVRAS Comigo, Procuro inspiração. Levo cor, O meu abrigo, Levo a musa E tudo o mais E quando parto Lá para cima É sempre festa Nesse meu cais. LEVO-TE A TI E desse jeito Eu sou feliz Lá bem no alto, No azul do céu, Onde respiro Esse ar puro E rarefeito, Lá onde o mundo É todo meu. EU CANTO E pinto Pra exaltar Esse teu rosto, Iluminar Em aguarela Esse enleio Do meu olhar Pois se te vejo Logo me vem Esta vontade De te pintar. POR ISSO, CANTO Por isso, voo, Por isso subo Lá para o alto E dou-te asas E o infinito, Voar contigo No céu azul É um prazer... ................ E é bonito!
João de Almeida Santos, “Voar”. Link para o poema: https://joaodealmeidasantos.com/2025/08/16/poesia-pintura-276/
VIII.
E termino, retribuindo uma vez mais a provocação a que me referi no início, com uma citação de Alfonso Reyes, extraída de El deslinde, que JdAS entenderá cabalmente: “Si Aristóteles nos entusiasma en su defensa de los poetas, no nos entusiasma menos Platón en su heroica lucha – por desgracia algo confusa en sus libros – por emancipar la poesia de los fraudes sentimentales, llevándola a la zona austera y difícil, neumática en cierto modo, en que ella reivindique su jerarquia.” Muito obrigado pela vossa atenção.
Cascais, 19 de setembro de 2025
NOTAS
1) O género literário define-se habitualmente como um conjunto de regras e restrições que regem a produção de um texto. Cf. Costanzo di Girolamo, Para uma crítica da teoria literária (Lisboa, Livros Horizonte, 1985), que tive o gosto de traduzir. As obras de Reyes consultadas são El deslinde, Cuestiones de estética e La experiencia literaria (Ciudad de Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1944, 1955 e 1962).
2) Carlos Oliveira, “Lavoisier”, Sobre o lado esquerdo (Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1968).
3) Galvano della Volpe, Critica del Gusto (Milano, Feltrinelli, 1966).
* NOTA BIOGRÁFICA
SOBRE SALVATO TELES DE MENEZES
Licenciado em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1973, instituição de que se torna professor assistente no Departamento de Estudos Anglísticos (1974), ocupando-se das cadeiras de Literatura Inglesa, Literatura Norte-Americana e Teoria da Literatura. É Vogal do Conselho Directivo entre 1978 e 1988. Lecciona Literatura Portuguesa e Brasileira e Teoria da Tradução em Boston (NE University), doutorando-se em English Studies, com uma dissertação sobre o romance histórico norte-americano (1993).
Director Editorial de Livros Horizonte (1977-1980), membro da Comissão Executiva do I Congresso de Escritores de Língua Portuguesa (1998), co-fundador e Director de Programação do Festival Internacional de Cinema de Troia (1984-1991), Vice-Presidente e Presidente do Instituto Português da Arte Cinematográfica e Audiovisual (1993-1995), representando Portugal no Programa Eurimages. Membro do Conselho de Opinião da Radiotelevisão Portuguesa (2002-2007). Membro do Consejo Asesor da Fundación Duques de Soria (2019), passando a integrar o Patronato em 2023.
Administrador-Delegado da Fundação D. Luís I (1996), tornando-se também Presidente do Conselho Directivo a partir de 2013. Director Municipal de Cultura (2022-) da Câmara Municipal de Cascais.
Fez ainda parte do Júri do Grande Prémio do Romance e da Novela (1996), do Grande Prémio de Conto (Camilo Castelo Branco) (1999), do Grande Prémio do Romance (2017, 2019 e 2023) e do Grande Prémio de Literatura Biográfica Miguel Torga (2025) da Associação Portuguesa de Escritores, e, no plano cinematográfico, foi membro do Júri Internacional do Festival de Cinema de Istambul (1987), do Festival de Cinema Jove de Valência (1986 e 1988), do Festival de Cinema Latino de Chicago (1992).
Autor de vários ensaios sobre literatura e cinema, bem como de dois livros de poesia, é reconhecido o seu labor no campo da tradução, tendo vertido para português obras de J. L. Borges, C. José Cela, M. Vargas Llosa, Fernando del Paso, A. Muñoz Molina, Elmer Mendoza, Mário Benedetti, J. D. Salinger, Chester Himes, Javier Marías, Javier Tomeo, William Shakespeare, Peter Wollen, Woody Allen, Ralph Ellison, Thomas Pynchon, R. B. Parker, Vladimir Nabokov, John Dos Passos, William Burroughs, Raymond Chandler, Peter Bogdanovich, Nancy Rubin, James Anderson, Laurence Dermott, Manuel Puig, Guillermo Cabrera Infante, D. Foster Wallace (em colaboração), Saul Bellow, Melvin Kelley, Julian Barnes, Paul Schrader, Hari Kunzru, Richard Zenith (em colaboração), Tan Twan Eng e Gerald Murnane.
ENCONTRO COM NOVALIS
A PROPÓSITO DO LIVRO FRAGMENTOS (S.JOÃO DO ESTORIL,
ACA EDIÇÕES, 2025)
João de Almeida Santos
NA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO do meu novo livro FRAGMENTOS – Para um Discurso sobre a Poesia (S. João do Estoril, ACA Edições, 2025) no Centro Cultural de Cascais, na passada Sexta-Feira, para além dos devidos agradecimentos à Fundação D. Luís I, ao Professor Salvato Teles de Menezes, na dupla condição de Presidente da Fundação e de qualificado apresentador do livro, à Editora ACA Edições, na pessoa de Ricardo de Almeida Santos, e a todos os presentes, quis sublinhar esta faceta mais criativa e livre do meu percurso intelectual relativamente àquela outra que desenvolvi durante décadas por exigências de natureza profissional e académica. Nesta outra relação espiritual com a vida e com o mundo, através da arte, a liberdade não conhece limites. Os únicos que conhece são os da própria alma e da fantasia, aqueles que desafiamos com a fantástica maquinaria poética, se me é permitido usar esta expressão. Voar da alma para o espírito através de palavras ritmadas, asas da alma e da fantasia, é o estimulante desafio que se põe ao poeta sempre que inicia a viagem.
1.
Iniciei este tipo de publicação em 2021, no meu Livro de Poesia, dedicando-lhe cerca de 70 páginas (Lisboa, Buy The Book, 2021, pp. 351-420), mas transcrevendo também os comentários que, por diversas razões, considerei mais significativos. Em 2025, este livro já não transcreve os comentários, mas unicamente as minhas respostas, reconstruídas para dar a cada fragmento a necessária autonomia de sentido, evitando também tornar o livro demasiado extenso e complexo. Em 2026, publicarei um novo livro de fragmentos, seguindo a mesmo lógica deste. Livro já pronto e apenas a aguardar publicação. Publicarei também um novo livro de Poesia (POESIA II) que incluirá os poemas que foram objecto dos comentários que integram este livro. Poderão assim os fragmentos ser confrontados com os poemas que lhes deram origem.
2.
Que razões explicam a publicação deste tipo de livro?
- Preservar o meu trabalho de reflexão, em forma de diálogo com os leitores, sobre a minha própria poesia, vista a possibilidade do seu desaparecimento digital (os diálogos estão, sobretudo, no Facebook).
- Propor uma reflexão mais aprofundada sobre a minha poesia, essa, sim, a minha actividade principal, da qual, afinal, acabou por nascer, há oito anos, outra actividade, a da pintura digital, para que pudesse manter o processo sinestésico que há muito anos venho desenvolvendo entre a poesia e a pintura.
- Aperfeiçoar a minha própria poesia, ao reflectir, em diálogo, sobre ela a propósito de cada um dos poemas que vou publicando.
- Dar público conhecimento do que penso sobre o que faço e sobre o que considero ser a poesia e os ambientes em que ela nasce, acontece e se desenvolve.
- Reflectir demoradamente sobre o que julgo estar na origem da poesia.
- Reflectir sobre a relação da poesia com a ideia de tempo.
- Reflectir sobre a relação da poesia com a música, que considero essencial no processo de relacionamento com a sensibilidade de quem a partilha.
- E, finalmente, reflectir sobre o processo de sinestesia entre a poesia e a pintura que desenvolvo sistematicamente como forma de enriquecimento mútuo ou até de “visualização” de uma certa interpretação dos poemas.
3.
Tudo isto está presente no livro em prosa híbrida, mas que tende a funcionar mais como linguagem poética do que propriamente como prosa. Quando se escreve sobre poesia, a tendência a poetar é inevitável. Este aspecto foi muito bem evidenciado na intervenção do Prof. Salvato Teles de Menezes (cuja publicação, aqui, está prevista para a próxima semana) e corresponde, de facto, à colocação do autor numa posição de total liberdade de escrita e, naturalmente, à propensão para o fazer em linguagem dominantemente poética. Linguagem que acaba por se impor a quem se dedica intensamente ao exercício poético. Uma leitura interna com a própria linguagem da poesia, feita também a partir da própria condição de poeta. O resultado acabou por ser aquele que foi evidenciado na apresentação do livro pelo Professor Salvato.
4.
Neste livro registam-se intertextualidades que não foram que intencionais e onde a convergência de posições não foi, portanto, motivada por um qualquer nexo de causalidade, tendo apenas acontecido devido à natureza especial do exercício poético, tal como eu o entendo. Limito-me a referir, como exemplo, um caso, o de Novalis (1772-1801) – que revisitei depois de uma referência que o Prof. Salvato me fez -, nessa obra que tem o mesmo título da minha, Fragmentos (cuja primeira publicação é de 1798), onde é possível registar, nos vinte curtos fragmentos que irei transcrever e comentar, uma grande coincidência de ideias sobre a poesia e que pode ser constatada através de uma leitura atenta destes meus “Fragmentos”. Passo a reproduzir textualmente o que diz Novalis, usando a excelente edição bilingue (alemão-português) da Assírio&Alvim, com selecção, tradução e introdução do escultor Rui Chafes, Fragmentos de Novalis (Porto, 2024, 3.ª edição), com curtos comentários meus a cada fragmento:
- “Poesia, a arte de excitar a alma” (2024:135) de quem frui, digo eu. Rui Chafes traduz, e correctamente, Gemüt por ânimo, mas eu prefiro traduzir por alma. Mas acrescento ainda o seguinte: no poeta talvez seja a alma em desassossego a precipitar a poesia. Eu sinto que é mesmo assim. Mas estamos no mesmo terreno.
- “O espírito nasce da alma – ele é a alma cristalizada” (2024: 127) em forma de poesia. O fenómeno da “cristalização” foi referido por Stendhal, em De l’Amour (1822), em relação ao amor: uma “operação do espírito” tendente a projectar beleza no ser amado: “uma vez iniciada a cristalização, apreciamos com delícia cada nova beleza que se descobre no ser amado” (Do Amor, Lisboa, Relógio d’Agua, 2009, p. 35). Também na poesia é assim.
- “O lugar da alma está no ponto onde o mundo interior e o mundo exterior se tocam” (2024: 31). O poeta vive num intervalo, que o mesmo é dizer no lugar de intersecção entre o mundo interior e o mundo exterior. Diz o Bernardo Soares, no Livro do Desassossego (Porto, Assírio&Alvim, 2015): “saber interpor-se constantemente entre si próprio e as coisas é o mais alto grau de sabedoria e prudência”; ou “sou a ponte de passagem entre o que não tenho e o que não quero” (2015: 409; 206 ). É neste intervalo que o poeta se situa.
- “Deveríamos estar orgulhosos da dor” (2024:125). Reconheço a dor como fonte primordial de onde nasce a poesia. “Em tempos felizes são raros os sonhadores”, dizia Hölderlin em “Esboço de uma Poética” (Todos os Poemas, seguido de Esboço de uma Poética, Porto, Assírio&Alvim, 2021, p. 610)
- “A poesia é a grande arte de construção da saúde transcendental. O poeta é, portanto, o médico transcendental. A poesia põe e dispõe da dor e do prurido – da vontade e da falta de vontade – erro e verdade – saúde e doença. – Ela mistura tudo para a sua suprema finalidade – a elevação do Homem acima de si mesmo” (2024: 47). Poderíamos dizer: o poeta é mais do que psicanalista de si próprio, porque a sua é uma missão superior a si próprio.
- “Não deverá, eventualmente, a poesia exterminar o desprazer – tal como a moral o faz com o mal?” (2024: 121). O poder de resgate da poesia – a passagem da tristeza à melancolia e desta à “doce melancolia”.
- “Toda a poesia repousa sobre uma activa associação de ideias” (2024:125). Frequentemente eu falo da poesia como uma espécie de divã psicanalítico, e julgo que com alguma razão, com a diferença de o resultado ser de natureza estética e performativo, embora Novalis também diga que “a estética é completamente independente da poesia” (2024: 135). Julgo que ele se refere à dimensão interior da poesia – só pode ser fruída se for sentida. O “espírito dionisíaco” é independente do “espírito apolíneo”, se quisermos usar a linguagem do Nietzsche de “A Origem da Tragédia”. A poesia nasce da emoção e o espírito cristaliza-a, eleva-a, sublima-a. A experiência poética não pode acontecer como se o poema estivesse numa posição exterior à de quem o frui. A identidade exigida na relação poema/fruidor retira exterioridade à relação estética. A estética implica uma certa relação sensorial na óptica do observador. Na poesia, a relação interna é dominante. Talvez seja neste sentido que se pode compreender a afirmação de Novalis.
- “A linguagem é um instrumento musical das ideias” (2024: 117). O poder sensitivo da toada poética, do ritmo e da melodia como forma de exteriorização da palavra e do sentido. A música é não só irmã gémea da poesia, mas é-lhe indissociável – é através da música que a poesia ganha uma forte performatividade. A semântica precisa da música como seu alimento. Diz o Bernardo Soares: “considero o verso como uma coisa intermédia, uma passagem da música para a prosa” (2015: 206). A poesia situa-se entre a música e a prosa. Duma tem a toada e a melodia, da outra tem a semântica.
- “Do produzido nasce de novo o produtor” (2024: 87). Assim acontece com a poesia – o poeta não existe fora da poesia que produz. Na produção poética o poeta renasce. A poesia só se completa quando é comunicada e partilhada (veja-se Bernardo Soares, na citação infra, ponto 19.)
- “Só podemos tornar-nos no caso de já sermos” (2024: 81). Para fazer e para compreender a poesia, é preciso senti-la, vivê-la por dentro, pressenti-la.
- “A imaginação é esse sentido prodigioso que pode substituir todos os nossos sentidos” (2024: 79). Daqui advém a força global e a alta performatividade da poesia. A poesia atinge todos os sentidos. Até o palato. Não era a Natália Correia que dizia aos esfomeados do sonho que a poesia é para comer?
- “A filosofia é a teoria da poesia“ (2024: 59). Se fracassares poeticamente refugia-te no hospital da filosofia, dizia Hölderlin (contemporâneo de Novalis – 2021: 613).
- “O verdadeiro poeta é omnisciente. Ele é um mundo real em pequeno” (2024: 59). O passado, o presente e o futuro num só poema.
- “Apenas um artista é capaz de adivinhar o sentido da vida” (2024: 53). A poesia é o meio mais eficaz e completo para captar o sentido da existência humana.
- “Todo o verdadeiro segredo deve excluir os profanos espontaneamente. Quem o compreender é, por si mesmo, de pleno direito, um iniciado” (2024: 43). A poesia é mistério e é cifrada, ou seja, é para iniciados. Não é um lugar de turismo, de férias existenciais, de divertissement, de prazer – é um espaço para habitar e viver.
- “Nada é mais poético do que a lembrança e o pressentimento ou ideia do futuro. (…) Por isso, toda a recordação é melancólica – todo o pressentimento é alegre. Aquela modera toda a vivacidade demasiado grande – este eleva uma vida demasiado fraca” (2024: 41). A poesia viaja entre o passado e o futuro e o seu ambiente preferido é o da melancolia, visando a sua transformação numa mais suportável “doce melancolia”.
- “A pura linguagem poética deve ser, porém, organicamente viva” (2024: 37). Ou seja, não é uma linguagem conceptual e não está sujeita ao teste da verdade/falsidade. Só se entende se for sentida.
- “Desejos e apetites são asas” (2024: 25). As asas da poesia são as palavras e a propulsão é a que resulta dos desejos e dos apetites. E da dor.
- “É na alegria de manifestar no Mundo”, através da linguagem, “o que lhe é exterior que reside a origem da Poesia. A recordação é o mais seguro terreno do amor” (2024: 17). E o amor é sentimento dominante na poesia. A poesia expõe ao mundo o que vai na alma do poeta. “A arte é a comunicação aos outros da nossa identidade íntima com eles”, diz o Bernardo Soares (2015: 231).
- “Em que consiste, verdadeiramente, a essência (das Wesen) da poesia não se pode pura e simplesmente determinar. (…) Belo, romântico, harmónico são apenas expressões parciais do poético” (2024: 147). A poesia, no seu minimalismo formal, encerra um mundo nela. Só por isso Novalis pode dizer que o poeta é “omnisciente”. Determinar a sua essência seria amarrá-la a uma concreta caracterização, limitando, assim, a sua esfera (ilimitada) de intervenção e de comunicação.
5.
Estas são palavras de Novalis, um autor alemão de finais do século XVIII, reforçadas com algumas outras de Bernardo Soares, Stendhal e Hölderlin, que coincidem com o discurso que neste livro desenvolvo, mas que não nasceu por influência deste grande escritor. Trata-se, simplesmente, de um encontro ditado, talvez, por um alinhamento favorável dos astros ou, então, por um mesmo sentimento experimentado durante o voo poético lá no alto, no azul do céu. Um discurso, e disso tenho a certeza, que, no meu caso, nasceu como resultado da minha própria prática poética. O mesmo me acontecera quando escrevia o meu romance “Via dei Portoghesi” relativamente ao “Livro do Desassossego”, do Bernardo Soares. Não deixa de ser curiosa esta afinidade que, ainda por cima, não acontece como resultado de uma relação de causa-efeito, mas por se viajar no mesmo território e se procurar atingir a inatingível essencialidade (Wesenheit) da poesia.
6.
O que é certo é que eu devo este livro, isso sim, a muitos amigos que foram comentando, e de forma muito estruturada, certeira e erudita, todos os domingos os meus poemas. Foi a partir dos seus comentários que pude desenvolver uma longa e diversificada reflexão não só sobre a minha poesia, mas também sobre a poesia em geral, ajudando-me a aperfeiçoar o meu pensamento sobre a arte e, em particular, sobre a poesia. Sobre essa outra dimensão da nossa relação com a vida e com o mundo. A todos eles o meu muito obrigado. JAS@09-2025
“FRAGMENTOS” NO CENTRO CULTURAL DE CASCAIS
João de Almeida Santos
OCORREU ONTEM, 19 de Setembro, no Centro Cultural de Cascais, a apresentação do meu novo livro “FRAGMENTOS – Para um Discurso sobre a Poesia” (S. João do Estoril, ACA Edições, 2025). O livro foi apresentado pelo Prof. Salvato Teles de Menezes, numa belíssima lição sobre Poesia que, em breve, será publicada integralmente no meu site. A sessão foi aberta por Ricardo de Almeida Santos, em nome da Editora ACA Edições. No final, usei da palavra não só para agradecer a presença dos cerca de 50 convidados, mas também para falar deste livro, evidenciando, por uma feliz referência que me fora feita pelo Prof. Salvato, a singular convergência de pontos de vista sobre a poesia entre o livro “Fragmentos”, de Novalis, e o discurso que desenvolvo neste meu livro, também ele de fragmentos sobre a poesia, sem que, afinal, se tenha verificado uma relação intertextual de causa-efeito. Referi 19 curtos fragmentos de Novalis como demonstração desta feliz coincidência com os pontos de vista deste grande escritor alemão (usei para o efeito a edição de Fragmentos de Novalis, bilingue, alemão-português, da Assírio&Alvim, ao cuidado do escultor Rui Chafes). Terei ocasião de publicar, em breve, no meu site, esta parte da minha intervenção. Quero agradecer à Fundação D. Luís I, na pessoa do seu Presidente, Prof. Salvato Teles de Menezes, ter acolhido, pela terceira vez, minhas iniciativas: esta, a Exposição individual de 32 obras de pintura e a apresentação do meu livro Poesia (Lisboa, Buy The Book, 2021), em 2022. A Editora ACA Edições detém hoje os direitos de publicação de todas as minhas obras e em breve será publicado um novo livro.
“FRAGMENTOS – PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA”
de João de Almeida Santos
(S. João do Estoril, ACA Edições,
2025, 228 páginas)
APRESENTAÇÃO
Auditório do Museu da Guarda
12.09.2025
Por António José Dias de Almeida*
SÃO FRAGMENTOS plenos de significado e de sentido poético que, para este local, para este acolhedor e simpático Auditório do Museu da Guarda, nos convocam. Cabe-me o privilégio, por convite do autor, o meu amigo João de Almeida Santos, de vos apresentar, caros Amigos, a sua mais recente obra no domínio da POESIA e das suas afinidades textuais e contextuais.
1.
Se o título FRAGMENTOS não for (e não é) suficientemente elucidativo, o subtítulo (chamemos-lhe assim), esse, elucida-nos perfeitamente para bem sabermos o terreno que pisamos – PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA. Esta é, pois, a contribuição, mais uma, que o autor nos oferece para nos envolvermos reciprocamente com um tema tão cativante quanto sedutor.
2.
Este excelente volume da ACA Edições, publicado já este ano (2025), é ilustrado na capa com a Pintura Solidão do poeta-pintor (JAS 2023), que assim mesmo se autocaracteriza e se reconhece, como brevemente explicarei. Dono de um currículo brilhante em várias áreas, João de Almeida Santos é natural de Famalicão, deste concelho da Guarda, de cuja Assembleia Municipal foi Presidente, locais a que se sente umbilicalmente ligado e que, através das suas obras e da sua participação cívica e política, tem sabido honrar e dignificar.
3.
Explicitar discriminadamente o seu currículo creio que, aqui e agora, seria supérfluo, pois estou convencido de que a maioria dos presentes o conhece e reconhece. Direi apenas que a Filosofia (licenciado pela Universidade de Coimbra) lhe deu asas para dimensões de maior vulto, tendo sido Professor nas Universidades de Coimbra, La Sapienza, de Roma, e Complutense, de Madrid. Aposentou-se como Professor na Universidade Lusófona, onde desempenhou as funções de Director da Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração. Se me permitem, dispenso-me de referir altos cargos e funções que desempenhou na vida pública, nomeadamente nos domínios político, social e cultural. A sua bibliografia activa é vasta e multifacetada. Direi simplesmente que vai do Ensaio em diversas áreas até à Poesia, passando pela ficção, com a publicação do romance Via dei Portoghesi (Lisboa, Parsifal, 2019).
4.
Finda esta breve deambulação, regressemos à obra que hoje aqui nos traz, FRAGMENTOS, cujo Índice, logo no início da obra, nos dá uma perfeita percepção da sua estrutura fragmentária, composta por quinze capítulos que tenho gosto em enunciar:
I. O PLENO E O VAZIO; II. FANTASIA; III. ENCANTAMENTO; IV. A SAUDADE, O POETA E A MUSA; V. SILÊNCIO; VI. AMAR; VII. O ECO DO SILÊNCIO; VIII. PAISAGENS; IX. SONHAR; X. RAÍZES; XI. A FONTE; XII. O LOUREIRO E A POESIA; XIII. SENTIR; XIV. O BEIJO; XV. TEMPO E MELANCOLIA.
5.
Na abertura, o PREFÁCIO, da responsabilidade do autor, abre perspectivas que elucidam o leitor sobre o carácter da obra, a sua hipotética afinidade com obras congéneres, como, por exemplo, Pensées, de Pascal, e nele são dadas indicações sobre os temas objecto de reflexão nos 206 fragmentos, que foram (palavras do autor) sempre suscitados “pelos comentários dos leitores da minha poesia”. Também no Prefácio, o autor nos remete para a sua obra anterior A Dor e o Sublime. Ensaios Sobre a Arte (S. João do Estoril, ACA Edições, 2023), sublinhando o seu exercício reflexivo com o objectivo de confrontar “o que faço com o que fizeram os grandes poetas, não para os seguir como escola, mas simplesmente para testar e amadurecer a minha própria experiência poética”.
6.
Rematam-se os FRAGMENTOS com o EPÍLOGO, composto por dezoito pontos, constando no último, no décimo oitavo, as referências dos autores e das obras de quem e das quais o autor fez breves e ocasionais citações.
7.
Para um discurso sobre a poesia, fundamentais e essenciais são as palavras e, por isso, recorro ao fragmento 63. O SILÊNCIO E O TEMPO, que se inicia com esta frase significativa: “A poesia acolhe com palavras e nas palavras o tempo que já se foi”. Também o fragmento 85. PALAVRAS remete para o peso que elas têm “quando procuram tocar o real” e nessa situação “chegam a deslaçar-se” – “na poesia acontece esse deslaçamento”. É com palavras que os poetas conseguem voar sobre o silêncio e, de acordo com Pablo Neruda, “as palavras são asas especiais” com as quais os poetas voam até às Musas inspiradoras, figuras recorrentes nestes magníficos FRAGMENTOS durante os quais “o poeta metaboliza a dor para, depois, a converter em palavras ordenadas segundo critérios semânticos, melódicos e rítmicos” (Fragmento 102. METABOLIZAR).
8.
Se há palavra que muitas vezes se repete, logicamente, essa palavra é POESIA, palavra e conceito que, nos vários fragmentos, metafórica e figuradamente, assume diversas qualidades. Assim, algumas vezes a poesia é “um pulsar de alma”, outras “um veículo mágico” e, de forma bem enfática, JAS questiona-se, implicando nessa questão o leitor. Lapidarmente: “E o que é a poesia senão utopia em construção infinda?”
9.
O leitor, pelo menos este que vos fala, concorda em absoluto. Ele próprio sente-se pessoa sensível e, por isso, aceita que a poesia seja “sinfonia para almas sensíveis” e também aceita, de bom grado, os conceitos que o autor lhe vai propondo – por exemplo, que “a poesia é pura alquimia” e, por vezes, ele, o leitor, imbuído do “humor menencorico” de que falava D. Duarte, concede que “a melancolia é irmã gémea da poesia”.
10.
Porém, no fragmento 81. IDENTIDADE, o autor, João de Almeida Santos, comunica-nos que “o exercício poético torna-se menos complexo quando o poeta tem um sorriso perante si. E pode ser o sorriso que ele próprio, enquanto poeta-pintor, pintou. Com palavras e com cores.” Cá está ele! E “vai-se deixando seduzir pelo sorriso que se vai desenhando”. Um pouco mais à frente, assumindo essa dupla qualidade, diz-nos : “o poeta-pintor vive numa teia que é maior que ele. Só tem que sintonizar e deixar-se ir. É por isso que se diz que a poesia acontece ao poeta.” Retomo o que atrás foi referido: “o poeta-pintor vive numa teia”. Para cada um, seu instrumento de trabalho e, por essa razão, aqui se encaixa na perfeição o fragmento 79. CANETA-PINCEL, que cito integralmente:
79. CANETA-PINCEL
“Procuro sempre transpor para dentro do próprio poema a sinestesia concreta que proponho com a convergência total entre pintura e poesia, lembrando-me sempre do grande Cesário Verde: “Pinto quadros por letras”. Caneta-pincel, portanto. Mas também pincel-caneta. Pintar com palavras e escrever com riscos e cores. E o poema torna-se também pauta de uma melodia colorida. Sinfonia de cores e letras”. Indiscutivelmente, este fragmento é um óptimo exemplo de sinestesia, tal como o é o fragmento 117. ENLACE.
11.
Mas regressemos a FRAGMENTOS – PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA, para vos ler integralmente, sem comentários, o Fragmento 196. PROSA POÉTICA:
196. PROSA POÉTICA
“Prosa poética, a tua, dizia-me um Amigo. Talvez porque na minha poesia, respondi, a semântica assuma uma forma especial: quase sempre conto uma história ou, então, como neste poema, “O Poeta e o Tempo”, proponho uma reflexão. Mas é claro que são sempre confissões de estados de alma sofridos. Mas é mesmo só poesia. Teimosamente poesia. Procuro não misturar estilos. Como se sabe, há poesia com forma explícita de prosa. E sem musicalidade aparente. Não é o caso. Até porque não gosto desse tipo de poesia. Para mim, componente obrigatória é a musicalidade do poema, a melodia, a toada, o ritmo. Os versos breves, às vezes de uma só palavra, ajudam a compor a toada. Quanto ao título, normalmente uso títulos curtos e que não procurem traduzir a semântica do poema. Há sempre o risco de estar a impor uma certa descodificação do poema, com prejuízo do incontornável mistério. O ideal, para mim, seria sempre um título de uma só palavra. Por sua vez, os versos de uma só palavra significam que essa palavra tem peso específico no tecido poético, seja musical seja semântico. Digamos que esta opção faz parte da minha poética. Eu procuro sempre a harmonia entre o sentido e a musicalidade (a toada, o ritmo, a rima). E isso tem consequências no processo de construção do poema”.
12.
Normalmente, as epígrafes acontecem/surgem no início. Perdoem-me que, aqui e agora, me sirva de O Livro de Cesário Verde e, à laia de uma pré-conclusão, cite a célebre quadra da II Parte do conhecido poema NÓS:
Pinto quadras por letras, por sinais,/ Tão luminosas como os do Levante,/ Nas horas em que a calma é mais queimante / Na quadra em que o Verão aperta mais.
Cesário Verde, obrigatoriamente, nesta ocasião e neste espaço, tinha que estar connosco. É uma evidência que não precisa de ser realçada.
13.
O poema que escolho para terminar esta minha participação, intitula-se O POETA QUE SE FEZ PINTOR:
O POETA QUE SE FEZ PINTOR
O POETA BRINCAVA Com suas palavras, Cantava o amor Porque a desejava. ERA UM POETA, Era fingidor, Não a desenhava, Cantava-lhe A cor. SUAS CORES Eram palavras, Fazia pincel Da sua caneta, O poeta riscava, Mas sua tinta Já não era preta. POR ISSO COMPROU Um belo pincel E pintava, Pintava... ................ Era a granel... ............ E a sua tela Deixou de ser O velho papel. DESCOBRIU A COR, Que o fascinou: Azul, vermelho E tanto amarelo... ............... Tudo ele pintou, Procurando sempre O que era belo. ATÉ QUE O ENCONTROU Na cor dos seus Olhos, Era luz da pura Que iluminava O novo papel Onde desenhou O seu fino rosto Com o seu pincel. DESCOBRIU AS CORES Com que a dizia, As suas palavras Tornaram-se riscos... ................. Mais que poesia. PINTAVA ASSIM E os seus poemas Já não lhe chegavam, Pintor de palavras, De cor as compunha E versos voavam No azul do céu... ................. “E o que tu fazias Faço agora eu (Dissera-lhe um dia), Porque sou poeta Mas também pintor". "DEIXASTE-ME SÓ, Entregue à palavra, E eu, Tão pobre de ti, Pintei-me de dor". "MAS EU FAÇO DELA O meu arco-íris Pra subir ao céu A ver se t’encontro Atrás duma cor Pintando o teu rosto Para um poema Que vou escrever Com todas as cores Que trago comigo Enquanto viver”. O POETA BRINCAVA Mas era séria Essa brincadeira, Perdido em palavras Encontrou a cor E nos seus poemas Dela fez bandeira. (Santos, J. A., 2021, Poesia, Lisboa: Buy The Book, pág. 72)
14.
João de Almeida Santos, tal como Sísifo, está condenado a empurrar palavras e mais palavras até ao cume da montanha. Daí, continuamente, elas rolam até ao “Vale Encantado” de Famalicão. De novo as levará até ao cume e assim, sucessivamente, acontecerá. Nós, leitores, satisfeitos com esse “pesadelo” do autor, continuamos à espera de mais poemas e de mais reflexões poéticas porque há muito para dizer e escrever.
15.
“O resto, a Poesia que o diga”, como nos ensinou o poeta Nuno Júdice.
NOTA*
António José Dias de Almeida é professor aposentado do Ensino Secundário. Licenciado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa, exerceu funções docentes na cidade da Guarda. Em 2005 foi agraciado com o grau de comendador da Ordem de Instrução Pública pelo Presidente da República, Jorge Sampaio. Foi membro da Comissão Executiva do Centro de Estudos Ibéricos (Guarda).
TESES SOBRE A POESIA
A propósito do livro “FRAGMENTOS - Para um Discurso
sobre a Poesia” (S. João do Estoril, ACA Edições, 2025, 228 páginas)Apresentação: * 12.09, 18:00, no Auditório do Museu da Guarda; ** 19.09, 18:00, no Auditório do Centro Cultural de Cascais
João de Almeida Santos
SONORIDADE, POLISSEMIA E SINESTESIA
A POESIA É UMA ARTE MUITO ESPECIAL. Ela procura integrar, nas palavras de que é composto o discurso poético, uma sonoridade cativante capaz de tocar a sensibilidade de quem a frui. Ritmo e melodia – rima interna e externa. Mas não só. Sempre com palavras, também procura desenhar ambientes cromáticos vivos e sugestivos onde decorra o discurso do sujeito poético, dando cor e expressividade à sua fala, e desenhar perfis que identifiquem os protagonistas do discurso. A sinestesia entre a poesia e a pintura é um ulterior complemento que ajuda a alargar o campo semântico e a “visualizar” uma determinada interpretação do poema.
A POESIA COMO IMPERATIVO EXISTENCIAL
HOELDERLIN DIZIA que “em tempos felizes, são raros os sonhadores”. E o poeta é um sonhador. Dir-se-ia que a felicidade é pouco propícia ao acontecimento poético. Não sendo, ou não tendo sido, feliz, sonha sê-lo. Mais amigos da poesia são a penumbra, a dor e o “fracasso” existencial, no sentido em que o Cioran falava dele. É uma pulsão negativa – é um facto negativo que a estimula – que provoca o impulso poético. Mas, por isso mesmo, a poesia é resgate, reconstrução do que foi perdido ou não conseguido. A poesia, no meu entendimento, resulta, de facto, de um imperativo existencial, procurando, pois, dar-lhe resposta num plano superior, espiritual, através de recursos linguísticos. Os exemplos históricos de grandes poetas às voltas com os desencontros da vida ou as disrupções existenciais são conhecidos e numerosos. A poesia não se identifica com exercícios meramente retóricos, com o virtuosismo linguístico ou a pura intertextualidade, a construção de nexos de sentido assentes exclusivamente no património poético… como inspiração.
A POESIA É PERFORMATIVA
A POESIA É ACÇÃO. E é resposta interior a imperativos existenciais, usando determinados meios técnicos para se materializar – as palavras. É um recurso de sobrevivência interior quando ela está ameaçada por intensa melancolia ou mesmo por desolação existencial. Digo muitas vezes que a poesia é altamente performativa. O que é que eu quero dizer com isto? Que ela é acção, corresponde a um acto, a uma declaração de facto, com efeitos, mas que não está sujeita a uma prova de veracidade ou de falsidade. São conhecidos os exemplos: “Declaro aberta a sessão de hoje”, diz o presidente de uma assembleia – através desta declaração a sessão fica aberta; “Aceito x como minha mulher”, em acto formal e válido de matrimónio – através desta declaração fica instituído o vínculo matrimonial; “Amo-te”, diz o poeta, dirigindo-se à musa – através desta declaração poética fica instituído o vínculo amoroso entre o poeta e a musa, e não sujeito a verificação de veracidade ou de falsidade. O amor poeticamente declarado equivale a um facto, a uma acção. A fala poética é performativa. E vale pelo que afirma e institui através do uso da linguagem poética. Não deve ser procurado um referente externo porque o poeta e a musa são exclusivamente sujeitos internos do discurso poético.
A POESIA NÃO É DENOTATIVA
A DECLARAÇÃO POÉTICA tem efeitos poeticamente vinculativos e, porque é poética, não está sujeita a prova de veracidade ou de falsidade. A poesia não é denotativa. Este é um aspecto muito importante da poesia como arte e é isto que a distingue das outras formas de linguagem ou da prosa. Digamos que é uma dimensão da existência de tipo espiritual, mas que tem certas exigências: a) código próprio da poesia como linguagem não denotativa; b) harmonia acústica e expressiva; c) não verificabilidade do discurso para além das suas próprias regras internas; c) partilha, como fase final do processo absolutamente necessária para que o poema se complete. Este último aspecto parece estar em contradição com os outros, mas não está, porque quem frui poesia se coloca no mesmo plano em que o seu código funciona, nada mais esperando do que sintonia estritamente poética. Nada mais existe para além de uma relação estético-expressiva, plano em que acontece a partilha e a sintonia.
A POESIA ACONTECE
DAQUI DECORRE uma característica, a que se refere Fernando Pessoa – a poesia acontece. Também a Amália dizia que o fado lhe acontecia. Ela não resulta, pois, de uma intenção programada, mas acontece por circunstâncias da vida e de personalidade. E não acontece como expressão final, de natureza intuitiva, de um processo de digestão poética intertextual. O instante criativo não resulta, pois, de um processo de acumulação e saturação de património poético, mas sim de um imperativo existencial. Acontece, independentemente da vontade. Mas também é claro que o processo só acontece e se desenvolve quando se verificam determinadas condições. Por exemplo, um bom domínio da língua em que o poema deva ser executado. Só que nunca o bom domínio da língua ou até de cultura poética serão condições suficientes para que a poesia aconteça. Não. O que tem de acontecer, para o resgate do poeta, por sublimação, é a conjunção virtuosa de um imperativo existencial (normalmente motivado por dor, infelicidade ou fracasso) com o domínio técnico da língua em que se exprime o discurso poético
A MINHA POÉTICA
ESTAS SÃO, no meu entendimento, mas sobretudo na minha prática como poeta, as invariantes do processo poético. Todas elas fazem parte da minha poética, ou seja, todas elas integram os meus poemas, fazendo parte, em maior ou menor grau, do seu núcleo central, qualquer que seja a temática ou o conteúdo do poema. Assim, este livro é, em 206 fragmentos, a explicitação de minha própria poética através de fragmentos escritos em linguagem híbrida, mas com dominante estilística de tipo poético. Uma viagem expressiva pelo fascinante mundo em que a poesia acontece. JAS@09-2025
APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO MEU NOVO LIVRO
“FRAGMENTOS – Para Um Discurso
sobre a Poesia” (S. João do Estoril,
ACA Edições, 2025, 228 páginas)
Auditório do Museu da Guarda,
12.09.2025, 18:00 Centro Cultural de Cascais,
19.09.2025, 18:00
Este meu novo livro, “FRAGMENTOS”, será apresentado no Auditório do Museu da Guarda, no dia 12 de Setembro, às 18:00, e na Fundação D. Luís I/Centro Cultural de Cascais, no dia 19 de Setembro, às 18:00. Apresentarão a obra António José Dias de Almeida (Guarda) e Salvato Teles de Menezes (Cascais).
O LIVRO
Trata-se de um livro que nasceu da reescrita das minhas respostas aos comentários que os meus leitores foram fazendo ao longo do tempo. São, portanto, reflexões, em 206 pequenos fragmentos, sobre a poesia, desenvolvidas a partir de cada poema que fui propondo nos meus habituais rituais poéticos de domingo, onde a interacção foi acontecendo sobretudo no espaço digital (e, em particular, no Facebook). Todos os fragmentos têm um título e o índice, que abre o livro, sinaliza-os (de 1 a 206) dentro de cada um dos quinze Capítulos que, com a Introdução e o Epílogo, integram a obra. Poderá, assim, o leitor escolher, no índice, guiado pelo título, o fragmento que deseja ler, numa lógica de total aleatoriedade, pois cada fragmento pode ser lido e interpretado autonomamente, sem necessidade de recorrer a referências externas, sejam elas o próprio poema que motivou a reflexão em causa ou outros elementos de natureza intertextual. Na verdade, trata-se de um Livro de Cabeceira que pode ser lido em, digamos, pequenas doses de texto e de tempo, ao sabor da disponibilidade ocasional e do interesse de cada leitor. Cada fragmento é autónomo e não necessita de conexões de sentido externas.
POÉTICA
Da leitura deste livro resultará um conhecimento mais preciso daquilo que se designa por poética, neste caso, da minha poética, ou seja, dos elementos estruturais e constantes que integram o núcleo de todos os poemas. Mas não só. Também se trata de reflexões sobre o ambiente interno em que acontece e se desenvolve o processo poético, para além da técnica de escrita e das componentes formais a que cada poema obedece. Poderá, pois, encontrar neste livro as principais constantes da minha poesia, ou seja, a minha poética: a sonoridade (a melodia e o ritmo como componentes fundamentais do poema porque tocam mais directa e intensamente a sensibilidade do leitor); a semântica (no essencial, em torno dos temas que estão na origem da minha poesia – os que a suscitam como imperativo existencial); a riqueza plástica do poema (estimula a imaginação e alarga o campo semântico e o seu cromatismo interno); e a sinestesia (que o complementa, ajudando a visualizar uma certa linha interpretativa, retroagindo sobre o poema e enriquecendo-o, sem que as categorias da pintura fiquem subordinadas ou dependentes do discurso poético). É esta, de resto, a função da sinestesia. Estas são invariantes sempre presentes que integram sistematicamente o processo criativo.
O POEMA COMO PAUTA MUSICAL
Muitos são os fragmentos que reflectem sobre a linguagem poética, a sua natureza, a sua especificidade, o que a diferencia das outras linguagens. Em particular, é sublinhada a essencialidade da dimensão performativa da sua linguagem, a característica que a distingue de todas as outras linguagens e a importância decisiva da sonoridade para garantir a sua eficácia, ou seja, o seu impacto sobre a sensibilidade de quem frui o poema. A estrutura formal que adopto na sua elaboração ajuda não só a organizá-lo como pauta musical, mas também a acentuar o minimalismo desta linguagem, reforçando a exigência de encontrar a palavra certa para cada verso e obedecendo não só à sua carga semântica, mas também à sua sonoridade, acontecendo mesmo que, por vezes, tendo de optar pelo seu valor semântico ou pelo seu valor sonoro, a escolha recaia sempre na sonoridade. Pela palavra menos denotativa, mas mais musical. Claro, o sentido do poema é determinado globalmente pelas conexões semânticas entre os versos, enquanto o efeito performativo depende mais da componente musical, daquela que atinge mais directa e intensamente a sensibilidade do leitor. Pois é aqui que o desafio se torna gigantesco: aliar a semântica à musicalidade do poema, já que a plasticidade está presente quer nas imagens induzidas pelas palavras quer pelo processo sinestésico que sempre adopto. Processo que contribui para a “visualização” do poema, certamente numa das suas possíveis interpretações.
ESTREMECIMENTO
Outro aspecto que merece realce é o da génese da poesia quando acontece o que, comparando com o dispositivo que dá início à filosofia grega, o do “espanto”, eu venho designando com “estremecimento” perante a aparição (directa ou indirecta, através de sinais) da musa inspiradora. É da conjugação desta reacção anímica com a dor (que resulta da ausência e do silêncio dela) que nasce a poesia, o canto libertador, a superação do fracasso (Cioran), o triunfo da leveza sobre o insustentável peso da existência. Diz Hölderlin: “Em tempos felizes, são raros os sonhadores”. Mais: “O poema lírico (…) é a metáfora contínua de Uma emoção” (Hölderlin, F., Todos os Poemas, Porto, Assírio & Alvim, 2021, pág.s 610 e 611). O poeta é um sonhador e a poesia é metáfora. Tem razão Hölderlin.
RAZÃO E EMOÇÃO
Sem um fundo pulsional e uma turbulência anímica a poesia não pode acontecer. É aquilo que Nietzsche, em A Origem da Tragédia, designa por “espírito dionisíaco”. Na sua génese está a emoção e o estremecimento da alma que sofre, regista e expõe. Mas ela também não acontece sem a intervenção do espírito, aquilo a que Nietzsche chamava “espírito apolíneo”, ou seja, sem a formalização de algo a que só a arte pode dar forma sem anular o seu essencial fundo pulsional. E esse é o grande desafio da poesia: conjugar esteticamente emoção e razão, usando, para tal, a fantasia. Deste processo falou Kant na “Crítica do Juízo”. Na verdade, todo o processo criativo se desenrola neste intervalo para onde confluem a alma e o espírito, a matéria e a forma, de modo a que daqui resulte um tertium que é diferente de ambos, mas que os integra. Uma espécie de quimera. Aquilo a que o Benedetto Croce chamava, na senda da mitologia grega, “ircocervo”. Sobre esta dialéctica se desenvolvem inúmeros fragmentos deste livro.
PERFORMATIVIDADE
Depois, a materialização da poesia como facto construído com palavras. “How to do things with words” é o título do famoso livro do filósofo inglês John L. Austin (Oxford University Press, 1962). Ele refere-se aos chamados enunciados performativos como acções verbais que não podem ser definidas como verdadeiras ou falsas e que correspondem àquilo que ele designa por actos ilocutórios e perlocutórios (estes, actos que visam influenciar, gerar consequências naqueles a quem são dirigidos). Ora quando falo da performatividade da poesia e da impossibilidade de a compreender através das categorias de verdadeiro e falso (como no caso das asserções) é no mesmo sentido que falo. Senti-la para a compreender. A poesia corresponde a um enunciado performativo com força perlocutória, ou seja, que produz efeitos psicológicos e comportamentais sobre o leitor, mas que não descreve o real. Claro, a poesia não visa efeitos práticos, efeitos úteis, mas produz efeitos que estão integrados na dimensão estética e na partilha. Com efeito, trata-se de uma acção verbal que só se completa quando é fruída por outrem (sobre quem recaem os seus efeitos) que não o poeta, sendo ao mesmo tempo uma expressão – com determinadas regras que provêm da sua própria tradição – da alma do poeta. Ela, no geral, respeita o essencial do que Austin atribui à performatividade, aos actos ilocutórios e perlocutórios, e eu creio que esta é a característica essencial da poesia.
Esta é, claro, uma referência teórica, mas que toca o essencial. A poesia não corresponde a um enunciado descritivo de algo que aconteceu no real. Ela é, antes, a expressão do que vai na alma do poeta, uma confissão cifrada, uma declaração de facto, um grito de alma que, inscrevendo-se na sua própria história, visa a partilha com outrem como forma de se completar, de se tornar efectiva, como acção verbal. Bem sei que o Austin põe nesse livro umas pontuais restrições desta lógica à própria poesia, mas não é neste registo técnico que eu entendo a performatividade da poesia. A poesia é uma outra forma de linguagem que, como ele diz, não cabe na clássica taxonomia da filosofia. É o próprio Hölderlin que reconhece que “há um hospital onde qualquer poeta desafortunado como eu se pode refugiar honradamente – a filosofia” (2021: 613). O poeta não precisa de hospital a não ser que fracasse poeticamente. Se fracassar, deve dirigir-se à filosofia para ser curado ou pelo menos para se nela se refugiar. A poesia é uma forma diferente de linguagem: a que comete actos ilocutórios e perlocutórios que não se inscrevem na clássica definição de verdade como adequação entre a consciência e a realidade, entre o sujeito e o objecto. Bem pelo contrário, ela dá vazão ao desejo de superar o desencontro entre a alma e a realidade, mobilizando o espírito e a fantasia.
TEMPO - O INSTANTE CRIATIVO
É disto que se fala em muitos fragmentos – a mobilização da fantasia para elevar o poeta sobre o estado deprimente em que ele se encontre. “Espírito apolíneo”. E um dos aspectos importantes que é objecto de reflexão é a ideia de tempo, o tempo subjectivo do poeta, comparado com o tempo cronológico. A luta titânica entre Chronos e Apolo. O poeta, ajudado por Apolo, desafia o tempo. Certo é que o seu tempo é um tempo kairótico, um “tempo oportuno”, o do instante criativo, equivalente àquilo que o Henri Bergson chamava durée, esse fio temporal que estabelece um “continuum” entre o passado, o presente e o futuro. O tempo da poesia é um tempo reversível. Sobre o tempo discorro abundantemente no livro porque ele é decisivo para compreender o processo poético.
UM DISCURSO HÍBRIDO
Estas e outras matérias são tratadas ao longo das 228 páginas do livro com uma linguagem que procura situar-se entre a prosa e a poesia, num estilo híbrido que permite ligar o discurso analítico com o discurso poético. Muitas vezes encontrei-me mais a poetar do que a reflectir analiticamente sobre o meu exercício poético. Mas creio que todo o texto exibe uma profunda coerência, garantida pela sua própria génese – a minha poesia. Mas também pelo que, ao exercê-la, traduz o que eu próprio penso dela, o que é e por que razão ela se impôs como exigência interior ou mesmo como imperativo. Na verdade, não foi um qualquer desejo de viajar por este mundo ao sabor de uma complexa ou rica intertextualidade que resultasse da minha cultura poética, das minhas leituras dos poetas. Coisa que naturalmente também acontece e sobre os quais já tive ocasião de dissertar longamente no meu livro “A Dor e o Sublime” (S. João do Estoril, ACA Edições, 2023, pág.s 13-89). Mas não, este percurso poético surgiu como uma necessidade, uma outra forma de me relacionar com o mundo e com a vida, libertando-me do excesso de conceptualização a que, por razões profissionais, estive toda uma vida obrigado. É por isso que a minha poesia, sendo-o também, é muito pouco intertextual, ainda que por decorrência temática dos próprios poemas sempre acabe por me aproximar de alguns poetas que trataram dos mesmos temas. Uma convergência que, afinal, não foi pilotada ou mesmo desejada. Para o dizer de forma clara: a minha poética foi sendo construída por mim próprio sem recorrer a uma qualquer tendência poética ou a qualquer doutrina sobre a poesia. Digamos que se trata, perdoem-me a imodéstia, de um produto genuíno, construído lentamente ao longo do tempo e com os recursos intelectuais que a minha profissão e as minhas preferências culturais me foram concedendo ao longo da vida.
A PINTURA
Acresce ainda esse outro aspecto da minha vida para o qual fui atirado pelas exigências próprias do meu trabalho poético e daquilo a que ele esteve associado. Falo da pintura, tão intimamente associada à minha poesia. Nasceu por causa dela, da poesia, e nunca mais dela se desligou. Assumi, então, o compromisso, como poeta, ou seja, comigo mesmo, de poetar ao mesmo tempo que pintava ou, pelo menos, de ligar todas as pinturas que ia executando com os poemas que, há cerca de dez anos, venho propondo aos domingos. Um exercício que já ronda os quinhentos poemas.
ASSIM NASCEU UM LIVRO
Este ritual dominical que ocorre na rede (no meu site e nas várias redes sociais) tem tido a vantagem de convocar muitos leitores que acabam por comentar os poemas e as pinturas que proponho. Não só por gentileza, mas sobretudo por dever, a todos eles eu respondo, levando muito a sério o que me dizem. Estas minhas respostas são, pois, na maior parte dos casos, muito empenhadas, não só porque os comentários o merecem, mas também porque elas já visam uma futura publicação em livro, exactamente na forma que este livro assumiu. E assim tem vindo a acontecer. De tal modo que já está pronto outro livro, “Novos Fragmentos”, que aguarda publicação. No entretanto, espero que gostem deste. JAS@09-2025
NOVOS FRAGMENTOS (XXI)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
PAUTA MUSICAL
A POESIA É ARTE e, por isso, mantém uma forte tensão com o belo, não só na forma, mas também na dimensão semântica, no ritmo e na força plástica para que possa tocar a sensibilidade de quem a lê. A poesia é partilha. É preciso senti-la para a compreender. O registo sinestésico ajuda a poesia a ser mais intensamente performativa. Ajuda a “visualizar” o poema, reinterpretando-o com as categorias da pintura e, deste modo, devolvendo-lhe expressividade visual. Mas a música é decisiva para tocar mais intensamente a sensibilidade de quem a lê, podendo, assim, também ouvi-la em surdina. Como quem lê uma pauta musical. Mas a semântica, o ritmo e a melodia ganham mais força e expressividade se forem complementados pela pintura em registo sinestésico. A pintura, com a sua linguagem, sinaliza uma linha interpretativa visual num texto fortemente polissémico e aberto. É este o sentido da sinestesia. Neste caso, o da pintura “Corpo”, a contraluz ajuda a compreender a (relativa) indecisão do poeta acerca da identidade da musa: (https://joaodealmeidasantos.com/2025/08/02/poesia-pintura-274/). E o corpo em contraluz materializa-a. Nele, de certo modo, com a contraluz, exprime-se a neblina do tempo onde a nitidez da imagem se esfuma. Mas é preciso não esquecer que o poeta é um fingidor e que para o fazer melhor usa artifícios retóricos e até sugere (ao pintor) corpos em contraluz. Nunca se saberá se a imagem desses corpos é realmente nítida ou “sfumata” pelo inexorável fluxo do tempo.
RECONSTRUIR A VIDA COM PALAVRAS
Lá dentro do poema “Ilusão” abunda fantasia, saída da alma com as pinças sofisticadas do espírito e da arte: (https://joaodealmeidasantos.com/2025/08/09/poesia-pintura-275/). Voam versos, levados pelo vento, à procura de quem os aceite e os faça seus. Mas trata-se de uma ilusão que não é sentida como tal. É o poder performativo desta linguagem que resolve a aparente ilusão, tornando-a realidade. Ilusão de verdade que se torna uma verdade diferente, uma verdade recriada com materiais plásticos, neste caso, palavras. Talvez seja isso. As palavras transportam sentido que pode ser partilhado, sentido como próprio. E, então, tornam-se realidade efectiva, emoção partilhada. Sobretudo porque elas voam como notas musicais para ouvidos sensíveis. Música que faz vibrar a alma e o corpo. E o poema acontece.
A POESIA É INFINDA
“A poesia é infinda”, dizia um leitor. Sim, porque se trata de uma linguagem aberta – o mundo cabe lá dentro e não há fronteiras temporais. Pode-se dizer tudo com muito pouco. Um poderoso minimalismo. O milagre da poesia.
A MUSA E O ESTREMECIMENTO
Tem cautela, tem, o poeta – respondi eu a quem lhe dizia, glosando o Garrett, que devia ter cautela. É também por isso que ele finge que tudo é ilusão. E talvez seja. E talvez não. Diz isso num poema para que não se saiba se é mesmo puro fingimento. E quem sabe se não sente mesmo o que diz? Ilusão? Ou finge que é dor a dor que deveras sente, como dizia o poeta? Desvaloriza o poema dizendo que é artifício para fingir que algo acontece, iludindo-se e aquecendo-se com palavras no ambiente frio de uma memória atormentada. Mas a verdade é que – e para que não haja dúvidas – o poema começa logo por referir o “poeta fingidor” e termina dizendo que o amor (causa de poesia) é somente sonho. Mas não era o poeta Calderón de la Barca que, pela voz de Segismundo, também dizia que “la vida es sueño”, “una ilusión, una sombra, una ficción”? Que a musa também o seja até pode acontecer, embora eu pense que sempre haverá por ali o rasto de alguém que fez estremecer o poeta. Estremecimento: o big bang da poesia. Mas que o poema não exista é que é mais difícil de aceitar, quando, como alguém dizia, ele estava ali à frente a falar de ilusão… Mas eu respondo: é poesia. Negar-se poeticamente é sempre possível. A contradição faz parte da linguagem poética. É um recurso que pode intensificar o sentido, provocando espanto ou mesmo estupefacção. E, assim, induzir interacção. O que interessa, do ponto de vista da semântica, afinal, é o sentido do poema, como na fala do Segismundo. Na verdade, tive a ideia de fazer este poema em resposta a uma pergunta: “A musa existe?”. Na verdade, existe e não existe. Tem de existir mesmo que não exista. De outro modo nem haveria poeta. Não há estremecimento sem musa. O poema é sobre isto, este aparente e irresolúvel (a não ser pela poesia) paradoxo. Um poeta precisa de musas como do ar que respira. E ele respira palavras e com palavras. E com palavras gera vida.
TRANSFIGURAÇÃO
Mas é isto que acontece aos poetas se for verdade que a dor e o amor estão na raiz da poesia: “sobreviver (poeticamente) é encontrar um significado no sofrimento”. A poesia é procura e partilha activa de sentido… para o reviver. O poema “Ilusão” tem como mote uma pergunta feita por uma leitora: “A musa existe?”. E o poeta fingidor responde, no poema, que não. E que nem sequer o poema existe. Que tudo é uma ilusão. Talvez seja. Ele gosta muito do Pirandello – de Così è (se vi pare) ou de Sei personaggi in cerca d’autore, por exemplo. Mas a verdade é que diz isto num poema. Não existe o poema onde diz isto? Talvez a resposta seja: sim e não. Ou melhor, que tudo seja híbrido, meio real e meio fantasia. Talvez. O Croce para dizer algo parecido falava do mitológico “ircocervo” (metade bode, metade veado), de quimera. Mas sempre se poderá dizer que a parte real é a que diz respeito à alma (o habitat da pulsão poética) e a parte da fantasia ao espírito e à forma. Transfiguração do real, onde a transformação conserva e destrói, produzindo uma realidade terceira, uma realidade mista, realidade e fantasia. A quimera existe? Sim e não.
ILUSÃO
Nesse poema (“Ilusão”) o poeta diz que a poesia, tal como o amor, não existe. O Bernardo Soares dizia sobre o amor: “nunca amamos alguém. Amamos, tão somente, a ideia que fazemos de alguém” (Livro do Desassossego, Porto, Assírio & Alvim, 2015, pág. 125). O objecto de amor é somente a projecção especular de uma ideia em que nos revemos, com que nos identificamos? Talvez se trate mais de imagem do que de ideia, pois esta pertence à esfera conceptual enquanto a imagem pode estar inscrita na alma como luz intermitente ou farol que ilumina. Ou talvez seja a convergência activa entre uma ideia que tem raízes profundas na alma e um outro ser humano. No outro revejo-me como num espelho? Curioso o que diz o Bernardo Soares a este propósito: “O onanista é abjeto, mas, em exata verdade, o onanista é a perfeita expressão lógica do amoroso. É o único que não disfarça nem se engana” (2015: 125). Não diria tanto, mas esta parece ser a consequência lógica do que ele diz. De qualquer modo, a ser assim, estamos perante uma ilusão sobre a dialéctica do amor. Bom, mas, afinal, o poema talvez seja mais um elogio da ilusão. Da magia. Da fantasia. Com ela, o tempo torna-se mais leve e o passado é reconstruído à medida do desejo. Melhor: a ilusão é leve e intangível como o tempo do poeta, o fluxo temporal, a durée. A ilusão é mais futuro do que passado, porque pode gerar uma tensão criativa. O passado pesa e amarra. Com a ilusão, libertamo-nos dele. Sonhamos e construímos futuro. Damos asas ao fluxo temporal, fazendo prosseguir o passado na linha do presente e do futuro. Sobretudo quando a ilusão é, tal como a poesia, caleidoscópica. A ilusão da cor, dos aromas, da harmonia dos sons, da brisa calmante. Tudo vai lá para dentro do poema e cria realidade. E a ilusão é tão intensa que chega a ser confundida com a realidade. Quando é alta a sua performatividade. Fazer coisas com as palavras, dizia o Austin. O poema pode ser isso tudo somente porque é poema. Dizer a verdade num poema sabe a ilusão. Só porque é poesia. Que não foi criada para contar a verdade. A verdade da poesia é ilusória, mesmo que seja verdade. Curiosa outra afirmação do Bernardo Soares sobre a ilusão: “Mas na arte não há desilusão porque a ilusão foi admitida desde o princípio. Da arte não há despertar, porque nela não dormimos, embora sonhássemos” (2015: 238). E vem daí o seu poder e a liberdade de que dispõe para tudo poder dizer sem mancha, sem culpa e sem contradição.
AS ASAS DO SONHO
A ilusão faz parte da vida e é ela que nos permite voar com as “asas do sonho”. O excesso de realismo sufoca, mata. Sonhando, resistimos à dor e ao peso insustentável da rotina. A poesia também é um acto de resistência – pelo voo, pelo sonho, pelo desejo, pela ilusão. E pela leveza, que contraria o insustentável peso da existência… ou do ser. JAS@08-2025
NOVOS FRAGMENTOS (XX)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
SINFONIA
Se a poesia é dirigida à Musa, convocando todos para a viagem em direcção à sua morada, ela tem o valor de um beijo anunciado, de uma carícia partilhada, de afecto declarado, de um abraço público e de beleza oferecida. A poesia é sensível, delicada, dedicada, mas aspira a ser partilhada para existir. Cada palavra contém em si um subtil mundo de sentido e de sedução e procura sempre harmonia (semântica, musical, plástica) com a palavra que se segue. E assim, sucessivamente, até se tornar sinfonia audível, em surdina. Uma cadeia melódica e rítmica. O poeta é, ao mesmo tempo, o compositor e o director de orquestra. E não pode deixar de ter público, quem frua. O poema é a pauta onde a melodia e o ritmo estão inscritos numa cadeia de sentido e de beleza plástica. Sinfonia. “Minha alma”, diz o inexcedível Bernardo Soares, “é uma orquestra oculta: não sei que instrumentos tangem e rangem, cordas e harpas, timbales e tambores, dentro de mim. Só me conheço como sinfonia!” (Livro do Desassossego, Porto, Assírio & Alvim, 2015, pág. 262). E não era poeta, este Bernardo Soares. Imaginem se fosse. Todo ele seria uma autêntica casa da música. Mas, na verdade, tudo parte de uma relação de sensibilidade do poeta com a vida (a componente dionisíaca), evoluindo, depois, com a intervenção das categorias da arte (a componente apolínea) – da alma para o espírito, onde tudo ao mesmo tempo se conserva e se transfigura. O resultado é uma exuberante sinfonia de sentido para almas sensíveis. É isso que o poeta procura criar. É isso que o move, por razões que a razão desconhece.
SAUDADES
As saudades, doem. É verdade. E elas não resultam, nem podiam resultar, de um acto de vontade. Desejo ter saudades que doem? Não, não desejo, mas elas acontecem, independentemente da minha vontade. Muitas vezes são saudades tão-só do desejo insatisfeito. Do que não aconteceu, mas que se desejava que tivesse acontecido. Saudades e sonhos e do que havia nesses sonhos (Bernardo Soares). Mantém-se o desejo impossível e isso dói. Mas se o desejo aconteceu daquela forma tão intensa, e de que ainda se tem saudades, então, é sempre possível convertê-lo em força propulsora de beleza, através da arte. Voltar a sonhar e, assim, resolver a saudade de uma forma superior e partilhada.
INDETERMINAÇÃO
A indeterminação relativa à musa no meu poema “Quem és tu?” (https://joaodealmeidasantos.com/2025/08/02/poesia-pintura-274/ ), a que alude o título, é própria da poesia e da condição de poeta. Como ele vive no interior da própria memória é natural que o perfil da musa se esfume “na bruma espessa do tempo” e isso doa, doa muito. É como ir perdendo-a. É por isso que ele, ajudado pelo pintor que o habita, tenta dar forma a rostos como modo de atenuar os efeitos da bruma e da perda progressiva. A coisa é tão drástica que ele, a um certo ponto, já nem sabe quem ela é. Efeitos da espessa bruma do tempo. Ou, pelo menos, tem dúvidas. Claro, há aqui um efeito de “sobredeterminação” (o conceito é do Louis Althusser, em Pour Marx: “surdétermination”) do discurso pela lógica da linguagem poética, que é uma linguagem cifrada, e pelos efeitos do tempo poético, que é um tempo subjectivo. Que é, digamos, kairótico. E acontece a bruma, uma neblina existencial que envolve o poema, a interpretação e, claro, a musa. A bruma do tempo. É quase um campo semântico para iniciados, onde o mistério fascina, atrai e muitas vezes desconcerta. É nessa bruma que o poeta navega.
MAS A MUSA EXISTE?
Mas se o próprio poeta já não sabe bem quem ela é (o título do poema era “Quem és tu?”) como haveria eu de saber se essa musa existe? Foi assim que respondi a essa pergunta e à afirmação de que o poeta cria subterfúgios, como o Pessoa, para manter a sua própria condição de poeta. Não sei, talvez. Mas sei uma coisa: sem musa não há poeta que sobreviva. Seja ela quem for, tem de existir, nem que seja somente na imaginação do poeta, embora eu pense que haverá sempre o rasto de alguém que passou por ali, pela sua vida. Ele, na condição de pintor, às vezes, lá vai dando forma a rostos. Figuração para efeitos poéticos. Pretende assim sair dessa desconfortável indeterminação. Mas a pergunta subsiste: esses rostos têm referentes? Pode acontecer que tenham ou também que num rosto haja marcas de outros rostos, numa lógica equivalente à da oitava estrofe deste poema. O Pessoa criou, sim, personagens que até poderiam girar em torno de uma só musa. Por exemplo, da famosa Ofélia. E parece que o Eng. Álvaro de Campos não gostava lá muito dela, da Ofélia (nem ela dele), e estava sempre a criar problemas à relação do Pessoa com ela. Isto é referido, se bem me recordo, por Richard Zenith na sua monumental e muito bela biografia do Pessoa (Lisboa, Quetzal, 2022). Aqui era ao contrário: uma concreta musa para um personagem inventado. Tudo na poesia é reversível. Até o tempo e os personagens. E é isso, sim, que mantém vivo o poeta ou a condição de poeta. Ainda por cima ele, o poeta, nunca sabe se as mensagens (beijos escritos) chegam à musa porque os fantasmas estão sempre à espreita. Alimentam-se deles, os marotos. E, assim sendo, ele não pode parar, na esperança de que, um dia, um beijo chegue lá, à morada da musa. Mas o carteiro é o vento e como poderá, pois, ele saber se a mensagem chegou? Ainda por cima com esses caçadores de beijos que são os fantasmas… Só pode saber mesmo através do eco do silêncio dela, um sinal que só eles, os poetas, conseguem ouvir e interpretar. Eu penso que a função do poeta é interpretar o silêncio das musas, o seu eco, e dar-lhe, depois, forma num poema. Como poderia, pois, não haver musa?
RESGATE
A pintura (“Corpo”, para o poema “Quem és tu?”) é o resgate possível. Esfumas-te? Pois, então, eu retrato-te para te poder fixar e beijar com palavras, com um poema. Na poesia há sempre uma certa neblina. E o tempo cronológico, o de Chronos, vai esfumando o perfil da musa, gerando melancolia na alma do poeta. Então ele contrapõe-lhe o seu tempo subjectivo (kairótico) e restaura a figura da musa à medida do desejo. Que é sempre quente ou aquecido. E, claro, a pintura sinestésica ajuda, oh, se ajuda, como se pode ver pela ilustração. O resultado é o tempo restaurado. Mas a neblina permanece sempre, mesmo quando o perfil da musa está desenhado com rigor. É sempre indefinida a fronteira entre o real e o imaginário. É poesia.
O DESEJO E O SONHO
O poema também é um sonho. Sonha o poeta e sonha o leitor. Cada um deles relaciona-se com o poema como se fosse um espelho espiritual – reconhece-se nele a partir da sua própria experiência existencial. É por isso que a linguagem da poesia é flexível e cifrada. Cada um pode aceder-lhe com os seus próprios códigos. Nela podemos sonhar as nossas próprias musas à medida do desejo.
SOPRA O VENTO...
Onde há fumo é porque há fogo. Mas, como dizia o poeta, é fogo que arde sem se ver. Mas arde. E quando o vento sopra mais forte mais o fogo se atiça. O problema (para o poeta) é que, sabendo porque sopra, já não sabe de onde, naquele momento, vem o vento. Porque não se vê o fumo. Arde sem se ver. Às vezes sabia porque o vento lhe soprava de frente. Porque a via e estremecia, tal a força desse vento que chegava com ela. Mas ele agora tem palavras para suster o vento e não deixar que o fogo se transforme em gigantesco incêndio que queime tudo à sua volta. Digamos que as palavras funcionam como o “contrafogo”, para que o fogo seja controlável e não produza estragos. Acendo-lhe um fogo em sentido contrário àquele para onde o fogo se dirige, queimo o restolho (com palavras) e impeço o fogo de avançar porque já não encontra combustível no caminho. A poesia é contrafogo. Mas que o vento continua a soprar-lhe na alma, isso é verdade. Em tempo de frio o fogo até lha aquece. Os poetas vivem sempre num ambiente frio, embora com alma quente e sujeita ao fogo (que arde sem se ver). Frio pela ausência, pelo silêncio e pela distância. As palavras têm força moderadora sobre a sua alma, espiritualizando-a. E nesse movimento locutório o que acontece é que esse fogo que arde sem se ver passa a poder ser partilhado, aquecendo outras almas e sem perigo de as incendiar. O contrafogo manteve o fogo lá onde estava sem o deixar alastrar.
IMPERFEIÇÃO
“O perfeito é o desumano, porque o humano é imperfeito”, diz o Bernardo Soares (2015: 248). A forma de nos libertarmos do humano, da dor, do fracasso, da tristeza, da melancolia é procurarmos atingir a perfeição… que já não é humana. Não nos libertamos, passamos para uma outra condição. Mas, depois, acontece que nunca atingimos a perfeição e, por isso, continuamos humanos, embora com a utopia na alma. Pois é, e é aqui que reside o problema, mas se, como diz o imprevisível Bernardo Soares, “não houver terra no céu, mais vale não haver céu” (2015: 249). Verdade? O céu é de cada um? Por isso, quando voo com ela no azul do céu estou a levar a terra (talvez o pecado) para o céu, garantindo a sua existência como céu (na terra). Não se pode conceber a existência do céu sem o seu contraponto, que é o pecado. Não atinjo a perfeição, mas torno o céu mais humano. E a minha humanidade mais sedutora. A sedução do pecado.JAS@08-2025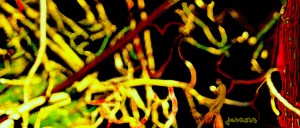
A MAGIA DA REGULAÇÃO
E o Poder do Digital
João de Almeida Santos

“Algoritmo”. JAS, 2024. 90×69, pintura digital, papel de algodão, 310gr, e verniz Hahnemuehle, Artglass AR70, em moldura de madeira.
O MEU AMIGO JOSÉ MAGALHÃES, a propósito de um Podcast sobre constitucionalismo digital e regulação, de uma conversa entre a Prof.ra Raquel Brízida Castro, Vice-presidente da ANACOM, e Sanjay Puri, Founder & President Regulating AI (Podcast: https://www.youtube.com/watch?v=Htq4TL-ws-g ), depois de, em comentário ao Podcast, ter desenvolvido algumas considerações muito pertinentes sobre esta matéria, desafiou-me, nessa mesma publicação, a dizer algo a propósito, tendo ele até partilhado o Podcast no meu Facebook. Contra aquilo que é habitual, decidi mantê-lo no FB, pelas razões aqui expostas. De resto, sobre esta matéria tive, ao longo do tempo, muitos diálogos privados com ele e até escrevii vários capítulos do meu livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, pág.s 19-68) sobre esta matéria – constitucionalismo digital, algoritmo, plataformas digitais -, numa lógica não meramente jurídica ou constitucional, mas bastante mais ampla, ou seja, sobre os efeitos da IA nos mecanismos internos da própria democracia, designadamente quando ela é aplicada de forma muito consistente, intensa e generalizada pelas grandes plataformas que hoje dominam o universo digital. Como se sabe, trata-se de um universo muito amplo que atinge a esfera das decisões profissionais e operativas em vários campos (robótica, condução autónoma, marketing, redes sociais, etc.), das decisões públicas e da construção do consenso para o governo das sociedades quer seja em regime democrático quer seja em regime autoritário, para além da já longa (de muitas décadas) aplicação ao universo da construção de mecanismos físicos, ao universo da robótica industrial (sobre esta matéria veja-se o livro de Arlindo de Oliveira, A Inteligência Artificial Generativa, Lisboa, FFMS, 2025, pág.s 65-86, 87, 119-129). E é claro que este novo mundo digital, que evoluiu da robótica industrial para complexos e sofisticados modelos de linguagem (baseados no sistema chamado Generative Pretained Transformer – Oliveira, 2025: 72), vem interferir de forma generalizada na vida dos cidadãos e na esfera que regula a sua vida em sociedade. Que interfere, como se diz no Podcast, no exercício dos direitos fundamentais, que devem estar protegidos pelo poder público. A União Europeia já tem vindo a produzir importante legislação regulatória sobre esta matéria (regulamentos sobre a IA e o digital)) e em Portugal também já houve decisões sobre o controlo público do universo digital e o processo regulatório, tendo sido atribuída à ANACOM a responsabilidade de coordenar uma área que já integra numerosas entidades. Desconheço qual é o papel que, nesta matéria, tem a ERC, mas suspeito que esteja a leste do mundo digital, até atendendo à sua inoperância mesmo em matéria de plataformas tradicionais de comunicação (televisão, rádio, imprensa escrita). E, mesmo assim, esta matéria, tendo efeitos nacionais, parece-me ser mais de nível europeu do que de nível nacional, em particular vista a dimensão global do uso da inteligência artificial e das plataformas digitais. A União Europeia tem dimensão mais do que suficiente para ser interlocutora activa, em matéria legislativa e regulatória, dos centros mundiais de inteligência artificial e das grandes plataformas digitais.
I.
Um outro Amigo, profundo conhecedor do universo do direito e destas matérias que envolvem o digital e a União Europeia, dizia-me que a vontade reguladora da União lhe parecia, mais do que eficaz resolutora dos problemas emergentes, uma atitude crepuscular desfasada da dinâmica do real, sobretudo quando esta atinge níveis globais de alta eficiência, designadamente tecnológica, aplicada à esfera da comunicação (no caso das grandes plataformas digitais que gerem as redes sociais) e também à esfera da decisão sobre os processos sociais e políticos. Não duvido da necessidade de legislar e de regular a IA e a actividade global das grandes plataformas digitais cuja maioria mais que qualificada continua a ter a sua sede nos Estados Unidos. Mas não esqueço que poderosas autocracias como a Rússia (com o VKontakte dos irmãos Durov, por exemplo) e a China (com a Huawei e as suas poderosas plataformas digitais) se preocuparam mais em criar alternativas tecnológicas digitais às que têm sede nos USA em vez de desenvolverem um constitucionalismo digital que, de resto, em regimes autocráticos, nem tem grande sentido, sobretudo se se considerar as próprias limitações constitucionais das liberdades, dos direitos e das garantias da cidadania nestes regimes. Nestes, o importante é o controlo estatal sobre os fluxos de comunicação. Em 2017, num Ensaio na Revista “ResPublica” (17/2017, pág.s 51-78), sobre a Net na China (e em Itália) e o sistema de controlo da Net implementado pelos chineses relativamente ao acesso às plataformas digitais (“Mudança de Paradigma: A Emergência da Rede na Política. Os casos Italiano e Chinês”), tive ocasião de referir que o gigante asiático usou os serviços da empresa norte-americana Cisco Systems (o famoso Projecto Escudo Dourado) para se dotar de um supercomputador com essa finalidade de controlo (além, naturalmente de inúmeros dispositivos legais e serviços de vigilância digital de que já dispunha). Hoje, todavia, a China parece, no essencial, já não precisar dos americanos para esse fim. Fizeram eles próprios a revolução tecnológica de que precisavam a ponto de já competirem eficazmente com os próprios USA. E têm gigantescas plataformas digitais, como, por exemplo, a WeChat ou a Weibo, entre outras. Coisa – e este é o ponto – que a União Europeia não fez, preocupando-se mais com o chamado soft power e a sedução normativa, numa atitude, sim, mais crepuscular do que realista e eficaz. A UE não tem uma grande plataforma digital, não tem uma grande agência de rating, mas começa a ter uma grande máquina, comunitária e nacional, de constitucionalismo digital que opera sobre realidades globais cujo centro está completamente fora do espaço da União (sobretudo nos USA e na China). E em curso está agora essa decisão, através de regulamentos, imposta aos Estados-Membros e, consequentemente a Portugal. Daí este Podcast global com a Vice-Presidente da ANACOM, até porque os governos de António Costa (em Fevereiro de 2024) e de Luís Montenegro já deram alguns passos em frente neste sentido.
II.
A vontade reguladora da União tem um sabor a impotência. Como disse, autocracias que antes dependiam das grandes plataformas digitais desenvolveram-se tecnologicamente e passaram a gerir-se autonomamente, seja para o bem seja para o mal, seja para produzirem bens transaccionáveis e serviços seja para pilotar e controlar a circulação da informação. Por que razão a Europa não o faz, preocupando-se agora, pelo contrário, em se dotar, com procedimentos mais do que duvidosos, como exposto, na passada quinta-feira, no DN, por Alberto Costa (DN, 07.08), de uma política de rearmamento, três anos depois, perante a aparente ameaça de uma potência que, afinal, anda há três anos a tentar derrotar a Ucrânia sem ainda o ter conseguido? Creio que uma das queixas de Donald Trump relativamente à União Europeia se refere também às multas aplicadas aos gigantes tecnológicos americanos. Imagine-se, por exemplo, que a Google (Alphabet Inc.) decidia interromper os seus serviços digitais à Europa ou que outras plataformas (por exemplo, o Facebook ou o Instagram) o faziam também. Bem sabemos que a União Europeia é um gigantesco mercado para estas plataformas, mas em linha de princípio sempre é possível imaginar uma interrupção para medir as suas gravosas consequências. Seria o caos e talvez uma revolta generalizada. De qualquer modo, é evidente que a actual configuração política e institucional da União, para não falar das actuais lideranças, explica, em muito, o bloqueamento que se verifica em relação a esta matéria.
III.
Este é, quanto a mim, o principal problema. Maior do que o da inoperância da legislação e de regulação sobre serviços que actuam a uma escala maior do que ela, que têm sede fora dela e que dispõem de bases de dados gigantescas com dados oriundos da própria União. E nem sequer se pode dizer que isto é um sonho, uma utopia, porque países há que já o fizeram e com sucesso. E o mesmo vale para as agências de rating, dominando, as americanas, cerca de 93% do mercado europeu de rating e tendo elas, portanto, o poder de ditar o valor dos juros das dívidas públicas a cobrar pelos grandes grupos mundiais que financiam as dívidas públicas. Estes são exemplos do declínio da Europa e da perda de poder, com a contrapartida da fuga para um normativismo insuficiente e pouco eficaz. Não digo absolutamente que a regulação não seja necessária, mas seguramente não é suficiente. E até temo que venha a ter resultados pífios, mas seguramente suportados por máquinas imensas de burocratas a viverem disso. Se elas existirem para fazer um serviço igual ao da ERC, estamos conversados.
IV.
Num interessante livro sobre o constitucionalismo digital na Europa, Giovanni de Gregorio (Digital Constitutionalism in Europa, Cambridge, Cambridge University Press, 2022), fala da emergência de uma “functional sovereignty” que seria imputável à relação entre o cidadão/user e as grandes plataformas digitais, numa espécie de nova constituency estabelecida por contrato privado entre estas e aquele, ao lado da clássica soberania fundada na relação entre o cidadão e o Estado. Seria uma espécie de terceira constituency, depois daquela que parece existir, mediante contrato privado, entre os financiadores das dívidas soberanas e os Estados nacionais, a ponto de determinarem verdadeiros programas de governo (veja-se os casos de Portugal, Grécia e Irlanda e o excelente livro de W. Streeck, Tempo Comprado – Coimbra, Actual, 2013). No caso das plataformas digitais verifica-se uma relação subliminar entre os utilizadores (que, no caso das redes sociais, já representam cerca de 63% da população mundial) e as plataformas, capaz de configurar um ambiente de construção de consenso que se traduz, depois, em conversão eleitoral e, consequentemente, em acesso ao poder de Estado por parte dos protagonistas cujos fluxos comunicacionais são pilotados eficazmente pelas grandes plataformas (já existe um marketing específico para trabalhar com estas realidades, o marketing 4.0, do senhor Kotler). Ao lado do espaço público mediatizado cresceu, pois, um enorme espaço privado onde ocorre a relação contratual entre o cidadão/user e as plataformas (cedências de direitos em troca de funcionalidades oferecidas), com consequências profundas não só no plano económico, mas também no plano político (o livro de Shoshana Zuboff sobre o Capitalismo da Vigilância fala abundantemente disso). Aqui crescem autênticos partidos-plataforma em condições de dominar o espaço público a partir de relações (contratuais) que são privadas, não públicas. Uma novidade que parece estar a crescer a uma intensidade imparável e capaz de mudar radicalmente o panorama político mundial com a desfiguração irreparável da própria democracia representativa. A “soberania funcional” viria, assim, a substituir a soberania clássica que se exprime na ideia de povo-nação.
V.
Visto este panorama, é claro que se torna necessário desenvolver um constitucionalismo digital, sendo, todavia, também evidente que ele não basta por ser evidente a assimetria entre o poder regulatório dos Estados nacionais ou mesmo da União e o poder efectivo das plataformas sediadas nos USA ou na China. Mas este é só um dos aspectos da soberania, porque, como vimos, há um outro que se exprime também como “soberania funcional”, ou seja, o da segunda constituency, a dos credores da dívida pública, a que se junta o poder efectivo das “big three”, das três agências de rating americanas. Uma imponente “soberania funcional” em dois níveis que tende a abafar a clássica soberania do povo-nação ou do povo-União (se é que podemos usar esta expressão para designar a cidadania europeia). O problema é, pois, o da progressiva imposição de uma vasta “soberania funcional”, decorrente das duas constituencies (financeira e digital), àquela que, afinal, é a constituency originária que se exprime na relação pública entre a cidadania e o Estado, entre o contribuinte e o Estado, com o resultado de vermos a democracia esvair-se, mantendo-se como mero invólucro formal e simulacro apenas com funções de legitimação do poder.
VI.
Torna-se, pois , necessário reponder a este problema, certamente com mecanismos e normas de regulação, mas sobretudo com a criação urgente das suas próprias plataformas digitais e agências de rating (para não referir sistemas de dívida pública ancorados no financiamento nacional, como acontece, por exemplo, em Itália e no Japão) de modo a que os cidadãos/users/contribuintes possam tranquilamente ver os fluxos comunicacionais e financeiros migrar para elas. Sempre coexistiria uma “soberania funcional” com a clássica soberania e outras constituencies com a constituency primária, mas elas ficariam mais directamente ao alcance de uma gestão política da própria União Europeia. Mas não creio que, com estas lideranças, a União enverede por este caminho. E, assim, veremos a direita radical progredir na sua caminhada para o poder. JAS@08-2025
NOVOS FRAGMENTOS (XIX)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
QUANDO O AMBIENTE INIBE A FRUIÇÃO POÉTICA
Quando o tempo físico é propício, sereno, plácido, agradável pode acontecer que a poética fruição sofra uma pequena conversão, digamos, ambiental. A sensação de bem-estar físico é tão boa, tão cheia, que o estímulo poético perde poder propulsivo. É coisa natural. E até acho que o pedido de socorro à musa não seja suficiente para atenuar essa placidez ambiental. Os sentidos às vezes funcionam como contraponto da poesia. Podem provocá-la, sim, mas ela, depois, ocorre em ausência, na penumbra, no silêncio, na sombra. A poesia tem algo de nocturno. A ecologia poética é outra coisa. Não coincide com a outra. Às vezes é mesmo antagónica. Não é por acaso que dizem que a poesia é filha da dor e da penumbra… Sol? Só se for interior.
O BEIJO
Pois penitencio-me por não ter incluído o “Beijo” de João de Deus nos textos que serviram de leitmotiv ao meu poema “O Beijo”, que sempre publico no dia seis de Julho. Mas ele, o João de Deus, era ambicioso e mais afortunado. Não lhe bastava um. Logo pedia outro e outro… Três, a conta que (João de) Deus fez. E invocava as três Graças e as três Virtudes. E as Folhas Santas (que o lírio fecham). Tudo para ter mais um beijo. Ao que o beijo obriga! Mas este poeta só o deu com o olhar. O primeiro. E, ao que parece, por aí se ficou… até decidir que os daria escritos, mesmo que os fantasmas os bebessem. E aí começou a odisseia dos beijos em forma de verso. Mesmo sabendo que ficariam pelo caminho, bebidos pelos fantasmas. Acabou como Sísifo: ter de recomeçar a subida ao Monte até que lhe chegasse (mas nunca chegaria) o sinal de que, ao menos, um beijo chegou ao destino. Ele pensa que um dia o beijo (escrito) há-de chegar. Mas a verdade é que andam por lá os fantasmas para impedir que ele saiba se algum beijo chegou, se algum não foi bebido por eles. E a musa também não ajuda porque a sua linguagem é a do silêncio. Os fantasmas são amigos das musas porque são eles que obrigam os poetas a beijar sem parar por força da incerteza em que vivem. O princípio da incerteza é a alma da poesia. Há ali uma cumplicidade que faz da fraqueza (ignorância acerca do destino dos beijos) força (a permanente subida ao Monte). E, às vezes, as palavras – que parecem leves como plumas – pesam como pedregulhos maciços. A dor é congénita. E a incerteza é constante. São elas que fazem caminhar o poeta. Mas, pelos vistos, o João de Deus até conseguiu convencer a musa. E, em vez de um, até terá conseguido três. Incrível. O problema é que nunca lhe haveriam de bastar só três… E, por isso, teve de continuar. Mas há uma saída: que o vento que os leva os devolva como notícia sob forma de eco do silêncio da musa. Ao poeta basta-lhe isso… para logo recomeçar.
ACONTECER
Quando não aconteceu, mas o desejo existiu, as saudades são maiores. Então pode acontecer a poesia, o olhar comprometido com a memória ou mesmo com o próprio testemunho físico desse passado. Algo que não se completou, mas que se pode ir completando através de outras formas. A poesia é a melhor forma de o fazer. Mas para isso ela tem de nos acontecer. O poema “O Beijo” é um acontecimento, num dado dia e numa circunstância especial. Acontece uma vez por ano. Envolto num certo mistério. Próprio da poesia. E da natureza dos beijos escritos. O mistério só pode ser cabalmente compreendido pelos iniciados. E tudo se torna mais denso quando coberto pelo silêncio, dando origem a algo de tipo oracular. Eu sinto isso assim.
A MUSA DO LEITOR
Eu tenho a certeza de que o leitor também tem a sua musa e que, no poema, de algum modo a reconhece. Alguma sua faceta. Não coincidem os referentes (o do poeta e o do leitor), certamente, mas coincidem os sentimentos, as emoções, as memórias, as intensidades (eu gosto mais da palavra “intensities”)… Tudo enriquecido pela pauta poética que embala esse turbilhão de emoções que a poesia faz renascer em palavras. Sim, a poesia é música para a nossa alma.
TEMPO REVERSÍVEL
O tempo da poesia é um tempo reversível – tanto é presente como passado ou futuro. É um tempo sem tempo. Os gregos tinham aquele tempo que se chama “aoristo”, um tempo sem tempo. O Bergson falava de durée – um continuum, o que já não é que se projecta no que é ou no que será. Tempo subjectivo, diferente do tempo cronológico ou espacializado. O tempo da poesia é um tempo criativo e pode distender-se entre o passado e o futuro, sem contradição. Ele resolve o enigma do tempo. Tudo ao alcance da vontade poética que dá asas ao desejo. Sim, é um tempo diferente. Mais livre. Reversível e ao alcance do desejo. O poeta move-se nele livremente, embora o impulso tenha origem numa pulsão maior do que a sua própria vontade. Condenado a ser livre, poder-se-ia dizer. Assim se redime. E se liberta, construindo o seu futuro com palavras. Reconstruindo-se. O tempo da poesia é um tempo em tensão orientado para o futuro.
TEMPO-SOMBRA
O tempo persegue-nos porque nos segue como a nossa sombra. Mas na sombra não nos conseguimos ver, observar, identificar, porque é apenas um perfil tosco. A sombra está sempre lá. A identificação só é possível através do espelho, porque ele regista o tempo que passa por nós. O espelho é mais do que a sombra, é o reflexo do tempo que passa. O tempo é sombra e é reflexo especular. É daí que resulta o poder do espelho de Athena. Apercebo-me do fluxo temporal sobre mim através do espelho. Mas é uma visão indirecta. Não petrifica. Se te observares no espelho também o tempo te observará, mas sem te petrificar. Viver o presente? Talvez não seja possível porque cada instante vivido já é passado. O presente é uma ficção. Melhor: é uma tensão entre o futuro e o passado. O presente verdadeiramente corresponde ao desejo. É por isso que ele é o tempo da poesia. E só ela permite a reversibilidade do tempo. E assim dá poder ao presente porque permite a sua livre projecção quer para o passado quer para o futuro. Poesia é liberdade.
TEMPO-AORISTO
No tempo poético não manda Chronos, o Deus do tempo espacializado. Há um tempo próprio dos poetas: o kairós. O tempo oportuno. É esse o tempo dos poetas. Que é também o tempo dos deuses. No tempo dos poetas convergem todos os tempos: passado, presente e futuro. E até o aoristo, esse tempo sem tempo dos gregos. É nele, neste tempo sem tempo, que os poetas se movem. Porque é um tempo de liberdade, um tempo reversível. É essa a ampulheta que mede o tempo dos poetas.
AS SAUDADES DOEM
Compreendo: as saudades podem doer. É melhor voar com o tempo e para o futuro, montados em palavras ao sabor do vento que nos sopra na alma. A ilustração do poema “Tempo” tem as duas faces de Janus, a que olha o passado (para trás) e a que olha para o futuro (para a frente). O passado dói menos se o contarmos com os olhos postos no futuro. Tinha razão a Karen Blixen.
POESIA E SAUDADE
É curioso, a saudade pode, de facto, ser induzida pela poesia, pela fantasia, elevando-a a canto sofrido, mas esteticamente fruído, a doce melancolia. A memória revisitada com dor e prazer – essa mistura explosiva de onde pode sair a obra de arte. Ou as obras de arte quando a poesia e a pintura cooperam na construção de beleza. Reviver em arte é projectar o passado no futuro através da forma que dá corpo aos frutos da fantasia. Memória, tempo e fantasia. O poeta é, sim, fingidor, mas a ficção reside essencialmente na forma e no estatuto da linguagem poética, onde acontece a transfiguração do referente, quando e se ele existir. A musa inspira o poeta, sim. Não há poesia sem musas nem fantasmas. Ambos povoam a imaginação do poeta e até lhe servem de aconchego existencial e espiritual. Ele quer sempre chegar à fala com a musa, mas sabe que os fantasmas estão sempre ali, à esquina e à espera dos beijos escritos que ele lança ao vento. Pois é. Um desafio enorme, esse, o de chegar à musa. Mas tem de ser porque sem ela ele definha. Um sem-abrigo que está sempre a tentar construir a casa onde se possa encontrar com ela. Essa casa é o poema. Uma tarefa de Sísifo.
RESSONÂNCIA
O poeta está situado temporalmente no “instante oportuno”, no kairós. De certo modo, a poesia é favorável a um temp(l)o de iniciados, pois trata-se de uma linguagem cifrada. Assim: tempo que acontece num templo: Temp(l)o. Vitrais, silêncio, penumbra, o eco do silêncio, o sagrado. Mas é uma linguagem universal. E vale pela sua “ressonância” na alma de quem a lê. E é altamente performativa.
O PODER DA POESIA
“A poesia pode tudo”, dizia-me um habitual leitor da minha poesia. E pode tanto mais quanto mais bela for, quanto mais musical e sensitiva for.
POESIA E REVELAÇÃO
O pintor e, sobretudo, o poeta nunca devem revelar (se houver) os referentes ou informações que possam induzir interpretações das obras, sobretudo porque, no essencial, não são decisivos para o efeito estético que se pretende propor. A obra deve falar por si, como se não existisse uma qualquer exterioridade que a tivesse suscitado ou a que se possa referir. E, neste caso (o da ilustração do poema “Saudade”), a “Musa” até está associada intimamente ao poema que ilustra em registo sinestésico. Um perfil de mulher (“Musa”). Não é poético procurar o referente da pintura ou do poema.
A INVENÇÃO DO AMOR
No poema “Saudade”, a rua proibida a que o poeta se refere, pelo que sei, não era a mesma da do Daniel Filipe, a do poema “A Invenção do Amor”. Mas era uma rua interdita pelas circunstâncias da vida. É claro que o amor é perigoso, rompe barreiras, não obedece aos cânones racionais nem à autoridade e vai por ali adiante sem cuidar de se proteger. É por isso que ele está irmanado com a poesia. Na liberdade e na beleza. Ambos vão por ali adiante sem cuidarem de se resguardar. O amor poético é vida, é a vida escrita em liberdade plena. A invenção poética é uma invenção do amor. Não há ditadura ou obstáculo que o possa parar ou oprimir. Se isso acontecer ele reactiva-se em intensidade. É este o sentido do poema de Daniel Filipe. JAS@08-2025
PENSAR O FUTURO
O PS e o Conselho Estratégico
João de Almeida Santos
1.
No dia 24 de Julho fui surpreendido por um artigo da jornalista São José Almeida, no “Público”, que dava conta da criação pelo PS de um Conselho Estratégico (CE) composto por 75 personalidades (mas ontem, no momento da instalação, já eram 94) e definido como “órgão consultivo e propositivo” que tem como missão “criar pensamento político estratégico”, “contribuir para o planeamento estratégico da acção política do partido com horizonte temporal até 2050”, dotando o PS “de uma capacidade prospectiva e multidisciplinar capaz de antecipar tendências, propor soluções e dialogar com os sectores mais dinâmicos da sociedade”, em suma, “um espaço de ideias. Um laboratório de futuro. Um ponto de encontro entre a política e o conhecimento”. Pronto, agora é que é, disse para mim. Do Conselho nascerá a luz. Até aqui foi só escuridão? Claro que não. Mas será esta a solução? Tenho fundadas dúvidas.
2.
Infelizmente, não conheço o documento e também não foi publicado até hoje pela newsletter do PS a que dão o nome que antes era o do jornal do partido, “Acção Socialista”, agora reduzido a uma pobre secção do site do partido. Mas, sobre este assunto, pude ler, no dia seguinte, na newsletter, um pequeno artigo que resumia o assunto, abordado brevemente na entrevista televisiva que o secretário-geral, José Luís Carneiro, deu à SIC Notícias nesse mesmo dia 24 de Julho. Entretanto, silêncio sepulcral, só interrompido, primeiro, pelo “Expresso”, em artigo de última página, e, depois, pelo “Público” de ontem (29.07), da autoria de Ana Sá Lopes, a dar conta de mais uns nomes que iriam integrar o Conselho. A crer no que a jornalista São José Almeida diz no primeiro artigo do “Público”, tratar-se-á certamente de uma iniciativa que irá resolver o que até aqui não foi resolvido pelos actuais órgãos do partido. Um verdadeiro e numeroso Conselho de Sábios escolhido para, qual deus ex machina, pôr ordem no palco onde aparentemente reina, ou reinava, a desordem. Coisa própria de uma tragédia grega.
3.
Sendo militante do PS, no activo, fui informado, não pelo partido, não pelos seus canais de comunicação, mas pelo jornal “Público”, de uma importante decisão do secretário-geral acerca da orgânica do partido de que faço parte. Independentemente de se tratar de uma decisão de legalidade estatutária muito duvidosa, talvez seja uma decisão um pouco estranha, até porque parece indiciar que se quer reformar o partido começando pelo telhado ou, pior ainda, por justapor um novo órgão aos três que já existem. Um imenso e heteróclido chapéu reformador que ditará os caminhos do nosso futuro colectivo. Mas, vistos os nomes que o integram, o que mais apetece dizer é “Não, obrigado!”. Mesmo assim, julgo que mais importante do que isso, e apesar de a iniciativa dizer muito acerca do funcionamento interno do partido e dos seus critérios de escolha, é o significado da criação de mais um órgão, nos termos em que isso foi feito e nas funções que lhe estão atribuídas. A instalação ocorreu ontem, na sede nacional do PS, tendo sido divulgado o nome do coordenador do CE, Augusto Santos Silva, e uma “foto de família”. Santos Silva é um dos mais longevos dirigentes do PS, com cerca de 26 anos ininterruptos de altas funções no governo, no partido e na AR, sendo legítimo perguntar se, com um curriculum destes, é a personalidade mais adequada para presidir a um órgão que pretende promover a mudança e a renovação. Sinceramente, eu não estou convencido disso, tal como, aliás, e olhando para a foto de família, não me parece ser realístico falar de renovação com tantas figuras que já só representam passado, muitas vezes de valia discutível.
4.
Vou directo ao assunto. E começo por verificar que, com este novo órgão, o PS passa a ter mais de 500 membros nos órgãos nacionais do partido: Comissão Nacional, Comissão Política Nacional, Secretariado e, agora, Conselho Estratégico. O conjunto dos anteriores órgãos representava mais de 400 pessoas, das quais, em diferentes posições, dependia a definição, a aprovação e a execução da orientação política global do PS. Órgãos que, agora, e aparentemente, passam a ser meros legitimadores e executores de orientações que, pelos vistos, terão origem neste estranho órgão. As questões que poderemos pôr são, entre tantas outras, as seguintes: Não eram suficientes os três órgãos nacionais para formular, desenvolver e executar a acção política do PS? Este novo órgão, nos termos em que parece ter sido gizado, não vem confiscar competências aos legítimos órgãos já existentes? Os órgãos já existentes não tinham no seu interior personalidades dotadas de capacidade intelectual e política para levar o partido rumo a um futuro sólido? A reorganização do partido não acaba, assim, por se afunilar num órgão de legitimidade estatutariamente duvidosa? Um novo órgão com 75 (94 ou até mais) pessoas será a estrutura adequada para uma renovação estrutural do partido? Que é feito do Gabinete de Estudos do PS? Seguiu este, tal como as Fundações do partido, o mesmo destino que teve o jornal “Acção Socialista” (de que fui director executivo durante vários anos, tendo sido eu que o informatizei) e que agora vejo reduzido a pobre folha de informação digital que nem sequer está em condições de informar acerca deste novo órgão, delegando a informação a um jornal que não é do partido? Não só o órgão é estranho como mais estranha ainda é a sua génese e a falta de informação interna acerca dele e das razões que levaram à sua formação.
5.
Confesso que a criação deste órgão me parece totalmente inadequada, não só porque indicia, de forma imprópria, irrelevância e inutilidade dos restantes órgãos, dando ideia de que estes só existem para fazer número e nada mais, mas também porque uma estrutura deste tipo não é, de certeza, funcional, ágil e coerente para levar por diante um processo sólido de renovação do partido em todas as suas frentes. Basta olhar para os nomes que o integram. O tempo o dirá, mas a mim parece que esta é uma iniciativa que visa simplesmente dar ideia de que o partido está em condições de convocar a sua experiência passada (com risco de habituação – “assuefazione” é a palavra italiana – e de produção nula de efeitos) e de se abrir à sociedade civil, nada mais sendo do que mera retórica comunicacional e agregação corporativa (por justaposição) de personalidades em torno do actual secretário-geral. Uma orientação que parece ser apenas de natureza instrumental, mas que poderá vir a revelar-se como contraproducente, até mesmo em relação ao secretário-geral. Alguns dos nomes que o integram soam a “entrismo”, a célebre técnica de pendor trotskista que visava a conquista do poder. Não sei, mas a composição deste órgão parece-me mais uma “ammucchiata”, como dizem os italianos, do que uma estrutura capaz de conceber uma reforma coerente e credível. Pelo contrário, olhando para a composição (e para o número), parece tratar-se de mais de uma lógica de natureza orgânica e corporativa do que da lógica própria da renovação e da inovação.
6.
Na verdade, do que o PS mais precisa é de uma reorganização interna eficaz e representativa, logo a começar pelo método de selecção da sua classe dirigente e dos seus candidatos a funções institucionais de origem electiva aos níveis local, regional e nacional. Tanto no plano interno como no plano externo. Para isso, seria necessário dotar o partido de mecanismos eficazes em condições de promover internamente a emergência de novos protagonistas, revitalizando a dialéctica interna, e de tudo fazer para travar a tendência galopante das candidaturas únicas (e também a saída para candidaturas independentes), que, pelo que sei, está a proliferar, evitando uma progressiva endogamia que só pode levar ao desastre. Trata-se de promover a democracia interna através de mecanismos que contrastem eficazmente o controlo orgânico do partido por grupos organizados que têm como único fim “tratar da vidinha” através da política, a caminho de uma imensa federação de interesses pessoais corporativamente organizados. Mas também deverá ser promovido um trabalho intelectual intenso orientado para o futuro, visando a compreensão das novas dinâmicas da sociedade civil e das novas configurações da cidadania, que há muito está a mudar de identidade, em grande parte devido às novas tecnologias e à intensificação da mobilidade. Do que não precisa é de uma câmara corporativa que mais pareça um palco de vaidades e de sobrevivência de personagens que pouco têm a acrescentar ao que fizeram no passado, quando esse passado teve alguma coisa digna de ser relembrada.
7.
O modo como esta iniciativa nasceu diz muito sobre a sua consistência. O partido não foi informado, ouvido e mobilizado para que dessa mobilização resultasse algo consistente. Bem pelo contrário, a iniciativa foi ocultada ao partido, tendo sido desvelada através de informação externa e insuficiente. O partido foi confrontado com a decisão de lhe ser imposto mais um órgão que apenas resultou de um exercício de vontade individual, neste caso, do seu secretário-geral (ou de quem por ele o gizou e organizou). O que parece indiciar, que me perdoe José Luís Carneiro, uma gestão pouco cuidada do processo de renovação do partido. Uma decisão que inverte o processo de mobilização dos militantes para uma reorganização interna absolutamente necessária, correndo mesmo o risco de a iniciativa gerar indignação, afastamento ou mesmo revolta dos militantes, que se sentirão cada vez mais como mera massa de manobra. Na verdade, a primeira iniciativa no processo de renovação do partido deveria consistir na promoção de um rigoroso diagnóstico sobre a saúde da democracia interna do partido. Mas não. O processo inicia-se com uma agregação, por justaposição, de um novo órgão de 75 personalidades (ou mais), algumas das quais talvez pouco possam contribuir para a mudança necessária. Estou convencido de que, com esta iniciativa, estamos muito longe da lógica que motivou os “Estados Gerais” de António Guterres e que haveria de mobilizar fortemente o partido e amplos sectores da sociedade civil, levando o PS ao governo do país, depois de dez anos na oposição.
8.
O que está em causa é a própria ideia de mudança, quando, para a promover, se recorre, no essencial, ao mesmo passado que contribuiu para o actual estado de facto e a outras escolhas com base em critérios cuja lógica se desconhece, ao contrário do processo que, bem ou mal, levou à formação dos actuais órgãos nacionais do partido. Não se trata de coisa de somenos acrescentar um órgão de 75 ou mais (94, no momento) membros aos órgãos já existentes. E, por isso, a “emenda” parece ser pior do que o “soneto”, pois o resultado é a desqualificação dos órgãos existentes sem que se alcance uma eficaz compensação alternativa. Bem pelo contrário. Nem sequer parece equivaler a transformismo, mudando algo para que tudo fique na mesma. Não, não se muda. Acrescenta-se e justapõe-se um órgão constituído por cooptação, sem informação, sem critérios de selecção conhecidos nem razões que o justifiquem, provocando, isso sim, uma forte desqualificação dos órgãos nacionais já existentes. Aumenta-se o número com muito do que foi legado do passado, ou seja, do mesmo que nos levou até aqui, isto é, à crise do partido.
9.
Não creio que esta situação seja irremediável, sobretudo se for mais retórica comunicacional do que algo substantivo. E por isso julgo ser útil que se diga tudo o que haja para dizer sobre o que esta iniciativa representa. E até se poderia perguntar por que razão, um dia depois da tomada de posse do Conselho Estratégico, eu faço, aqui, esta crítica tão frontal ao partido de que sou militante. E eu reponderia que, em primeiro lugar, o faço aqui, abertamente, porque também tive conhecimento da iniciativa somente através da imprensa nacional e não através dos circuitos informativos do partido; em segundo lugar, porque sou militante de base e não integro nenhum órgão do partido; em terceiro lugar, porque este tem sido o espaço onde sistematicamente venho comentando, sempre com intenção propositiva, as posições do PS; em quarto lugar, porque pretendo dar o meu contributo, dizendo o que penso sem condicionamentos de oportunidade, para melhorar o processo de renovação do partido. De resto, et pour cause, ainda durante este ano publicarei um livro sobre o PS e os desafios do futuro, orientado precisamente no sentido da renovação ideal, programática e orgânica do partido, além da necessária visão mais global sobre as grandes questões da nossa sociedade com as quais o PS, como partido de governo, deve confrontar a sua própria estratégia. Será um contributo que, dispensando uma qualquer integração orgânica ou corporativa, representará uma resposta aos desafios que justificaram a criação deste enorme CE. E, além disso, representará também a sequência, agora em termos nacionais, do meu mais recente contributo sobre a política do futuro, plasmado no recente livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, pág.s 262). Interessem ou não estes livros aos actuais responsáveis do PS, a verdade é que são contributos que procuram responder, com profissionalismo, aos desafios que se põem à política actual, sobretudo na óptica da social-democracia.
10.
Não me parece, portanto, que a criação de um Conselho Estratégico deste tipo e nos moldes em que foi feita, para além da duvidosa legalidade estatutária em que incorre, possa dar um sinal positivo do processo que urge iniciar com vista a dotar o PS de uma forte democracia interna e de uma robustez ideal, programática e orgânica em condições de o voltar a colocar no lugar que, por razões históricas e pela excelência do espaço político que ocupa na geometria partidária, merece e que, além do mais, é decisiva para a própria saúde democrática do nosso sistema político. JAS@07-2025
TRÊS NOTAS CRÍTICAS
SOBRE A ACTUALIDADE POLÍTICA
João de Almeida Santos
OS CIÚMES DO PS
LI ALGURES que o PS estaria com “ciúmes” ou mesmo “amuado” pela aproximação do PSD (a AD é uma ficção eleitoral para dar emprego à dupla Melo&Núncio e para enganar o freguês eleitoral) ao CHEGA. Curiosa formulação sobre as relações entre dois partidos políticos. Coisa de afectos, é o que parece quererem sugerir. Namoro (em crise) de regime entre parceiros com interesses comuns. E, todavia, esta leitura estapafúrdia tem alguma razão de ser, pois encontra fundamento na insistência com que o PS tem vindo a reivindicar a centralidade histórica do diálogo privilegiado entre as duas tradicionais forças da alternância (governativa). O que até há uns tempos atrás fazia algum sentido, pois eram as duas forças centrais do sistema, governando em alternância, hoje já não faz. Hoje, que entrou em cena um novo protagonista central, esta lógica deixou de fazer sentido, até porque o novo protagonista pode mesmo vir aceder à chefia do governo, como, de resto, já foi reconhecido pelo actual primeiro-ministro, o mesmo que dizia “não, é não”: “acho que esses (PS e CHEGA) são os mais importantes porque obviamente são aqueles que se afiguram no contexto político-partidário como as alternativas futuras de governo”. Sobretudo a partir do momento (18.05.2025) em que o CHEGA passou a ser a segunda força parlamentar, com 60 deputados. Antes, com o famoso “não, é não“ do mesmo Montenegro, essa lógica ainda parecia manter-se de pé. Agora, deixou de fazer sentido. Antes, o PS colocava-se na posição de evitar que o PSD caísse afectuosamente nos braços do CHEGA, criando um muro protector de defesa da democracia ameaçada. Agora, já se viu que não é isso que os portugueses consideram central porque, caso contrário, não dariam a força eleitoral que deram àquele partido da direita radical. Na verdade, não é o PSD que está a “normalizar” o CHEGA. Foi o voto dos portugueses que o “normalizou”, ao torná-lo a maior força política da oposição parlamentar. Coisa, de resto, muito pouco surpreendente se atendermos ao que se está a passar na própria União Europeia.
A mim, sempre pareceu que o PS nunca se deveria ter colocado nessa posição de salvador da pátria, de colo da democracia, de vizinho privilegiado ou de compadre do PSD, até porque ela acabaria por condicionar fortemente a sua própria autonomia política. A sua, perdidas as eleições, deveria ser, isso sim, a posição de partido central da oposição (até pela sua força autárquica), cabendo à direita, com maioria parlamentar, entender-se. Isto antes, mas também depois, das recentes eleições. Escrevi-o aqui várias vezes e reafirmo-o agora que a situação parece ter evoluído nesse sentido – estão a entender-se e isso é natural, porque ambos ocupam aquele espaço que o próprio PS identifica como de direita, mas também porque o CHEGA tem uma dimensão parlamentar que o PSD não pode negligenciar. Poder-se-ia dizer que estava escrito nas estrelas, embora essa geometria política já estivesse a ser usada silenciosamente por Montenegro, sabedor de que Ventura nunca viabilizaria um governo do PS. Por isso, o PS deve, sim, finalmente, preocupar-se em fazer uma oposição construtiva, mas crítica, enquanto consistente partido da oposição. E tanto mais quanto a agenda política do CHEGA for sendo absorvida pelo partido que governa. O PS poderia dizer: “têm maioria no parlamento, então entendam-se; nós cá estaremos para combater aquilo que considerarmos errado, injusto e pouco democrático”. E sobretudo cá estamos para construir uma alternativa sólida que possa merecer a confiança dos portugueses, sem nos deixarmos cair na ratoeira do politicamente correcto e do wokismo, que tanto têm alimentado politicamente a direita radical. Anunciámos uma profunda reflexão sobre a nossa própria identidade política e iremos promovê-la, sem, entretanto, deixarmos de cumprir rigorosamente o nosso dever de importante força política de oposição.
OS DEVERES DE UM PRESIDENTE
DO PARLAMENTO
O que se tem passado no Parlamento é a todos os títulos verdadeiramente incompreensível, com os presidentes em exercício a desempenharem muito mal as suas funções. Limito-me a dois casos exemplares: o do uso parlamentar da palavra “vergonha” e da palavra “fanfarrão”. A primeira, verberada, com o ar circunspecto e pesado de um vigilante da linguagem parlamentar, o então PAR Ferro Rodrigues; a segunda, verberada pelo actual PAR, Aguiar-Branco (com hífen). Duas injunções sem qualquer sentido, mas ambas bem elucidativas das presidências de Ferro Rodrigues, de Santos Silva e de Aguiar-Branco. Uma fanfarronice de que todos eles se deviam envergonhar. Não fosse suficiente o estatuto e as funções de um presidente da AR para moderarem o seu comportamento, bastaria pensar que existe, em relação aos deputados, um mecanismo chamado “imunidade parlamentar” para travar a pretensão de os PARs fazerem injunções verbais desse teor. Mas, mesmo assim, se este aspecto ainda não fosse suficiente, bastaria pensar que os parlamentos foram inventados não só para integrar institucionalmente as diferentes sensibilidades políticas existentes no país e para fazerem as leis que regulam a vida da cidadania, mas também para, através da representação institucional, constituírem uma espécie de sociedade em miniatura capaz de absorver institucionalmente as disrupções sociais que, de outro modo, tenderiam a manifestar-se com radicalidade e violência nas ruas. O parlamento também funciona como uma espécie de almofada que atenua os embates sociais, transformando-os em debates cívicos, argumentados e retóricos que se substituem à violência do confronto físico. Tudo isto obriga a que a liberdade parlamentar seja muito ampla, chegando, e por isso mesmo, a ser configurada como imunidade parlamentar, símbolo máximo da liberdade parlamentar. Claro, dada a importância da instituição parlamentar, os representantes deveriam sempre estar ao nível até porque estão em funções de representação (não-imperativa) da cidadania, sendo-lhes exigível não só moderação, mas também respeito pelo próprio mandato. Ou seja, devem ser exemplares no exercício das funções e das próprias prerrogativas. O que não pode acontecer é estarem condicionados no exercício das suas funções pelos novos vigilantes da linguagem politicamente correcta. Até porque essa vigilância é limitadora da liberdade oratória dos deputados e pode ser ela própria geradora de revolta. Uma das razões que me fazem hoje preferir um sistema eleitoral de círculos uninominais é precisamente porque este sistema é mais exigente relativamente à qualidade da representação parlamentar, não só porque os candidatos devem submeter directamente a própria candidatura aos eleitores, mas também porque põe fim à total discricionariedade das escolhas por parte da classe dirigente (as candidaturas são propostas em envelopes fechados com a sigla do partido). Este tipo de sistema eleitoral valoriza o rosto dos que se apresentam como candidatos e responsabiliza-os mais directamente perante os próprios eleitores. Não sendo a varinha mágica do regime, ele pode ajudar a melhorar a qualidade do sistema parlamentar.
O ESTADO-CARITAS
E AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS
Outra questão é a da já famosa “esmola de Estado” aos pensionistas, inaugurada, é preciso dizê-lo com clareza, por António Costa (em Outubro de 2022, se não erro), mas agora com a agravante de acontecer em cima de uma importante campanha eleitoral autárquica. O PR dispõe de um instrumento para travar esta indignidade (Decreto-Lei 86-A/2025, de 18.07), através do veto. Mas não o usou. E considero que ele deveria ter usado o seu poder, ainda que fosse para dizer que a haver “esmola” ela teria que ficar para depois das eleições, em nome da decência democrática. Mas não só o PR deveria ter intervindo. O PS dispõe de um instrumento muito importante: o pedido de apreciação parlamentar do Decreto-Lei, onde até poderia propor uma alteração para o futuro no sentido de estes valores ficarem incorporados a título permanente no montante das pensões. De qualquer modo, aí se veria a posição de cada partido sobre algo que, em boa verdade, nem deveria merecer sequer discussão, nos termos em que isso foi feito. Este suplemento extraordinário, em setembro, antes das eleições autárquicas, não deveria pura e simplesmente existir. Mas o que fazem os partidos? Assobiam para o lado, temerosos de virem a ser acusados de impedir a esmola aos pobrezinhos, de não serem humanistas nem solidários. Montenegro foi “esperto”: se o dou, agradecem; se não for possível, a culpa foi dos outros. Só que se trata de uma questão de princípio: dar “esmolas” antes do voto é duplamente condenável. Para quem as dá, mas também para quem as recebe, sobretudo nestas circunstâncias.
Não me parece, pois, que a cidadania esteja a ser respeitada. O Estado social não se pode confundir com um Estado-Caritas, com um Estado caritativo que, quando tem (e se tem) uns cobres a mais, umas folgas, os distribui circunstancialmente pelos pobrezinhos para atenuar dificuldades de momento. Folgas que, verdadeiramente, não há, pois o Estado português paga anualmente em juros da dívida cerca de 7 mil milhões de euros, sendo hoje a dívida pública, em termos absolutos, de cerca de 284 mil milhões de euros. São mais 104 mil milhões do que quando José Sócrates deixou o governo em junho de 2011 (180 mil milhões, em dezembro de 2010).
Esta política de esmolas representa, pura e simplesmente, falta de respeito pelos cidadãos, é engano ou é mesmo engodo. Seja quem for o protagonista que a pratica, de esquerda ou de direita. O que sei é que este tipo de medidas está a generalizar-se cada vez mais (no ano passado assim foi também) e não tem provocado um sobressalto cívico que mereça a devida atenção dos responsáveis políticos pelo poder formal, em todas as instâncias. Tudo começa a saber a truques para enganar o eleitor e o país. E isso também vale para a história da diminuição da retenção na fonte, provocando a ilusão de um crescimento dos salários. A medida em si até faz algum sentido pois o cidadão dispõe durante mais tempo dos seus próprios recursos. Certamente. Mas o que deve ficar claro é que não se trata de aumento salarial nem de redução fiscal, mas tão-só de adiamento da cobrança fiscal. Que, por sinal, até é excessivamente alta. JAS@07-2025
NOVOS FRAGMENTOS (XVIII)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
PINTAR POEMAS
Bem sei que é mais difícil escrever poemas com riscos e cores do que pintar quadros com letras, com sinais. Mas também é possível. Mesmo assim, eu optei pela sinestesia, fazendo cooperar para um mesmo fim (tema) a poesia e a pintura. O Cesário Verde bem dizia “pinto quadros por letras, por sinais”. E pintava. E eu, como é natural, também tento fazê-lo, mas como tenho o recurso da pintura (digital) decidi avançar também com esta cooperação sinestésica entre a poesia e a pintura. Pode-se assim visualizar mais facilmente o que vai na cabeça do poeta-pintor. E o poema sai reforçado na sua tripla dimensão: semântica, musical e plástica. Uma espécie de projecção cromática do sentido que ajuda a iluminar o poema. Sentido, ritmo e melodia, luz e cor. A luz reforça o poder sensitivo da poesia, tal como acontece quando um poema é cantado. Música, luz e cor que se acrescentam à semântica das palavras.
CESÁRIO VERDE
É verdade, o grande Cesário pintava quadros por letras, por sinais:
“Pinto quadros por letras, por sinais, / Tão luminosos como os do Levante, Nas horas em que a calma é mais queimante,/ Na quadra em que o verão aperta mais”
E eu procuro sempre a sinestesia, mas também a procuro, como ele, dentro do poema. Apenas com palavras. Não só com a pintura, com as cores e os riscos, mas também com os sons, com a música interna do poema. Os versos curtos e, frequentemente, de uma só palavra ajudam a escrever melhor a pauta poética. Sim, um poema é para ser solfejado. As palavras como notas musicais. Não concebo mesmo a poesia sem essa componente fundamental da música, do ritmo e da melodia. O poema não deve ser somente um quadro com sentido e cor, também deve ser uma pauta musical. Até porque acho que é esta sua dimensão que lhe permite atingir melhor a sensibilidade e que lhe confere maior performatividade. E, sim, cada palavra conta mesmo muito e é necessário procurá-la sempre com muito cuidado e rigor, na sua tripla função semântica, plástica e sonora. Tudo no interior de um poema, independentemente da sinestesia, que é uma operação diferente. Às vezes, são dias à procura daquela palavra exacta. Exacta tanto por razões de semântica como por razões de cor e de sonoridade. Dói um pouco, tanta procura, mas o poeta nasceu para conviver com a dor… e para a converter em “doce melancolia” e em arte. Para a cantar.
“AGUARELA DE PALAVRAS”
No poema “Aguarela de Palavras”, poeta e pintor confundem-se. Mas talvez seja mesmo mais fácil pintar com palavras do que poetar com cores. Cooperando, em exercício sinestésico, tudo fica mais fácil, mesmo que o discurso seja delicado e difícil. O objectivo é sempre o de chegar à janela de onde ele julga que a musa o observa na sua caminhada poética. Todos os meios ajudam. A pergunta: aguarela de palavras ou palavras para uma aguarela? Aguarela onde seja visível o perfil da musa? Talvez. Na pintura “O Voo da Magnólia” (não da branca, mas da outra, a cor-de-rosa) a musa parece estar confundida com um botão de magnólia em voo. As musas frequentemente disfarçam-se de flores e de aromas, aparentemente prontas para serem colhidas ou inaladas para dentro de um poema. Libações sempre necessárias ao acto da criação. Daí a importância da sinestesia, podendo a cor de uma pintura ser inalada poeticamente. Depois, as musas retiram-se, deixando o poeta a braços com as palavras, que já só é o único modo de convivência com elas. Como se as palavras fossem rastos deixados pelas musas, sinais da sua passagem por ali e, quem sabe, endereços das suas moradas. Imaginem, pois, o pobre poeta a tentar constantemente mapear, com palavras, o caminho que pode levar até ela. Vida difícil. Vive num mundo de espelhos e de simulacros que tornam impossível um diálogo frontal. Se é que a musa existe e não é uma sua ilusão gerada por vivências intensas do passado. De qualquer modo, a musa só pode ser visualizada através do espelho de Athena, oferecido pela deusa ao poeta. Mas, paradoxalmente, é esta espécie de neblina existencial, este brilho reflectido no céu interior do poeta que torna a sua vida sedutora. As palavras são faróis que o ajudam a viajar na neblina existencial em que vive. Mas também precisa de um espelho retrovisor para impedir que choque directamente com o passado. Para ele, o espelho é muito importante porque lhe permite uma visão indirecta e evita o choque e a petrificação. Mesmo indo directamente à memória, o perigo é real. É sempre preferível usar o espelho. Não por acaso o poeta invoca frequentemente a deusa Athena.
SEGREDOS MAL GUARDADOS
Segredos decifrados num poema, mas que só podem ser entendidos se forem sentidos com a alma. Senti-los é a primeira etapa para a compreensão e a partilha. Nunca plenas, porque o poema é sempre maior do que a sensibilidade individual que o recebe e filtra interiormente. É maior até do que o poeta que o criou. O poeta vive em sobressalto criativo? Vive, sim, e é isso que o leva a poetar. Mistérios? Sim, são mistérios, mas também são segredos mal guardados. Ou não tivesse ele de os contar. O que lhe vale é a natureza do púlpito poético: ninguém sabe se o que diz é realidade ou ficção. Mesmo que pareça realidade ou que alguém diga que sabe bem ao que ele se refere. A verdade é que nem ele próprio sabe com exactidão porque a fronteira entre o poético e o real é um pouco indeterminada – está entre o eu e o mundo. É o tal intervalo de que falava o Pessoa. Ou melhor: isso nunca é totalmente claro para ele e é por isso que a poesia conserva sempre uma dimensão iniciática. Oracular. Há sempre no ar algum mistério que é necessário decifrar. Mas não importa o processo, porque o que importa é o resultado final. O desejo e as dores da criação ficam lá com ele, a moer. Não importam. O que importa é a decantação poética. Decantar poeticamente o real, para o poder consumir puro, e com sofreguidão, ou mesmo comê-lo, como queria a Natália Correia:
“Sou uma impudência a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó subalimentados do sonho! A poesia é para comer”.
E é isso que importa verdadeiramente.
ABRIGO
Talvez a poesia seja mais do que simples refúgio, pois a poesia permite aceder a um plano superior que não está inscrito no registo da sobrevivência, da banal fuga, da normal gestão do quotidiano. Talvez seja refúgio dourado. Melhor, “abrigo quente”. Sim, abrigo aquecido pelas palavras desenhadas sobre pauta e pintadas com as cores da vida que o olhar do poeta vai registando. Porto de abrigo das tempestades impetuosas da vida. É uma outra dimensão. Livre. Porta por onde entra a fantasia. O poeta é um sonhador, insatisfeito que anda com a pequenez da vida quotidiana. E, então, vive o sentimento de forma muito intensa, o que funciona como compensação pela pequenez da rotina, como diz o William Hazlitt.
CLAREIRAS
Eu considero que há clareiras na vida, como nas florestas. Elas impedem que os incêndios existenciais alastrem e destruam as árvores da vida. E há silêncio e até se ouve o bulício das folhas batidas pelo vento que nos sopra na alma. É por ali que andam os poetas. No coração da floresta. Chegaram lá depois de viverem na cidade, na metrópole, de caminharem no meio da multidão anónima, sendo arrastados e engolidos pelo anonimato. Perdidos na floresta da vida. Eles levam, por isso, uma memória cheia de episódios que só já nas clareiras da floresta conseguirão interpretar e compreender. Na solidão. Saem de si para a floresta para depois regressarem mais sábios… nas clareiras da vida. O Bernardo Soares falava mesmo de renúncia. Outros falam de retiro eremítico. Eu acho que o retiro do poeta é para o universo silencioso e solitário da memória, estimulado por recorrentes visitas à cidade, como não podia deixar de ser. A memória é a floresta. Ponto e contraponto. Um jogo entre o espaço e o tempo – entre a cidade e a memória. E o poeta, finalmente, situa-se entre uma e a outra. Num intervalo. Talvez as clareiras sejam esse intervalo silencioso que deixa falar a memória quando ele regressa da cidade.
“DORME ENQUANTO VELO”
Uma Amiga lembrou um passo do “Livro do Desassossego” que remete para o poema “Dorme enquanto velo”, escrito por Pessoa em 1912 e publicado em 1924. O passo é este: “ ‘Quero-te só para sonho’, dizem à mulher amada, em versos que lhe não enviam, os que não ousam dizer-lhe nada. Este ‘quero-te só para sonho’ é um verso de um velho poema meu. Registo a memória com um sorriso, e nem o sorriso comento” (Livro do Desassossego, Porto, Assírio&Alvim, 2015, p. 121). O velho poema é belo e reza assim:
“Dorme enquanto velo... Deixa-me sonhar... Nada em mim é risonho. Quero-te para sonho, Não para te amar. A tua carne calma É frio em meu querer. Os meus desejos são cansaços. Nem quero ter nos braços Meu sonho do teu ser. Dorme, dorme, dorme, Vaga em teu sorrir... Sonho-te tão atento Que o sonho é encantamento E eu sonho sem sentir.”
O real como matéria-prima somente para sonhar, para poetar, para palavrar? Sem sentir? Não acredito. Para ele, só servia para isso? Só a Ofélia poderia responder com propriedade. Quanto a mim, o poeta não a quer só para sonho, quere-a também para a amar. Mas ele é um fingidor. Ama, mas finge que não. Ama em palavras, sim, já que não pode amar-lhe o corpo. Mas ama. A verdade é que o Bernardo Soares não gostava de tocar o real sequer com as pontas dos dedos. Mas o Pessoa de vez em quando atirava-se mesmo à Ofélia. Nem que fosse num vão de escada. Para o Bernardo Soares, ter o corpo não representa a verdadeira posse. Só a arte a pode conseguir, porque com ela se possui a alma. Era assim para o Pessoa, mas era assim também para a Yourcenar. Eles tinham bem consciência da circularidade do prazer corporal. Uma espécie de redundância sem pontos de fuga para o infinito. Algo que, pelo contrário, é próprio da arte. O sonho é só encantamento que acontece sem sentimento? Eu creio que todo o sonho que é denso resulta de pulsões e libações. De um movimento anímico intenso. Só depois se torna mais espiritual do que anímico. Mas não sei se será assim. A resposta só pode ser dada em verso. JAS@07-2025
NOVO LIVRO EM FRAGMENTOS
"FRAGMENTOS – Para um Discurso sobre a Poesia" (S. João do Estoril, ACA Edições, 2025, pág.s 228)
João de Almeida Santos
LIVRO JÁ DISPONÍVEL
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL, para aquisição, o meu novo livro, FRAGMENTOS – Para um Discurso sobre a Poesia, publicado pela ACA Edições (S. João de Estoril, 2025, pág.s 228). O livro pode ser adquirido mediante envio de e-mail para a Editora: acazarujinha@gmail.com. Preço: 15€ (mais o valor relativo ao correio registado). A Editora indicará o IBAN e o valor final, solicitando o envio do comprovativo e a indicação da morada para onde deverá ser enviado o livro. A média de recepção do livro é de cerca de dois dias. Trata-se de uma edição limitada.
O LIVRO
Este livro contém 206 Fragmentos, uma Introdução e um Epílogo, com uma pequena bibliografia. São reflexões sobre a poesia, baseadas na minha experiência pessoal, enquanto poeta. Mantendo, há cerca de dez anos, uma publicação regular de poesia, aos domingos, no meu site (joaodealmeidasantos.com), é habitual receber, via Facebook, muitos comentários quer sobre os poemas quer sobre a pintura que os ilustra, em registo sinestésico. A todos respondo, mas aos comentários mais argumentados respondo habitualmente com reflexões que procuram valorizar e expandir o que é dito sobre o poema em causa. Uma parte destes diálogos já a publicara no meu livro de poesia (Poesia, Lisboa, Buy The Book, 2021, pp. 351-424), inclusivamente reproduzindo alguns dos comentários que considerei mais relevantes e articulados. E, todavia, neste livro que agora vem a lume omiti os comentários, tendo optado por publicar exclusivamente as minhas respostas, devidamente reescritas e desenvolvidas, de modo a poderem ser lidas autonomamente. Continuo, assim, com este livro, a preservar uma riquíssima dialéctica argumentativa acerca da minha produção poética, que vem acontecendo há muitos anos.
A TRADIÇÃO DOS LIVROS EM FRAGMENTOS
A tradição dos livros em fragmentos é muito antiga e muito bela. Há casos famosos, logo a começar pelo livro de Pascal, Pensées, ou pelo Livro dos Amigos, de Hofmannsthal. O Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, é também um belíssimo exemplo. O mesmo acontece com alguns livros de Friedrich Nietzsche. Nuns casos, a forma – livro em fragmentos – é decidida pelo próprio autor, noutros casos, deve-se a diversas circunstâncias e é da responsabilidade dos curadores e dos editores. Neste caso, a decisão foi minha e deve-se, como se compreende, à sua génese: o diálogo prolongado, ao longo do tempo, semana a semana, com os leitores da minha poesia. Deste diálogo nasceram 206 fragmentos, resultado do efeito que os comentários produziram sobre o poeta e, naturalmente, da inspiração do momento. Os poucos fragmentos de maior dimensão, que em média nem sequer ultrapassam as duas páginas, já resultam da sua reescrita para o livro, sendo certo que a sua primeira versão foi elaborada para o Facebook, espaço que não é apropriado para textos sequer de média dimensão. Há, pois, um longo processo temporal, mas regular, que está na génese deste livro e que determina a sua própria matriz.
AS RAZÕES DESTE LIVRO
Esta é, pois, a segunda fase de publicação de textos directamente suscitados pelos comentários dos leitores digitais da minha poesia, estando, de resto, já praticamente concluída a terceira fase, que resultará num outro livro com o título de “Novos Fragmentos”. Por agora, aqui fica um livro que para mim representou uma fase de escrita absolutamente livre, nem sujeita a exigências de intertextualidade nem aos critérios formais da academia. Apenas ao rigor da língua portuguesa, inscrito, todavia, num processo de libertação anímica que só a linguagem poética permite. Este livro, de certo modo, é, como se compreende, tributário dessa linguagem, acontecendo mesmo que, muitas vezes, mais parece tratar-se de poesia em forma de prosa do que de prosa sobre poesia. Era o Edgar Allan Poe que, na Poética (Lisboa, FCG, 2016, 2.ª Edição), Carta a B., dizia que os que melhor podem escrever sobre a poesia são os próprios poetas: “Tem-se dito que uma boa crítica a um poema pode ser escrita por alguém que não seja ele próprio poeta. Sinto que isto é falso, de acordo com a sua e a minha ideia de poesia – quanto menos poético for o crítico, menos justa será a crítica e vice-versa”. E talvez Poe tenha razão, porque são eles que a vivem e a sentem por dentro, antes de lhe darem forma através das palavras, na sua complexidade estilística (semântica, plástica e musical). E, se assim é, num livro como este não poderia deixar de acontecer uma forte contaminação de linguagens, onde a poética talvez tenha sido dominante. Mas, se assim for, o resultado terá sido muito mais interessante do que se assim não tivesse acontecido. Uma miscigenação onde a poesia resulte dominante tornará o livro muito mais próximo daquele que é o seu objectivo final – trazer directamente a poesia ao discurso, em prosa.
UM UPGRADE NA COMPREENSÃO DA MINHA POESIA
Para quem me vem acompanhando, aos domingos, enquanto leitor da minha poesia, mas também dos comentários e das respostas que sobre ela vão acontecendo, este livro não será totalmente novo, pois, como disse, ele retoma as minhas respostas aos comentários publicados no site. A parte nova reside nos desenvolvimentos e na autonomização a que submeti as minhas respostas, exclusivamente para este fim: a publicação de um livro sobre a poesia, em fragmentos. Na verdade, eles podem ser lidos autonomamente mesmo em relação aos comentários e aos poemas a que todos eles se referem. Um livro que se basta a si próprio e que é independente da sua própria génese. E, todavia, a sua leitura permitirá sem dúvida conhecer melhor as razões que me levam a poetar e o ambiente em que a minha poesia se inscreve.
UM AGRADECIMENTO MAIS DO QUE DEVIDO
Finalmente, um reconhecimento, mais do que devido, a todos os que sistematicamente vêm comentando a minha poesia e sem os quais nem sequer este livro teria nascido. Foram os seus comentários que me estimularam não só, como era devido, a responder, mas também a avançar para a escrita e para a publicação deste livro. Um livro que talvez represente para mim o prazer máximo da escrita, depois de um longo trajecto de publicações, mais ou menos complexas, difíceis e até dolorosas. Na verdade, neste, o prazer sobrelevou o dever de escrita de quem sempre fez dela o cerne da sua própria profissão ou mesmo da sua própria vida. JAS@07-2025
DEZ NOTAS SOBRE A ACTUALIDADE POLÍTICA
NACIONAL E INTERNACIONAL
Por João de Almeida Santos
SUMÁRIO I. A Eleição de José Luís Carneiro como Líder do PS II. As presidenciais III. O caso RTP IV.O PGR e a inversão
do ónus da prova. V. UK – Nigel Farage, o senhor que se segue? VI. Trump e a Espanha VII. O TC espanhol
e a Lei da Amnistia VIII. O “não, é não” de Montenegro e a Agenda de Ventura. IX. O Regresso do Caso Spinumviva X. Em suma
I. A ELEIÇÃO DE JOSÉ LUÍS CARNEIRO COMO LÍDER DO PS
1.
O PS foi a votos para a eleição do Secretário-Geral e, como se previa, a afluência de militantes eleitores foi fraca, se comparada com as eleições de 2023. Nas eleições de 2023, disputadas também elas em situação de urgência, com eleições legislativas daí a cerca de três meses, por Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião, a participação traduziu-se em 39.492 votos expressos, tendo Pedro Nuno Santos obtido 24.219 (61,3%), José Luís Carneiro 14.891 (37,7%) e Daniel Adrião 382 (cerca de 1%). Desta vez, a participação foi inferior a metade, com 18.263 votos de militantes eleitores, tendo o único candidato obtido 95,4% dos votos, ou seja, 17.434 votos, um total um pouco superior ao que obteve em 2023, ou seja, 2.543 votos.
2.
A ausência de competição explica, em parte, a fraca afluência, mas não explica tudo. A verdade é que também desta vez se tratou de eleições em situação de igual urgência às de 2023, pois as eleições autárquicas irão ocorrer também daqui a cerca de três meses (não tendo em consideração as presidenciais por serem eleições onde os partidos não estão directamente envolvidos). Não há, deste ponto de vista, diferença entre 2023 e 2025, pois em ambas ocorreram e ocorrem eleições cerca de três meses depois. Bem pelo contrário, as legislativas têm um peso político maior, por determinarem a formação do legislativo e do executivo do país, exigindo uma concentração de esforços que não se verifica nas eleições autárquicas, devido à sua numerosa disseminação pelo território nacional (308 municípios) e ao facto de tudo, no momento, já estar decidido. A diferença, essa sim, consiste em o PS estar na oposição e o PSD no governo, quando antes se verificava a situação inversa. E consiste também em ter eleições autárquicas em vez de eleições legislativas. Mas esta foi a decisão da direcção do partido: promover de imediato a eleição do secretário-geral, estando, como se sabe, já em pole position José Luís Carneiro. E assim foi, visto que não emergiu uma candidatura alternativa. Mas esta situação, a de eleições internas, devida à abrupta saída de Pedro Nuno Santos, e o penoso resultado das eleições legislativas poderiam ter suscitado um sobressalto político interno que, como em 2023, levasse ao aparecimento de candidaturas alternativas e a uma maior mobilização de um partido que já vive em permanente défice de mobilização e de participação. Não se tendo verificado esta situação, a mobilização do partido perante o conhecido descalabro eleitoral acabaria por não se verificar, tendo-se optado, na prática, por uma solução parecida com a de indicação de um “príncipe regente”, invocando a urgência do combate autárquico, exactamente ao contrário do que acontecera em 2023, apesar de as circunstâncias serem semelhantes. Nestas condições, nenhum ilustre militante se quis chegar à frente e o resultado foi este.
3.
Mas a verdade é que a ausência de disputa eleitoral interna pode ser um sinal de falta de vitalidade do partido, tendo também em consideração que a mesma situação está a acontecer generalizadamente também para os cargos intermédios, concelhias e distritais. Não tenho os números, apenas tenho uma impressão geral, mas gostaria de os conhecer: nas últimas eleições para as concelhias e para as distritais em quantos casos se verificou uma única candidatura? Qual foi a percentagem de candidaturas únicas em relação à totalidade das duas eleições (concelhias e distritais) e em que zonas do país isso aconteceu maioritariamente? Só o partido pode dar uma resposta. E a resposta será muito importante para se conhecer o estado de saúde do partido, agora não já em relação aos eleitores, mas em relação à própria militância. Porque é a questão da vida democrática interna que está em causa. Essa resposta dirá se é ou não necessário que a direcção do partido se concentre prioritariamente numa sua profunda reforma, envolvendo, valores, políticas, selecção de dirigentes e candidatos, a sua estrutura orgânica e a sua relação com a sociedade civil. Na moção do actual secretário-geral fala-se, de facto, de um debate para a “reconstrução do PS”, para uma mudança interna, inclusivamente ao nível de uma nova declaração de princípios, da sua orientação política geral e de “uma nova visão de país que faremos nascer”. O reconhecimento existe. E, por isso, veremos que passos irão ser dados, sem a recorrente desculpa de que há assuntos mais urgentes e prioritários a tratar. A verdade é que nenhuma solução poderá ser encontrada se não se começar pelo próprio partido.
II. AS PRESIDENCIAIS
Quanto às presidenciais, a telenovela prossegue com novos candidatos a perfilarem-se: o major-general Isidro de Morais Pereira, conhecido comentador de televisão (TVI, CNN, SIC), o prof. Augusto Santos Silva e o comunista António Filipe. Este último, não tendo conseguido ser eleito nas recentes legislativas (e era, creio, o número dois no círculo eleitoral de Lisboa), avança agora com o objectivo de ser eleito presidente – um candidato presencial, dizem alguns, com humor; Santos Silva, desgostado por António Vitorino, depois de uma longa reflexão, ter dito não, pela enésima vez, acabará por apresentar a própria candidatura (caso contrário, não se compreende o anúncio marcado para hoje) por reconhecer que António José Seguro não está à altura do cargo que aspira conquistar, mesmo tratando-se de uma personalidade que durante três anos foi líder do mesmo partido que permitiu a Santos Silva exercer os mais variados cargos na política institucional (deputado, ministro, presidente da AR); já quanto ao major-general, a candidatura talvez exprima o direito de uma outra arma das forças armadas, o exército, também se ver representada no processo eleitoral presidencial, ainda por cima por um expoente do exército com um sólido curriculum profissional (que fui confirmar). Alguém, com alguma graça, dizia que, antes de se propor como candidato, Augusto Santos Silva faria bem em fazer uma pequena sondagem sobre a sua pessoa no condomínio em que vive. Também acho que o devia fazer, depois de não ter conseguido ser eleito no circulo eleitoral fora da Europa, nas eleições de 2024, clamorosamente derrotado pelo candidato do CHEGA, o partido por ele, enquanto presidente do Parlamento, tão sistematicamente fustigado. Mas a procissão pode ainda não ter chegado ao fim, com outros candidatos a apresentarem-se pelas mais variadas razões. Tudo isto vem reforçar a ideia de que se deveria, logo que possível (mas só daqui a dez anos), avançar para a eleição do PR por um colégio eleitoral. É que nada disto faz sentido em relação a um cargo com tão poucas competências, excepto a de que pode, por pessoais idiossincrasias, desatar a dissolver o parlamento, repetindo o que o actual presidente fez por três vezes num só mandato… e com um final feliz (para o seu partido de origem).
III. O CASO RTP
1.
O que eu não compreendo é que o PS tenha tomado, como próprias, as dores do jornalista António José Teixeira, há dez anos no cargo de director-adjunto e director de informação da RTP, depois de uma outra passagem, como director de informação, pelo canal da concorrência SIC, onde foi director de informação durante cerca de 8 anos (SIC Notícias). Ainda por cima, o seu afastamento foi decidido por um Conselho de Administração presidido por Nicolau Santos, nomeado durante o consulado de António Costa, e na sequência de uma forte reestruturação da empresa, bem antes já anunciada, em fevereiro de 2024 (ainda era PM António Costa), no plano Estratégico da RTP, aprovado por unanimidade pelo CA e pelo Conselho Geral Independente (CGI). Veja-se, por exemplo, entre outros, o n.º 4.3, al. b) do documento “Linhas de Orientação Estratégica 2024-2026”, do CGI, de 08.02.2024: “repensar a estrutura organizativa e o organograma da empresa” (e o 4.6, al. d). Das razões do afastamento dá precisamente conta, e com clareza, o presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos, em artigo do dia 30.06, no jornal “Público”, poupando, assim, o deputado socialista Porfirio Silva à maçada de uma audição parlamentar do CA. Confesso que não entendo bem o que AJT represente para o PS, o mesmo que, quando foi para a SIC Notícias (creio que em Janeiro de 2008, mas não me lembro da sua situação profissional quando propôs o livro-entrevista ao PM), interrompeu um livro-entrevista que já estava a fazer com o PM, José Sócrates, invocando incompatibilidade com o novo cargo. Como se fazer um livro-entrevista a um primeiro-ministro em funções (e já iniciado) fosse incompatível com as funções de jornalista, interrompendo-o quando já tinham sido escritas muitas dezenas de páginas. Não vejo por que outro “código ético” (ou deontológico), diferente do código dos jornalistas, um director de informação se deva orientar e comportar. Bom, talvez, agora acomodado nas suas novas e nobres funções, já não se justificasse a maçada de concluir o livro.
2.
Na verdade, o que o PS deveria fazer era tomar-se de dores, isso sim, pelo estado calamitoso em que se encontra a informação em Portugal, designadamente pela inoperância daquela inutilidade a que deram o nome de ERC e que só serve para garantir ordenados aos que a integram. E também não falo do tabloidismo desbragado de todas as TVs, que põe o país em constante depressão informativa. Falo, sim, tão-só, da actual insuportável e gigantesca logorreia que cobre torrencialmente os factos políticos, tornando-os absolutamente irreconhecíveis pelo excesso de opinião que sobre eles desaba em todas as televisões, na sua maior parte emitida por gente pouco preparada e de curriculum duvidoso (para o efeito) ou por pistoleiros políticos, travestidos de jornalistas ou de analistas políticos. A qualidade da informação é absolutamente fundamental para a sanidade democrática. Mas não estou convencido de que a direcção informativa de AJT possa ser considerada como imprescindível para o efeito e muito menos que a sua substituição seja considerado crime de lesa-pátria ou de lesa-democracia. Sinceramente, o que acho é que uns valem os outros, havendo, naturalmente excepções, de que, no meu modesto parecer, ele não faz parte. A informação é um bem público precioso e deve ser tratado com delicadeza, competência e isenção, devendo até ser objecto de largos consensos, em nome da saúde da democracia e de respeito pela cidadania.
IV. O PGR E A INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA
1.
Verdadeiramente espantosa é a afirmação do senhor Procurador-Geral da República (cuja presença no cargo é de duvidosa legalidade) sobre alguém que vai a julgamento, ao dizer que esse será o momento para o imputado provar a sua inocência, invertendo, de uma penada, o ónus da prova: eu acuso-te disto e daquilo e tu é que tens de demonstrar que não há isto nem aquilo de que te acuso. Eu acuso-te, mas não tenho de provar a acusação; tu, sim, deves provar que és inocente. Se o direito está assim vou ali e já venho. Fui revisitar alguns documentos clássicos do direito onde está consignada a vetusta doutrina sobre o assunto (ónus da prova) e verifiquei que não subsistem dúvidas: é princípio geral do direito que quem acusa é que tem de provar e de que quem é acusado e nega não tem de provar a sua própria inocência.
2.
Vejamos:
2.1. – Princípio jurídico clássico: “Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat” (a obrigação de apresentar as provas diz respeito àquele que afirma, não àquele que nega). A inversão do ónus da prova constitui, por isso, uma evidente violação do princípio de presunção de inocência – princípio que, como se sabe, imputa à acusação pública o ónus da prova e não ao acusado o dever de demonstrar a própria inocência;
2.2 – no direito romano: affirmanti incumbit probatio (“a prova recai sobre quem afirma”);
2.3. – no Pandectas: «Probatio ei incumbit qui dicit, non qui negat»;
2.4. – no Corpus Iuris Civilis “Actor quod adseverat probare se non posse profitendo reum necessitate monstrandi contrarium non adstringit, cum per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit ( quem acusa, declarando não poder provar o que afirma, não pode obrigar o culpado a mostrar o contrário, porque, pela natureza das coisas, não há nenhuma obrigação de prova para aquele que nega o facto).
3.
Se antes, muito antes, já era assim, por maioria de razões, e atendendo aos progressos consignados nos documentos universais sobre os direitos fundamentais, deverá hoje também assim ser. Deveriam estar na mente dos que exercem a aplicação da justiça, pelo menos os seguintes artigos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: 1., 3.1.; 7.1.; 41.1.; 47. e 48. Nenhum Estado de Direito o é se os não respeitar escrupulosamente. Na verdade, ainda que haja tentativas de introduzir sub-repticiamente a inversão do ónus da prova para certos casos, a verdade é que ele é um princípio geral de direito, que deve ser sempre respeitado.
V. UK - NIGEL FARAGE, O SENHOR QUE SE SEGUE?
Depois da vitória nas eleições locais do Reino Unido, Nigel Farage e o seu Reform UK averbam vitórias significativas nas últimas sondagens (YouGov e Statista.com) ultrapassando (27% e 28%) os trabalhistas (22% e 23%), os conservadores (17% e 18%) e os liberal-democratas (15% e17%). A sondagem do YouGov dá 271 mandatos ao Reform UK contra 178 dos trabalhistas. Também no Reino Unido a direita radical avança a passos largos, confirmando agora, e depois do BREXIT, a tendência geral num dos poucos países onde os sociais-democratas/trabalhistas governam (o outro é Espanha, agora em sérias dificuldades devido aos casos de corrupção). A confirmar-se esta tendência no Reino Unido, a que se somou uma revolta de mais de cem deputados trabalhistas contra as políticas sociais que Keir Starmer pretendia (e pretende, mas agora de forma mais contida), a social-democracia europeia terá de fazer seriamente contas à vida, incluindo Portugal, onde o PS, pela primeira vez na sua história, passou para o terceiro lugar em mandatos no Parlamento. Alguma coisa de estrutural está a acontecer para que possa passar inobservada. É, pois, de saudar a iniciativa de José Luís Carneiro de encontrar, em Bruxelas, representantes de outros partidos do PSE e a própria IS (que mais parece estar moribunda). Talvez fosse também útil reunir-se com a Foundation for European Progressive Studies (FEPS), que tem sede em Bruxelas e que é dirigida pela portuguesa Maria João Rodrigues, incentivando-a a promover iniciativas de revitalização da social-democracia europeia e da própria Internacional Socialista.
VI. TRUMP E A ESPANHA
Há que reconhecer que é muito estranho que o presidente dos Estados Unidos ouse ameaçar um grande e soberano país por não aceitar a sua imposição sobre o investimento em defesa em percentagem do PIB (3.5/5.0%). Sánchez protagonizou um confronto com Donald Trump ao recusar investir em defesa o valor que os outros líderes europeus membros da Nato submissamente aceitaram. Sánchez foi muito claro, mesmo perante as ameaças de consequências económicas sobre Espanha devido a essa sua posição. A diferença de Sánchez relativamente aos outros países da NATO foi por ele bem marcada até no posicionamento físico na foto de família. Os espanhóis, pela voz de Sánchez, disseram a Trump que no seu país quem manda são eles e não o presidente dos Estados Unidos. O exacto contrário da atitude do senhor Mark Rutte, que mais pareceu ser um reles serventuário de Trump do que secretário-geral da NATO. Muitos já têm saudades do senhor Jens Stoltenberg, o anterior secretário-geral. Digam o que disserem, os líderes europeus não deram prova de grande verticalidade política perante um Trump altamente impositivo, arrogante ou até mesmo fanfarrão. Diz o povo que a subserviência não é o melhor método para alguém se fazer respeitar. A atitude em política conta tanto ou mais do que os resultados (improváveis) de médio prazo, quando Trump já não for presidente, substituído por um presidente mais respeitador da soberania dos outros Estados e mais cooperante, como acontecera até agora.
VII. O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPANHOL E A LEI DA AMNISTIA
O Tribunal constitucional espanhol confirmou (por seis votos contra quatro) a constitucionalidade da lei da amnistia sobre o procés da Catalunha. Uma decisão que vem dar razão a Sánchez e a consolidar o processo político desencadeado pelo líder do PSOE, que acabaria por fragilizar politicamente os movimentos independentistas, levando o PSOE catalão a primeiro partido político da Catalunha. Há, pois, que reconhecer que Sánchez conseguiu, pacificamente, pôr um travão a um processo muito perigoso para a unidade de Espanha. Processo onde o PP teve sérias responsabilidades quando enviou para o TC o estatuto da Catalunha (chumbado em 2010), negociado com sucesso pelo governo de Zapatero, em 2006. Isso tem de lhe ser reconhecido, mesmo pelos que não gostam dele, como Felipe González.
VIII. O “NÃO, É NÃO” DE MONTENEGRO E A AGENDA DE VENTURA
Se o que parece for, Luís Montenegro está a importar a passos largos a agenda política de André Ventura, não se lembrando de que, além de estar a trair substantivamente o seu “não, é não”, quando chegar o momento da verdade pode acontecer o que muitos dizem: os eleitores preferem sempre o original à cópia. Mas estranha é também a posição do PS ao propor-se como interlocutor privilegiado do PSD para o salvar do abraço de urso de André Ventura, salvando, assim, a democracia. Se há uma direita maioritária, e ao que parece já comprometida em matéria de partilha da agenda política, então que se entendam entre eles, pois o PS terá outra agenda para propor à cidadania. Ao colocar-se na posição de salvador da pátria democrática o que está a fazer é a subalternizar-se e a malbaratar a sua força como importante partido de oposição e pilar da democracia portuguesa.
IX. O REGRESSO DO CASO SPINUMVIVA
O caso Spinumviva voltou à boca de cena em virtude de Luís Montenegro ter interposto um recurso para o Constitucional de modo a evitar ter de enviar, nos termos da Lei 52/2019, provas do serviços prestados por aquela empresa (notícia no DN de 27.06). A quem olhar desapaixonadamente para o assunto a coisa parece não oferecer grandes dúvidas, independentemente do seu enquadramento judicial. Ele, sendo primeiro-ministro, não devia fazer o que fez, mantendo a empresa na família, na sua casa e com o seu número de telefone pessoal, e nos termos em que isso aconteceu (por exemplo, com avenças regulares). No momento oportuno, o assunto voltará a subir com estrondo à agenda pública. E até há um interessado à espreita: André Ventura. Talvez mais do que José Luís Carneiro. A ver vamos.
X. EM SUMA
Não vivemos tempos gloriosos neste ano de 2025. Tudo parece estar em causa, quer no plano nacional quer no plano internacional. Disso parece não haver dúvidas. E se assim for torna-se absolutamente necessário reflectir com profundidade sobre aquilo que é essencial. Isto não vai lá com as tradicionais categorias políticas nem com o clássico encolher de ombros pelos que só pensam na sua vidinha pessoal. É preciso um novo pensamento centrado nas principais fracturas que estão a determinar a vida das comunidades nacionais e a política internacional. Fazer política por inércia será o caminho certo para o fracasso e para abrir caminho a soluções indesejáveis, que já estão nos abater à porta com grande estrondo. JAS@07-2025
NOVOS FRAGMENTOS (XVII)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
O JARDIM
O JARDIM está mais lá no alto do que cá em baixo, na rua, na vida, nos tormentos, porque ele já faz parte do voo do poeta: a pista de descolagem, os perfumes para a libação e a propulsão, as flores para a poética polinização das almas sensíveis – tudo isso está lá, no jardim. No voo, o jardim também vai com o poeta, porque ele está inscrito na sua alma e na sua fantasia. O jardim é voo e é liberdade, nele não acontecem as agruras da vida. Nele, o poeta liberta-se delas. Ou da memória delas. Nele se processa a decantação da vida e da memória. No Jardim, o poeta embriaga-se com o acre perfume do jasmim. Entra em libações e, depois, em levitação. É, sim, um lugar de libações (aromáticas). Depois, acontece o voo propriamente dito, ou seja, o movimento apolíneo. O jardim, que está no vale, também está lá, na montanha. E este é já um terreno de liberdade e de fantasia. Quando o poeta parte, é dali. A partida poética. Como poderia, de outro modo, desenvolver o processo de polinização das almas sem o jardim, sem o pólen que as suas flores lhe fornecem e que ele leva no voo? No pólen vai todo o jardim. Polinização integral. Dali parte e ali regressa. Melhor: parte sem sair de lá. E como poetar sem o loureiro matricial, o do enlace, o que deu uvas no “momento oportuno”? Impossível. Seria como cortar a raiz ao poema. Que é como quem a corta também ao pensamento. E como voar sem o poderoso combustível do jasmim? Não haveria propulsão. Não há poesia sem libações. Ou, ainda, sem esse espanto, sempre recorrente, que a magnólia branca lhe provoca no mês em que começa a primavera, mês propício para a poesia. Magnólia que representa o intervalo entre o inverno e a primavera – flores que são farrapos de neve transfigurada pela primavera que desponta. Um casamento feliz que faz nascer a magnólia branca. Ali nasceu (como poeta), ali vai vivendo e compondo, mesmo quando não está lá, fisicamente. Ali nasceu e ali regressa sempre. É um auspicioso desafio continuar os voos com as palavras de que dispõe para que seja possível continuar a celebração poética dominical. A que permite dar asas à intimidade, sem a ofender. Bem pelo contrário. A intimidade oferece-se ao voo revestida por um fino véu translúcido, não se revelando integralmente, mas deixando ver o perfil.
REFLEXO
O poeta olha para um retrato – poderia ser “O Retrato” (2022), um quadro seu – e entra num monólogo (dialogado, mas sem interacção) sobre a musa e sobre o modo como a vê e como a sente. E tem saudades dos encontros (poéticos e plásticos) na praia da meia-lua, a pequena praia que gosta de visitar e onde imagina/deseja um (re)encontro ao luar. O poeta revive assim as suas fantasias como se elas fossem a outra face da sua vida, depois de a realidade o ter atropelado quando caminhava tranquilamente pela rua do desejo, a que também chama “do desencontro”. E assim vai sobrevivendo em estado de encantamento, o único que não pode ser interrompido por uma vontade alheia ao seu próprio discurso do desejo. O seu é um encantamento puramente interior. Resulta de uma luz que se lhe acende na alma, activada pela memória em certos momentos. “O Retrato” é simplesmente o reflexo transfigurado do que lhe reside na alma e da luz que se lhe acendeu lá dentro.
A FESTA DA SAUDADE
A festa da saudade é festa de vida vivida intensamente. Ter saudades da vida vivida ou, ainda mais, da que se ficou pelo desejo… não cumprido, mas vivido como expectativa. Cantar a saudade é cantar a vida e revivê-la em palavras com o poder de atingir a sensibilidade, a própria e a dos que fruem o canto. E talvez a da musa, não sei. E isto é poesia. E nisto consiste a sua forte performatividade. Sim, a festa da saudade também é festa da vida, da que ficou registada na memória como acção ou como desejo que não se cumpriu. Ter saudades desse tempo dos desejos intensos… e revivê-los com palavras em modo poético também é viver. Viver, revivendo, convertendo o passado em futuro. Partilhá-lo para que outros o sintam com intensidade equivalente. O desafio da poesia é mesmo esse.
VIAJAR POR DENTRO DO POEMA
Gosto das viagens por dentro dos poemas que habitualmente faz um companheiro de liturgia poética. Elas animam o poema, dão-lhe vida. Neste caso, o leitor não se limita a fruir, entra diretamente no poema, fá-lo seu. É, pois, mais do que leitor e até do que comentador – é parceiro de caminhada. Às vezes, caminhando, interroga o poeta, outras vezes dá-lhe pistas sobre o percurso poético. Não é, pois, uma visão externa do poema, é uma incursão nele. É como entrar no palco durante uma representação em curso. Tornar-se também actor. E isso significa expandir por dentro o próprio poema e as personagens que o povoam. É por isso que eu gosto destas suas habituais incursões pelos poemas, como se eles, uma vez publicados, ficassem um pouco suspensos a aguardar a chegada de um novo personagem da narrativa… para a concluir.
TRANSFIGURAÇÃO ONÍRICA
Os poetas transformam os sonhos em realidade e, depois, partilham-na. Sim, os sonhos fazem parte da vida, são a sua componente onírica. O Calderón de la Barca dizia que “la vida es sueño”, pela boca de Segismundo:
“Yo sueño que estoy aquí, destas prisiones cargado; y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.”
(Calderón de la Barca, La Vida
es Sueño, Acto II, Cena XIX)
A poesia torna os sonhos visíveis, trá-los à consciência numa linguagem também ela moderadamente cifrada. Por isso, os poetas são amigos dos sonhos. Poetar é sonhar, é dar forma ao desejo e partilhá-lo, tornando-o, assim, real. A toada e a melodia ajudam à performatividade da poesia, porque são elas que mais directamente atingem a sensibilidade. “Quem não tem real caça com poesia”, dizia, ironicamente, o poeta, glosando o velho ditado. O poeta não o tem, mas tentou (tenta sempre) e deu-se mal. Mas, neste processo, o poeta nunca regressa a si, vindo do real propriamente dito, porque, afinal, ele já reside numa zona especial. Ficou lá desde que lhe aconteceu ser poeta. Mesmo quando sai, nunca abandona essa sua condição. A poesia representa uma espécie de estado intermédio entre o real e a fantasia – tem elementos de ambos. É transfiguração onírica do real ou conversão semântica do sonho. Com a intensidade afectiva ele pode compensar a falta de real, do que se lhe negou ou do pouco que teve. Além disso, o poeta também não está sujeito ao tempo cronológico porque habita um tempo que é passado, presente e futuro. Ou até absoluto: o “kairós”, o instante oportuno. Além disso, o sonho da poesia não é puramente subjectivo e latente: é universal-subjectivo (para usar o conceito de Kant na “Crítica do Juízo”) e manifesto, sendo comunicado com uma linguagem cifrada, parecida, sim, com a do sonho, mas mais descodificável e comunicável. Ele é accionado por um dispositivo que todos têm (intelecto e imaginação), embora em graus diferentes. Por isso, nele, os poetas sentem-se realizados pelo quase ajuste de contas com a realidade que lhes falhou, não importa por culpa de quem. A poesia é a continuação do sonho por outros meios na dialéctica da vida.
ANDORINHAS
É verdade, não foi nada fácil escrever um poema sobre as andorinhas. Mas tinha de ser. Elas andavam mesmo por ali, em torno do ninho em construção. Um poema em torno delas que, por sua vez, andavam em torno do ninho. Talvez o poema tenha sido mais difícil do que a construção do ninho pelas andorinhas, lá no terraço. Elas são obreiras extraordinárias, incansáveis, rápidas e perfeitas. Não acendia a luz (o ninho foi construído sobre ela) e não ia ao terraço para não incomodar. Seguia tudo do outro lado, por dentro. A construção era perfeita. Quando pintei o quadro ilustrativo ainda o ninho ia a meio. Depois, só ficou um buraquinho para elas entrarem. Tal era o cuidado com a segurança e com a temperatura do ambiente em que as crias cresceriam. Uma azáfama. Alguém me disse que talvez o Fernando Pessoa não tenha experimentado essa vivência. Ele era um citadino, é verdade. Não dava pelas andorinhas? Não sei. Mas sei que ele as invocava:
“Andorinha que vais alta, Porque não me vens trazer Qualquer coisa que me falta E que te não sei dizer?” (Fernando Pessoa em Quadras ao Gosto Popular)
Vivia a cidade como um estrangeiro que nunca sai da sua própria terra, mesmo quando visita outras? Talvez. Era como se elas fossem galerias de arte? Sim, pelo menos para o Bernardo Soares. Visitava a vida como quem visita uma galeria de arte. O seu era, pois, outro mundo e ele observava a cidade desde fora, como se observa um quadro, uma pintura. E a natureza também. Mas havia o outro, o Guardador de Rebanhos, diferente. O Alberto Caeiro. Tenho a vaga ideia de que esse talvez desse conta das andorinhas. Talvez. Mas ainda hei-de explorar com mais atenção esse terreno habitado pelo Caeiro, com o olhar sempre atento nas andorinhas. Entretanto, não resisti e sobrevoei-lhe a Obra Completa (Lisboa, Tinta-da-China, 2016) à procura das andorinhas e não as encontrei. Mas uma coisa é certa, ele gostava das aves:
“a ave passa e esquece, e assim deve ser”; (...) “passa, ave, passa, e ensina-me a passar” (Alberto Caeiro, em O Guardador
de Rebanhos, XLIII).
Será isso que lhe falta, ao Pessoa? Aprender, com as aves, a esquecer?
O NINHO
Foi uma surpresa, o ninho. E onde elas o foram construir! E a perfeição! E a azáfama! E a argamassa e, depois, os restos no chão do terraço, talvez de um “colchão” em construção, onde deitar as crias! A vida em construção. Podia lá eu passar por isto sem escrever um poema e pintar um quadro? Impossível. E não foi fácil, ainda que tenha uma poética ou um modelo que ajuda sempre. Uma semana a observar, a escrever e a pintar. E feliz por ver o renascer da natureza e a sua própria inteligência em acção. O ninho é perfeito, belo. Mas no jardim há mais ninhos. No loureiro, esse mágico arbusto cantado também pelo Hölderlin, Der Lorbeer:
“Agradeço-te! Da desconversa da gente Me salvaste, confidente solidão! Para que eu cante o loureiro, ardentemente, / A quem já entreguei meu coração.” (Hölderlin, Todos os Poemas, Porto, Assírio & Alvim, 2021, p. 73).
O loureiro é um autêntico parque de campismo, com as tendas montadas enquanto a vida não se autonomiza e parte em voo. É por isso que não o podarei nos próximos dias. Também encontrei um intenso aroma de jasmim. Quase embriagava. À noite era mais intenso. E o Jardim é uma “selva”, mas toda ela bem ordenada e cuidada pela Teresina. Flores, arbustos, latada, relva. Pequeno, mas intenso. E o loureiro, que está enorme e que vou ter mesmo de podar, embora não já, devido aos ninhos. Haverá queixas, quando o fizer, mas tem de ser. Já pedi ao meu Amigo Caldinho para o fazer. Entretanto, vou pouco ao terraço para não incomodar e preocupar as andorinhas. Não tarda, a passarada partirá lá para o alto, do terraço e do loureiro, deixando as casas abandonadas. Se pudesse alugava-as a outros pássaros. Preço? Uns chilreios e autorização para poder ir ao terraço e subir ao loureiro as vezes que eu quisesse. Não seria pedir muito. Mas não sei qual seria a reacção das andorinhas e dos outros pássaros se passassem por ali, de novo, e vissem as casas (ou as tendas) ocupadas. Não iam gostar e até poderia vir a ter um processo no tribunal da passarada. E a ter de responder em verso com rima. Não sei ainda o que farei quando entregarem as casas ou as tendas. Na verdade, os ninhos das andorinhas são mais casas (porque são feitos de argamassa) do que os ninhos do loureiro, que são mais tendas (porque são feitos de palhuço). Mas logo vejo o que farei.
ESTAR SEMPRE DE PARTIDA
As andorinhas em permanente migração, a leveza do voo, a beleza – a olhar para elas também nós sentimos essa leveza e partimos com a imaginação. O poeta também está sempre de partida e procura a leveza das andorinhas para poder voar. Os poetas são como as aves migratórias.
EM BUSCA DO ABSOLUTO
O poeta tem muito de andorinha. Anda sempre a fazer ninhos. E voa e esvoaça. E migra para Neverland. Vai lá ao passado tanto como ao futuro, sem sair de onde está. A sua argamassa são as palavras. Com elas constrói ninhos e desova, chocando-as para criar vida. Nos ninhos poéticos que vai construindo. E cada ninho pode mesmo valer como se não houvesse mais, sobretudo quando tenta pôr todo o mundo e toda a vida num só poema, num só ninho. Coisa recorrente. Em busca do absoluto. No acto da criação não há mais, só ele e o seu mundo. Só ele e o seu ninho. A poesia tem algo de absoluto. É como o tempo (na poesia), comprime-o no instante criativo. “Kairós” ou mesmo “eksaíphnês”, tempo oportuno ou raio temporal instantâneo que atravessa a fantasia do poeta e o põe em êxtase (poético). Instante criativo que esgota o tempo e o mundo. Durante uma semana nada mais vi e senti do que andorinhas. O mundo era, todo ele, um ninho de andorinhas que chocavam palavras para a criação de poemas para o voo, com o vento que haveria de passar. Os poemas têm de voar para terem vida. Os poemas são como as andorinhas. JAS@06-2025
O PS NA MOÇÃO DO FUTURO LÍDER,
JOSÉ LUÍS CARNEIRO
Vinte e Cinco Observações
João de Almeida Santos
1.
A MOÇÃO, na página nove, diz o seguinte: “Com este documento de estratégia política, a nova liderança do PS lançará um processo alargado de discussão e reconstrução do PS, não condicionando à partida os resultados que tal processo poderá alcançar. Essa discussão, aliás, já começou”. Onde, não sei. Ainda não dei conta. Mas eu, que já ando nestas discussões há muito tempo, aqui estou mais uma vez. A ver se alguém lê e se interessa pelo que digo. Não terá grande importância, mas sempre é um contributo. E compreendo que se abra um processo, até porque ele se está a tornar cada vez mais necessário. Mas, mesmo assim, não consigo alcançar o sentido do que se diz noutra parte do documento (um documento de candidatura a líder, note-se), a saber: “o presente documento de orientação política, que enquadra e sustenta a candidatura a Secretário-Geral do Partido Socialista, não se deve confundir com a Orientação Política do PS a aprovar, nem com a nova Declaração de Princípios a concretizar e, muito menos, com a nova visão de país que faremos nascer”. Compreendo, porque se aqui estivesse já tudo dito não seria preciso abrir o debate. Da discussão nascerá a luz. Sem dúvida. E, todavia, se não deve haver confusões entre o que diz o futuro líder e a luz que se acenderá no futuro, a pergunta é óbvia: que valor tem o documento que suporta a sua eleição? Até porque é o próprio que diz que este documento não deverá ser considerado (ou confundido) quer como orientação política quer como declaração de princípios do PS ou mesmo como uma ideia para o país. Mas, pergunto, ele não representa a visão do futuro líder do PS e não anuncia o que esse líder quer para o partido e para o país? Isso nada conta nem vale? O novo líder vai para lá como uma folha em branco que, depois, será escrita pelo colectivo? Que valor terá, então, a liderança? Não estaremos nós a eleger um líder pelo que ele pensa e propõe como sendo o melhor para o PS e para o país? Lidera fisicamente, mas não lidera nas ideias? Estranho! Não há alternativa, bem sei, mas o candidato deveria agir como se houvesse. Ou estamos mesmo a eleger, em tempos de hiperpersonalização da política, somente um secretário, um coordenador, uma espécie de notário que tomará boa nota de quanto, nos próximos anos, o colectivo decidirá, eventualmente até nem tomando em consideração as próprias ideias de quem elegeu como líder? Mas que liderança será esta que se recusa a apontar o caminho que considera ser o melhor, sendo, mesmo assim, votado como líder? Não entendo. A não ser que, atendendo ao histórico, tudo isto não passe de conversa para cumprir calendário. Até lá, à grande reforma, quais serão as ideias que deverão ser tomadas em consideração e que rumo seguirá um PS em crise e com as ideias suspensas, já que estas ou não são para tomar em consideração ou são apenas provisórias? É tudo provisório, incluindo o próprio líder apenas eleito? Se as ideias com que o candidato se apresenta a votos são estas, elas deveriam valer como bússola política e ideal do PS enquanto for líder, agora e no futuro. Até porque a política não pára para aguardar tranquilamente o produto de uma reflexão colectiva que poderá nem sequer vir a acontecer, como se viu no caso de Pedro Nuno Santos. Numa crise, o que se quer é um líder que a enfrente com ideias, o que parece não ser o caso, até pelo teor do documento que apresenta. E nem sequer é verdade que José Luís Carneiro venha completar o mandato de Pedro Nuno Santos, como julgo ter dito Miguel Prata Roque. Se assim fosse ele deveria governar provisoriamente o partido com as ideias daquele, o que não é o caso. Mas bem o entendo – não havendo disputa é como se não se trate de uma verdadeira eleição, mas de uma espécie de nomeação administrativa. De certo modo, a moção sobre a qual, a seguir, desenvolverei 24 considerações até parece justificar essa ideia de interregno não só pela advertência que referi, mas também pelo pouco que diz. Mas, mesmo assim, vejamos mais de perto.
2.
O desenvolvimento tecnológico, diz-se no documento, coloca-nos novas exigências. Certo. Mas deveria dizer-se também, e não se diz, que ele nos coloca novas e grandes oportunidades, assim as saibamos agarrar. Digo isto não por acaso, mas porque hoje a crítica às TICs, sobretudo às redes sociais e às grandes plataformas digitais, é muito forte, passando por cima do que elas podem representar efectivamente como oportunidade, como “tecnologias da libertação”, como no início eram conhecidas, e como fortíssimo desafio aos media convencionais e à sua aliança tácita com o poder, como a sua outra face. São conhecidos os desvios supervenientes, bem sei, mas eles não cancelam as oportunidades que elas podem favorecer (analiso longamente este aspecto no meu recente livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo, S. João do Estoril, ACA Edições, 2024). Lembro que a generalidade dos cidadãos anda com um pequeno computador no bolso, tendo, assim, acesso ilimitado a informação (e não só a desinformação).
3.
Fala-se de uma maioria absoluta “abruptamente interrompida” em 2023 por, como se sabe, o PR ter decidido convocar eleições (e não era constitucionalmente obrigatório) na sequência da apressada demissão do PM António Costa. Sim, é verdade, mas talvez se devesse dizer, e já, algo sobre isso: de quem foi a culpa, quais os intervenientes activos e passivos na operação, se houve e quem foi o arquitecto e as consequências desastrosas que teve para o PS e para o país. Mas não se diz. Apenas que foi “abruptamente interrompida”. A posição do PS nessa altura (a sua mansinha submissão ao diktat do PR) também deveria ser objecto de uma profunda reflexão. O que não acontece e provavelmente nunca acontecerá. Mas a verdade é que esta derrocada começou aí.
4.
Como já disse, anuncia-se um grande debate a seguir à eleição do líder e eu pergunto se não seria esta, precisamente esta eleição, a boa ocasião para debater alternativas e pessoas. E também pergunto se só agora é que os protagonistas que por lá andam há tanto tempo se deram conta de que, agora, é mesmo necessário reflectir. Já, sem deixarem a reflexão para as calendas gregas, ficando-se pelo anúncio ou promovendo um debate artificial, como aqueles a que temos vindo a assistir. Sem consequências dignas de registo, sempre à espera de melhores dias. Mas mais vale tarde do que nunca, ainda que ele aconteça por pressão de circunstâncias negativas. Mas vamos a isso.
5.
Diz-se que a crise também está “inserida num quadro de significativa contração dos partidos socialistas democráticos, sociais-democratas e trabalhistas, no conjunto das democracias ocidentais”. Mas a verdade é que a crise não é de agora, há muito que se anuncia e verifica e muitos são os que têm vindo a alertar para isso. Eu fi-lo muito recentemente, e de forma muito detalhada, no livro que acima referi e em inúmeros artigos de fundo neste site. E, já agora, também me ocorre lembrar que talvez tivesse sido oportuno reflectir sobre a crise, em 2015, quando o PS de António Costa nem sequer obteve aquele “poucochinho” de António José Seguro, perdendo as eleições, a seguir a quatro anos de austeridade severa, com a troika cá dentro a vigiar o cumprimento (reforçado) do memorando pelo PSD de Passos Coelho (e note-se que, segundo o banco de Portugal, a dívida pública em 2010 ficou em cerca de 100% do PIB, acabando, em 2015, por se fixar em cerca de 131% do PIB). Não foi um fortíssimo sinal para ser interpretado? Não discuto a justeza constitucional e democrática da solução, mas talvez tivesse sido um bom momento para reflectir sobre o assunto, isto é, sobre a derrota, em vez de os holofotes terem ficado virados exclusivamente para a inédita experiência da “geringonça”, que haveria de levar, como veremos no ponto 15, a um desinvestimento público incompreensível.
6.
Fala-se de “novas formas de fazer política, novos protagonistas e novas respostas para os problemas do nosso tempo”. É para levar a sério? Vêm aí novos protagonistas e uma nova política, com este unanimismo (por assim dizer) na eleição de um líder que foi secretário-geral adjunto de António Costa? Nada a objectar, mas será necessária mais coragem do que tacticismo para o empreendimento. Eu quero acreditar, mas já estou um pouco como S. Tomé.
7.
Usa-se a expressão a “desinformação alastra”, talvez aludindo às redes sociais (é o que está a dar), como se a desinformação não existisse há muito tempo nos meios de informação convencionais e os boatos fossem coisa de agora. Por exemplo, ela hoje existe em doses cavalares (perdoe-se-me a expressão) sob a forma de comentariado televisivo. Algo que se está a revelar profundamente tóxico e intoxicante, mas de que ninguém se queixa e se escandaliza. Os factos relatados nessas mesmas plataformas informativas já pouco significam, envolvidos que logo ficam por intermináveis aluviões opinativos. São estes os personagens que hoje modelam e estruturam a opinião pública, os novos ideólogos, os “fast thinkers” do pensamento “prêt-à-porter”, graças ao enorme poder do púlpito televisivo (que é superior ao que muitos pensam, como tive ocasião de demonstrar no meu livro Media e Poder, Lisboa, Vega, 2012).
8.
Também se usa uma curiosa expressão para referir o problema da habitação: “iniquidade no acesso à habitação”. Traduzo: injustiça no acesso à habitação. Mas a minha pergunta é a seguinte: a habitação é um bem público que deve ser redistribuído? Qual é a responsabilidade de cada um de nós (e designadamente das famílias) na criação de condições para termos acesso a uma casa para habitar, comprada ou arrendada? Fala-se de “um grande projecto de construção e reabilitação de habitação”, ou seja, de um grande projecto de construção civil – tem o Estado vocação para isso? Não será, pelo contrário, a expansão do mercado de arrendamento a solução para este problema, podendo o Estado, para isso, tomar medidas fiscais, financeiras e procedimentais radicais? Por exemplo, abdicando de impostos? A solução não será de certeza a oferta pública de casas para arrendamento, com o Estado (incluídas as Câmaras) como senhorio, pois já se sabe como irá a acabar, atendendo ao histórico do Estado como administrador. Aliás, um dos grandes problemas do nosso país é precisamente a eficácia no funcionamento do Estado, designadamente na gestão dos bens públicos (só funciona bem na cobrança de impostos). Isto para não falar do enorme montante das dívidas de rendas, ainda por cima bastante baixas, às câmaras municipais (a crer no que se lê nos jornais e no que dizem os autarcas), que se vêem sempre impedidas de as cobrar ou de promover justos despejos pelo alarme social que causam.
9.
Fala-se, e bem, das “posições políticas iliberais e autoritárias”. Certo, mas elas são devidas a quê? É preciso ser claro sobre as causas dos movimentos iliberais e autoritários. Elas devem-se à natureza maléfica do ser humano ou a políticas erradas próprias do centro-esquerda e do centro-direita que nos têm governado? Não se estará a verificar uma saturação da “middle class” relativamente às políticas do bloco central? Isso não se vê no crescimento dos movimentos não partidários nas eleições autárquicas, mesmo com uma legislação inibidora? Isso não se vê no crescimento do CHEGA? Isso não se vê na diminuição eleitoral do bloco central, hoje já pouco superior a 50% do eleitorado (54,6%), quando antes era muito superior ao valor de uma maioria qualificada? Limitar-se a apontar o dedo ao inimigo que vem aí ou que já cá está em território democrático, fazendo disso a orientação política principal (um antifascismo restaurado) para reorganizar as tropas de defesa do território democrático ameaçado, tem como resultado cobrir os erros e continuar a persistir neles, contribuindo, deste modo, para o crescimento desses movimentos ou partidos. Um exemplo recente: não será (animados pela onda identitária) fustigando-nos com o esclavagismo pretérito (abolido há séculos, embora haja sempre a possibilidade de reinventar um neoesclavagismo fundamentado numa qualquer “epistemologia do sul”), e seguindo as pisadas daquela activista brasileira, uma tal Bia Ferreira, que atribui as culpas dos actuais problemas do Brasil ao colonialismo português (“a gente paga essa conta até hoje”, no Expresso, em 2022), que reconheceremos as culpas e os erros que são mais próximos no tempo e as causas efectivas do crescimento destes movimentos iliberais e autoritários. Bem pelo contrário, é deitar gasolina no fogo, como já se está a ver.
10.
O documento diz que é preciso “fazer renascer a ética na política”. E, acrescento eu, sobretudo a ética pública. Não poderia estar mais de acordo. Por isso, incentivo daqui o novo líder a começar pelo próprio partido, afastando (no âmbito dos seus poderes estatutários, claro) dos cargos dirigentes e de candidaturas institucionais os muitos que por lá andam simplesmente para tratar da vidinha (não servindo, mas servindo-se, para usar as palavras de António José Seguro), borrifando-se para a ética pública e para o interesse geral. Uma sugestão: começar logo pelos que andam por lá há décadas sem que se lhes conheça obra digna de registo (não será muito difícil identificá-los). Ou outros de quem se lhes não conhece profissão: “não tens profissão? Vai aprender a fazer alguma coisa na vida e, depois, aparece” (também não será difícil identificá-los). Alguns até já se dão ao luxo de escolher os cargos mais seguros e estáveis, não querendo arriscar outros desafios menos seguros. Outros, ainda, fazem-se eleger em legislativas, para, dois meses depois, abandonarem os mandatos que lhes foram confiados para se candidatarem a eleições mais interessantes e melhor remuneradas (as europeias, por exemplo). Ou os que se habituam a ter motorista e saltitam de câmara em câmara quando já não se podem candidatar a uma delas. Ou a incompreensível acumulação de cargos numa só pessoa como se num grande partido como o PS não houvesse pessoas qualificadas para além dos mesmos de sempre. São exemplos que quem conhece a realidade partidária certamente já pôde testemunhar. Portanto, sim, “fazer renascer a ética na política” e começar por algum lado.
11.
Para “este trabalho exigente”, diz-se no documento, “o PS tem de abrir as suas portas”. Claro, a começar logo por dentro, pelas portas do interior do edifício, em relação aos próprios militantes, em vez de manter uma insuportável endogamia que afasta o partido da sociedade civil e até dos seus próprios militantes e simpatizantes. Bem sei que há a chamada lei de ferro das oligarquias partidárias, de que falava o Robert Michels, mas isso pode ser superado. Assim haja vontade e imaginação organizativa.
12.
Não entendi bem a seguinte formulação do documento sobre o Estado: “A organização do Estado, seja na Administração Central, inclusive desconcentrada, seja na Administração Local, passando pelos mecanismos regionais e supramunicipais, carece de legitimação democrática” – que, depois, introduz a necessidade de uma reforma da lei eleitoral, em particular da lei eleitoral autárquica. Na verdade, quer nas CCDRs quer nas entidades intermunicipais temos processos electivos (colégios eleitorais: um, para a eleição das Assembleias das CIMs; o outro, para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente). Portanto, não é bem (num país tão pequeno como o nosso) de uma questão de legitimidade que se trata, mas do bom funcionamento quer do governo central e das suas estruturas quer do governo local, incluindo, neste caso, também o reforço das competências das assembleias municipais e a formação de executivos homogéneos e, eventualmente, o aperfeiçoamento das CIMs. Mesmo assim, congratulo-me pela proposta, que, de resto, eu próprio aqui fiz e fundamentei, recentemente, no meu artigo “Três Propostas – Para a Legislatura” (link: https://joaodealmeidasantos.com/2025/05/28/artigo-205/); como, de resto, e ainda que a formulação seja menos explícita, me congratulo pela exploração da revisão constitucional de 1997 com vista a uma aproximação entre eleitos e eleitores, certamente através da criação de círculos eleitorais uninominais, proposta que no meu artigo acima referido também avancei e fundamentei. Esta última mudança teria profundos efeitos a montante, sobre os próprios partidos e sobre a selecção dos candidatos a deputados e, em geral, dos dirigentes políticos.
13.
Já agora, e independentemente da posição sobre a reforma constitucional (que não é um bicho de sete cabeças, pois já esteve em apreciação recentemente, tendo sido interrompida por mais uma convocação de eleições), por que razão não se põe a hipótese da eleição do PR por um colégio eleitoral (e esta foi a terceira proposta que fiz) mais amplo do que a Assembleia da República (poderia ser constituído também pelos presidentes das CCDRs, das comunidades intermunicipais – da assembleia e do executivo -, pelos presidentes dos principais órgãos superiores do Estado – supremo tribunal, tribunal constitucional, tribunal de contas -, pelos presidentes dos governos regionais e das assembleias regionais, etc. etc.). Assim se evitaria esta longa e quase insuportável procissão presidencial e garantiria uma escolha que não espelharia necessariamente a composição política do parlamento e que podia ser consensualizada sobre uma personalidade responsável, respeitável e democrática para um cargo cujas funções são exíguas, desde que não se desate (como fez o actual PR) a convocar eleições por dá cá aquela palha ou, pior ainda, para que o seu partido de origem alcance rapidamente o poder (e alcançou).
14.
Já quanto ao Pacto Portugal Futuro para 2050, talvez fosse mais aconselhável fazer, sim, um diagnóstico sobre o que já está a acontecer (e é muito), em vez de olhar para tão longe, até porque a velocidade a que hoje se processa a política e a história é muito rápida, tornando obsoletos projectos políticos excessivamente dilatados no tempo. E isso acontecerá sobretudo se estes projectos passarem inadvertidamente sobre as profundas mudanças que já estão a ocorrer. É olhar para o que tem acontecido nos USA pós-Obama (faz lembrar a maioria absoluta de Costa e a catástrofe que se lhe seguiu) ou para a evolução rapidíssima da inteligência artificial. Do que se precisa é de uma autêntica cartografia cognitiva (Jameson), de uma declaração de princípios com ela alinhada e de uma forma organizacional do partido eficiente, democrática, selectiva e participada, que seja mais, muito mais, de que uma mera marca (ainda que prestigiada) para fins eleitorais e do que deles pode resultar (financiamento e cargos no vasto aparelho de Estado). Um partido de esquerda tem de ser um organismo vivo. E não uma máquina intermitente, exclusivamente em função dos ciclos eleitorais (internos e externos).
15.
Contas certas? Sim, desde que sejam respeitadas duas condições: a) que não se transforme os contabilistas de serviço em ideólogos do PS; b) que não impliquem um investimento público inferior ao do tempo em que a troika esteve por cá, como, de facto, aconteceu (segundo o Pordata: 2011-2015= 2,50% do PIB; 2016-2023=2,12%; mas se compararmos com os valores de 2016-2019 a diferença é muito maior: 1,77% para 2,50%). Portugal, em 2015, estava, em investimento público em percentagem do PIB, em 25.º lugar na UE, passando, em 2023, para 26.º lugar (em 2001 era o 2.º da UE, com 5% do PIB, e em 2009 o 17.º, com 4,1% do PIB). É nisto que penso quando ouço falar de contas certas e de investimento público.
16.
Ainda sobre o Pacto Portugal Futuro. Uma longa conversa filosófica politicamente correcta, mas que nada de concreto diz, excepto (e é muito relevante) que quer o SNS, a Segurança Social pública, investimento na escola pública e, em geral, as políticas que todos sabem que o PS defende. Mas o que verdadeiramente interessa é dizer quais as causas e as soluções concretas para resolver as dificuldades nos sectores nevrálgicos do Estado. Como no tratamento das doenças e nos respectivos medicamentos, o que é preciso é descobrir o princípio activo que resolve a maleita, neste caso, os problemas fundamentais do país (que não são muitos, embora sejam difíceis: saúde, habitação, eficiência do Estado, carga fiscal, desenvolvimento e emprego). A política lá estaria para conseguir os consensos necessários para adoptar boas soluções.
17.
Ainda sobre a habitação: o PS quer que “no prazo de dez anos, todas as famílias tenham acesso a uma habitação condigna, fazendo conjugar a oferta de mercado com a oferta municipal de habitação e os incentivos à construção de casas a preços acessíveis”. Como? O que é que isso – “todas as famílias tenham acesso a uma habitação digna” – quer dizer, para além de ser a formulação de um justo princípio humanista? Como conseguirá o PS atingir este objectivo? As dúvidas sobre o princípio activo são imensas, para quem pense um pouco no assunto. Mas é assunto relevante e está no topo da agenda. Por isso, é preciso dizer qualquer coisa e a tendência é dizer que o Estado resolverá o problema, seja qual for a solução. Não, o Estado ajuda, e pode ajudar muito (por exemplo, desonerando fiscalmente), mas a solução residirá na sociedade civil, na esfera privada. A tentação do Estado-Caritas é sempre grande, fácil e até generosa, mas este é um problema (escassez e preço das rendas e das casas para compra) que, como já disse, só a expansão do mercado de arrendamento pode efectivamente resolver. Estou profundamente convencido disso.
18.
Já sobre a justiça, o que de essencial é dito é que é necessário “um salto qualitativo”. Também acho que sim, a começar pela clarificação dos poderes do Ministério Público (que não é feita) e a tudo fazer para acelerar a lentíssima máquina da justiça. Mas confesso que, com a timidez reinante na classe política, as minhas esperanças são poucas ou nenhumas. A famosa separação dos poderes lá está para funcionar como bloqueador automático, ainda que seja claro que poderes separados não são, por isso, poderes iguais. O poder judicial não ocupa o mesmo patamar na hierarquia dos poderes que o poder legislativo. Só este exprime directamente a soberania popular, tendo mandato explícito para isso.
19.
Sobre as cinco áreas (política externa e europeia, defesa, segurança, justiça e organização do Estado), nada é dito que mereça aqui ser anotado (para além do que já referi, sobre o Estado e sobre a justiça), mas poderia ser dito que nestas matérias o PS está disposto a negociar e a ser proactivo, ao mesmo tempo que reafirma o seu alinhamento com a União Europeia, tendo bem consciência de que o nosso é um pequeno e periférico país, com as limitações daí decorrentes. O reconhecimento das próprias limitações é sempre a melhor maneira de avançar para novos patamares.
20.
“O PS reverá a sua organização interna, com vista a promover um nível de reflexão, coordenação e decisão à escala intermunicipal. O PS investirá na formação contínua dos seus militantes e quadros, com vista a garantir um nível cada vez mais elevado do debate interno em todas as suas estruturas”. Isto é bom para um partido que sempre deu pouca (ou mesmo nenhuma) importância à escala intermunicipal, de que as CIMs são hoje o rosto institucional, talvez por, erradamente, ter sempre olhado para a sua origem como algo “pecaminoso” (a famosa Lei Relvas). A verdade é que o território nacional está hoje estruturado, à escala supramunicipal, em 23 CIMs (não considerando as áreas metropolitanas). Fui sete anos presidente da Assembleia de uma CIM (“Comurbeiras”) e pude, lamentavelmente, constatar isso. E, por isso mesmo, considero esta uma boa notícia. Se o actual modelo será o melhor, isso pode ser discutido, mas é o que existe em termos supra ou intermunicipais. Que o partido se alinhe por esta realidade até se pode considerar que é somente uma consequência lógica, mas, na verdade, trata-se de uma realidade diferente da actual, a das federações distritais. Os territórios são, de facto, diferentes. Há, todavia, um problema: os círculos eleitorais continuam a coincidir com os distritos (e é só para isso que agora estes servem). O novo desenho dos círculos eleitorais uninominais poderia resolver o problema, introduzindo coerência na organização administrativa do país.
21.
Mas fala-se também de formação dos militantes e quadros. Foi para isso que acabaram, já lá vão uns anos, com o Acção Socialista (apesar de conservar o nome, não é um jornal o que actualmente existe, mas uma pobre secção informativa do seu site)? Sei bem do que falo porque fui eu que o informatizei e o relancei quando, nos anos noventa, o dirigi. Um simples dado: publicámos, no jornal, em cerca de 3 anos, cerca de 150 ensaios sobre o futuro da esquerda, escritos, sobretudo, pelos melhores intelectuais da esquerda europeia. As duas revistas que parece que ainda existem, para um número ínfimo de leitores, não são hoje mais do que a projecção de dois egos à procura de autores, não representando verdadeiramente o PS, uma política editorial robusta, regular, eficaz e consistente, à altura de um partido com a dimensão e as exigências do PS. Gabinete de Estudos? Não se fala disso e é inexistente. Fundação Res Publica, a mesma coisa. O que temos hoje é um PS sem estruturas orgânicas especializadas e eficazes capazes de o dinamizar. É um partido que vive do e para o Estado, estando reduzido a partido eleitoral, a mera marca, ainda que prestigiada. E isto é pouco para um partido que se quer de esquerda.
22.
Considero interessante a referência ao sindicalismo e às organizações da sociedade civil num partido cujo corpo orgânico se vem reduzindo drasticamente, dando lugar a esse partido eleitoral (no plano interno, que é cada vez menos competitivo, e no plano externo, para a captação de cargos e de fundos financeiros), e que, ainda por cima, recorre sistematicamente a outsourcing nos períodos eleitorais e cada vez menos às suas “forces propres”. Acresce que, em tempo de permanent campaigning, tem estado clamorosamente ausente do debate público e dos meios de comunicação de massas, por perda de influência (um ou outro que por lá anda serve mais para se promover a si próprio do que para promover o partido e o seu património ético-político e ideal). É necessário, urgente e vital revisitar o próprio conceito de partido, o que não tem sido feito.
23.
De resto, e mais uma vez, um candidato a líder de um grande partido como é o PS não perde tempo (há pouco mais de uma página, em 40) a debruçar-se sobre a organização que vai liderar e governar, num tempo que ele próprio reconhece que está a ser difícil para o partido. Já na anterior campanha para líder acontecera o mesmo, com JLC e com PNS. Não devia ser assim. Não houve tempo, dir-se-á. Mas nunca há tempo. Mesmo assim, diz-se, felizmente, do partido, que é preciso “repensar o seu modelo de organização e modo de funcionamento”, os estatutos e práticas. Sobretudo as práticas. Ou seja, parece estar reconhecido, e bem, que é absolutamente necessário mudar. Mas que não seja para que tudo fique na mesma. Que José Luís Carneiro não seja o Tancredi (de “Il Gattopardo”, de Lampedusa) do PS é o que eu mais lhe desejo. Sendo melhor do que a decadência bourbónica, não será suficiente, pois ele, Tancredi Falconeri, representa, e com o acordo do Príncipe de Salina, o verdadeiro “transformismo”: “se quisermos que fique tudo como está, é necessário que tudo mude”. Dos Bourbon aos Savoia. Mas isto não vai lá com transformismo. Será preciso muito mais, ou seja, mudança efectiva. Sabe-se o que aconteceu aos Savoia a seguir à segunda guerra mundial.
24.
Agora, sim, finalmente, uma observação sobre os deputados. É sempre útil lembrar que, em democracia representativa, os deputados são livres, não são portadores de mandato imperativo e representam a nação, não o partido que os propôs nem o círculo eleitoral onde foram eleitos. Pelos vistos, há muita gente que não sabe isto e a própria formulação do documento é algo equívoca. A sua consciência, a do deputado, deve sempre ser convocada, e não apenas nas questões de consciência. Presume-se, naturalmente, que os deputados tenham uma robusta formação ético-política em linha com o património ideal e a mundividência política do partido. Certamente, embora sobre isso haja dúvidas legítimas. Mas é daí que decorrerá o seu comportamento político, a sua acção, o seu inequívoco alinhamento com o respectivo grupo parlamentar. Mas é também por isso que o PS deve ter uma identidade ideal e política muito clara, para que lá dentro não proliferem visões que pouco ou nada têm a ver com o seu património, mas que evidenciam pretensões hegemónicas, e que sejam fonte de desvios para além das fronteiras daquela que é a identidade ideal do partido. Em tempos de perigosa expansão daquela que alguns designam por “síntese identitária” (Yascha Mounk, em A Armadilha Identitária, de 2023, por exemplo), mas que eu prefiro designar por “esquerda identitária dos novos direitos”, mais se justifica uma clarificação ideológica do PS. Parece ser hoje aceite que um dos alimentos preferidos da nova direita radical é precisamente esta esquerda, tendo com isso obtido fartos ganhos eleitorais, até porque na sua retórica acaba sempre, grosseira e indevidamente, mas com segura eficácia, por identificar com ela todo o centro-esquerda.
25.
O PS viveu, nos últimos dois anos, dois momentos complicados devido a acontecimentos que exigiram rápidas decisões ao mais alto nível, ou seja, a designação electiva do líder: em 2023, devido à apressada e, quanto a mim, injustificada saída de António Costa, rumo a Bruxelas; e, agora, devido à hecatombe eleitoral nas recentes eleições legislativas e à saída de Pedro Nuno Santos, culpado de não se ter abstido na moção de confiança, fazendo, exacta e ingenuamente, o que o adversário queria. Na primeira, houve disputa entre dois candidatos à liderança; na segunda, há um só candidato. Dois momentos fulcrais em cerca de ano e meio, com a passagem de uma maioria absoluta para uma inglória terceira posição, em mandatos no parlamento. Algo deveras estranho e que exige uma reflexão muito séria, não só porque se trata de um grande partido democrático e que ocupa um espaço político virtuoso, mas também porque se trata do funcionamento da nossa própria democracia. É algo muito grave, pela rapidez e pelo modo como tudo aconteceu, e já não é possível disfarçar o problema nem atirar, comodamente, responsabilidades para o que mais convier. A verdade é que a direita tem hoje cerca de 70% dos mandatos parlamentares e o PS já é a terceira força política, com menos dois deputados do que o CHEGA (ainda que tenha mais uns votos, cerca de quatro mil e trezentos). Não é algo que possa ser iludido ou contornado, porque, se assim for, o futuro ficará entregue por muito tempo à direita e aos seus próceres, alguns bem conhecidos pelas negociatas que os têm feito engordar. Outros, mais humildes, enquadrados noutro hemisfério político, não se incomodarão por aí além desde que tenham o seu lugar garantido no parlamento ou numa câmara municipal. O resultado é que será o país a perder. E por isso não é saudável ficarmos sentados comodamente num sofá a observar um espectáculo que, afinal, somos todos nós que pagamos, com os impostos. Embora cada vez mais pareça espectáculo, a verdade é que a política não é realmente um espectáculo, pois não só não a financiamos com uns míseros bilhetes, mas sim com uma boa parte do nosso rendimento, como é ela que determina efectivamente as condições em que ocorre a nossa vida. E esta também é a razão que justifica este longo texto de considerações sobre a moção de José Luís Carneiro, o futuro líder de um partido que é também o meu. JAS@06.2025
UMA NOTA
No passado domingo António José Seguro apresentou nas Caldas da Rainha a sua candidatura a Presidente da República, depois de ver uma boa parte do PS, ao nível dos militantes, declarar-lhe apoio. Esteve, depois de ter sido líder do PS durante três anos (2011-2014), longe da política, mas entendeu livremente candidatar-se a um cargo suprapartidário, juntando-se, assim, a Luís Marques Mendes e a Gouveia e Melo. Fica, assim, por agora (e já devia chegar), coberta a área política do centro-esquerda, do centro e do centro-direita. Mas se, por um lado, se confirmar o que dizem as sondagens e, por outro, se se confirmar uma certa saturação política relativa aos partidos do bloco central (bem visível no crescimento dos movimentos não partidários e do CHEGA), o mais certo é que venha a ser Gouveia e Melo o vencedor das eleições presidenciais. Mesmo assim, desejo os maiores sucessos eleitorais a António José Seguro.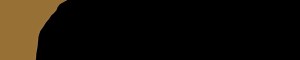
NOVOS FRAGMENTOS (XVI)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
RICARDO REIS
Começo por reproduzir parte de um poema de Ricardo Reis (de 1916), referido num comentário de uma Amiga a propósito de um poema meu (“As Palavras escondidas nos teus Riscos”):
“Segue o teu destino, Rega as tuas plantas, Ama as tuas rosas. O resto é a sombra De árvores alheias. A realidade Sempre é mais ou menos Do que nós queremos. Só nós somos sempre Iguais a nós-próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre Viver simplesmente”
1.
Sim, a realidade é sempre mais ou menos do que o nosso desejo e a nossa vontade. Não há identificação: umas vezes ela é mais, outras é menos. A vontade é o mecanismo que acciona o desejo. Então, a solução é recriá-la à medida da nossa fantasia, como expressão do nosso desejo e da nossa vontade. Só assim pode haver identidade. De certo modo, “esse est percipi”, como dizia o bispo Berkeley. Vemos o mundo à nossa dimensão e de acordo com o nosso desejo. Quanto ao resto, há sempre diferença, porque, no plano ontológico, a realidade não se confunde com a percepção. Mas é precisamente no intervalo entre nós e a realidade que cresce a poética fantasia. Nessa diferença. É nesse intervalo que o poeta se coloca e desenha a realidade à sua própria medida, embora a sua medida, enquanto tal, o transcenda. Um poema é sempre maior do que o poeta. Mas, ao transcender o real, num poema, o poeta transcende-se a si próprio. Como se a fantasia fosse preencher esta vala profunda que o separa de um mundo que, justamente, não é feito à sua medida. Uma ponte sobre um território vazio (entre si e o mundo) que o leva à outra margem. Por isso, a poesia não descreve o mundo – acrescenta-lhe vida, que leva através dessa ponte. O poeta caminha nela em direcção à outra margem como original construtor de sentido e de beleza. Esta ponte é a rua do poeta.
2.
É esse o seu destino. O Pessoa transcendeu-se a si próprio quando fugiu de si e encarnou outras personagens que não estavam previstas à nascença. Deu forma à sua vontade e à sua identidade através da fantasia. E ofereceu mais realidade ao mundo. A sua, que, no final, já era mais do que sua. Foi assim que ele regou as suas plantas, que amou as suas rosas e sentiu os perfumes dos jardins, que se ofereceu à vida e lhe devolveu os seus ecos, por mais diversos e silenciosos que fossem. Uma fonte sempre a brotar. O resto eram sombras de árvores alheias. Pois eram, até porque árvores alheias foi o que sempre houve por aí, sobretudo com a condição de simulacros em neblina, onde todos os gatos são pardos.
3.
Somos iguais a nós próprios? Sim, mas na medida em que nós somos a árvore que dá a nossa própria sombra e onde nos protegemos do excesso de sol, que abrasa. Iguais a nós próprios, verdadeiramente? Tão iguais que até nos vamos reconstruindo com identidades diferentes, à medida que o sol da nossa vida se vai deslocando da aurora para o entardecer, mas sem deixarmos de ser quem somos e o que somos. Ou seja, somos aquilo que, afinal, formos fazendo de nós. Diz ele, o Pessoa, que o quiseram encarcerar em si logo que nasceu. Sim, bem tentaram, mas ele fugiu. Sem sair dele, diga-se. Mas fugiu mesmo, desdobrando-se nas suas próprias sombras. Passou a ser do tamanho e da forma da sua própria fantasia. Deixou de ser sombra de árvore alheia, sobretudo quando, pela primeira vez, deu conta de si. Então, sempre que o mundo se apresentava menor do que a sua vontade de ser, ele reconstruía-o à sua medida, à medida da sua imaginação. Aumentava-o. É bem verdade o que diz o William Hazlitt: “a intensidade dos sentimentos compensa a desproporção dos objectos”; ou ainda: “a poesia é em todas as suas formas a língua da imaginação e das paixões, da fantasia e da vontade” (Do Prazer de Odiar e Outros Ensaios, Lisboa, Edições 70, 2025, pp. 103 e 110). É essa intensidade dos sentimentos, universo em que se inscreve a poesia, que permite agigantar o mundo, torná-lo maior, compensar a sua pequenez. Para isso, há a imaginação, a fantasia e a vontade. É esta a grandeza da arte, tornar o mundo maior e mais belo do que é. Gherardo, “maintenant tu es plus beau que toi-même”. É também por isso que o Baudelaire compara o poeta ao albatroz, essa ave gigante:
Le Poète est semblable au prince des nuées / Qui hante la tempête et se rit de l’archer;/ Exilé sur le sol au milieu des huées,/ Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
Príncipe das nuvens, as suas asas gigantes impedem-no de caminhar… a não ser lá no alto sobre a imensidão dos oceanos. Assim é o poeta.
4.
Diz Ricardo Reis que grande e nobre é “viver simplesmente”. Pois é, se a fantasia o permitir, abrindo imensas clareiras que vão dar a lado nenhum (Holzwege). Ser poeta é isso – habitar uma floresta onde o eco do silêncio é a melodia que se ouve por entre o bulício das folhagens sopradas pelo vento. É andar lá sem destino aparente. É dar simplesmente voz à vida vivida com a fantasia, inspirado nos sendeiros da paisagem existencial por onde circulamos, mas onde domina o silêncio e a solidão. O poeta vive nas clareiras da floresta da vida.
ABRIGO QUENTE
O abrigo quente da poesia situa-se sempre no centro dos poemas. É lá que o poeta se refugia das tempestades que o apanham a meio da caminhada da vida. Fugiu com ela, com a musa? Não, mas seguramente quis isso quando a encontrou lá, na rua da sua vida, encantando-o. E, nesse momento, ele estremeceu. Uma doce e criativa tempestade. Quis logo levá-la dali para a ilha da utopia. Quem não quereria isso com tão arrebatadora beleza? É interessante o significado que tem na minha terra a expressão “fugiu com ela”. Quando a pressão familiar e/ou social, em comunidades fechadas, impedia um amor, os amantes “fugiam” para poderem acasalar noutro lugar qualquer. Mas, às vezes, o amor fracassava, cedia perante as imposições. Muitas vezes, era mesmo fuga territorial, fuga da cidade; outras, era fuga para o “abrigo quente da poesia”. Um dia, o poeta viu-a, da janela, passar na rua do seu jardim e reconheceu-lhe a beleza inatingível, impossível. Ela não desapareceu, engolida pela multidão, como a mulher do Baudelaire de “Les Fleurs du Mal” (“À une Passante”). Vendo-a passar na rua, regularmente, ele sentia “Un éclair…”, mas quando, lá ao fundo, ela dobrava a esquina, também acontecia “la nuit!”. Sentia sempre isso. E isto acontecia. E repetia-se quase diariamente. E dizia de si para si: “com ela, sim, eu fugia”. Mas nunca fugiu. As musas não o permitem.
Este poema a que me refiro inspira-se nesse outro do Baudelaire. E dá-lhe solução e continuidade: o poema é o sonho (a luz) que se segue à noite. É por isso que ele (no sonho, no poema) se debruça sempre nos gradeamentos do seu jardim e olha a janela circunstante como se ela lá esteja por detrás das cortinas em diálogo silencioso consigo (na pintura “O Jardim e a Janela”, para o Poema “As Palavras escondidas nos teus Riscos”). Assim, a noite escura nunca chegará. Mas, se chegar, sempre haverá o sonho, uma luz na noite. Do jardim para a janela fronteiriça – um diálogo permanente entre dois seres que apenas se pressentem. No dizer dele, porque até pode ser apenas uma ilusão – imaginar no lado de lá o que apenas lhe subsiste na memória. Mas isso pouco importa se a ilusão der origem ao canto e a uma doce melancolia.
ASAS
A poesia é a arte que melhor representa a liberdade. Porque é um mundo onde pomos asas e voamos. Para Neverland. Como Sininho e Peter Pan. Essas asas que não voam nas ruas que são proibidas ou porque são demasiado estreitas para permitirem levantar voo. Lembro-me sempre do Baudelaire e do poema sobre o Albatroz. Asas grandes demais para se poder mover em terra. E muito menos em ruas proibidas. Só sobre a imensidão dos oceanos. Assim são os poetas. Têm asas grandes demais para se poderem mover nas vielas estreitas da vida. E é por isso que voam mais alto. Voam sempre. Sobre os mares ou sobre a terra. Mas sempre lá bem alto. Afinal, eles não se ajeitam com a vida, com as rudes leis da vida, com os estreitos sendeiros, com a aspereza dos corpos sólidos esparsos nas ruas e nas praças. O poeta gosta de voar na montanha e sobre os vales ou sobre o oceano. A poesia foi criada para levitar, em homenagem à leveza. O passo/momento de dança de que o poeta mais gosta é o “ballon”.
LIBERDADE
A liberdade é um processo que alimentamos interiormente ao longo da nossa vida. Mas é um estado vivido em tensão. Ela é sobretudo interior, mas também precisa de um ambiente externo para melhor se manifestar. Muitas vezes encontramo-nos num processo de confronto entre a liberdade interior e a coacção externa, que até pode ser sistémica. Ou simplesmente psicológica ou afectiva. Interpessoal. Muros que se apresentam inultrapassáveis. Ela é, pois, sempre uma conquista sobre as limitações do mundo exterior ou do mundo interior, pulsional, magmático. O voo já é apolíneo. A poesia é uma das mais belas expressões da liberdade – metaboliza as pulsões e dá-lhes forma (semântica, plástica e musical) de acordo com a sua sensibilidade e os padrões da beleza. Como a música ou a pintura.
A ALDEIA E A MEMÓRIA
Não é por acaso que muitos de nós passam parte dos seus dias nas suas aldeias, revisitando o tempo de vida, o passado, mas também o futuro, como projecção do passado que deixou saudades: do que aconteceu ou do que não aconteceu. Deixa sempre. Mas também é privilégio de alguns que sempre viajaram nesse tempo paralelo das palavras em busca do que lhes corria nas veias como tempo interior, às vezes como tempo inacabado, mas desejado. Persistentemente desejado. A poesia é a projecção e a fixação desse tempo em moldura estética e intemporal. Isto vale para o tempo de juventude ou mesmo de infância, que se pode reconstruir no lugar onde tudo começou, com palavras ou com riscos e cores. Na aldeia. Isso é (re)viver uma segunda vida. É uma curta-metragem nessa mesa de montagem que é a memória. Curtas-metragens poéticas. Ir ao cinema ver um filme de que nós próprios somos autores, realizadores e actores. A poesia.
A PORTA
A porta da Casa-Mãe é uma porta que é também uma janela. Dela saí para o mundo, conservando-a sempre comigo. Por isso foi sempre um marco identitário. Ela é para mim uma vitamina existencial porque nela se conjugam vários elementos fundamentais: a montanha (em frente), um telhado (para onde dá a porta, que lhe é sobranceira), a saída para o jardim (para a porta principal de entrada), o seu granito amarelo (com cristais), sendo também a fronteira entre a Casa-Mãe e o Mundo, que começa naquelas escadas e que nunca mais tem fim. Como não havia eu de a cantar? Tinha de ser. E no domingo em que entreguei a minha bela pintura sobre a aldeia (aqui publicada), como se ela resumisse o mundo tal como ele se avista da minha janela, mais razões haveria para o fazer. E assim foi.
ARCO-ÍRIS
Finalmente. A poesia é voo lá mais para o alto da fantasia onde se respira melhor e de onde podemos olhar para o vale da vida sentados num arco-íris (que sempre os há na atmosfera poética). Vemos, lá do alto, o mundo em refracção, através das gotículas finíssimas que formam o arco-íris. Assim, a poesia é como um caleidoscópio. JAS@06-2025
TRÊS PROPOSTAS
Para a Legislatura
Por João de Almeida Santos
PORTUGAL deveria ser hoje um caso de estudo sobre a construção da agenda política e da agenda mediática (que parece confundirem-se). Eu creio mesmo que isto anda ao sabor dos jornalistas e comentadores sempre à procura de matéria (eventualmente explosiva, mas sempre espectacular e, se possível, negativa) para o torrencial comentário, mas que não dê muito trabalho e não exija grande preparação, a não ser lábia e atracção pelo holofote. A dominante parece ser a geometria política: a dialéctica entre a esquerda e a direita, entre a direita radical e a direita fofinha, entre a esquerda radical e a esquerda fofinha, entre a direita fofinha e a esquerda radical, entre a esquerda fofinha e a direita radical e assim por diante, em jogos de espelhos que só interessam aos próprios. E o comentário acaba frequentemente com a seguinte declaração de retórica frustração: não disse (não disseram) nada de novo. Como se a política nada mais fosse que espectáculo. Guy Debord sempre presente.
1.
Eu, que sempre estive interessado em seguir o que acontecia na televisão, sobretudo por motivos profissionais, e conhecendo bem a influência que ela tem na cidadania e na política (assuntos que estudei longamente), já pouco a sigo, sobretudo pelo enjoo que cada vez mais me provoca. Já não os consigo ouvir. Missas intermináveis nesse púlpito electrónico celebradas por sacerdotes laicos sem grande preparação, mas grande lábia, e com muita pose e aparente convicção, a descodificarem o óbvio, que para eles parece sempre ser cerebrótico. E, todavia, não lhe sinto a falta porque vejo as notícias nos mesmos jornais de onde retiram o essencial do que informam. Não vejo, naturalmente, os comentários, mas ainda bem. Porque são tóxicos. Querem um exemplo? Esta longa procissão presidencial, com sermões de dezenas de comentadores que nunca mais se calam, que já vem de longe e muito ainda tem de calcorrear até que se chegue ao pátio da igreja e à consagração de um poder com pouca relevância, a não ser quando está constantemente a interromper os ciclos políticos, como alegremente fez o presidente que está de saída (três dissoluções num só mandato). E fê-lo, entre outras razões (talvez menos nobres), porque assim se sentia politicamente bem mais vivo do que a tirar selfies. A procissão reactivou-se agora, que passaram as habituais e recorrentes legislativas, ainda que pelo meio haja eleições autárquicas, onde a intermitência regressará com novas e intermináveis missas do comentariado televisivo. Pelo meio, vão acontecendo novos episódios, como, por exemplo, Rui Rio ser mandatário nacional do Almirante Gouveia e Melo. O baixinho (produto em grande parte televisivo, da SIC) que se cuide. Pelos vistos, não é personagem consensual nas suas próprias hostes. E também porque mais parece um clone remendado de Marcelo, o examinador. Finalmente, António José Seguro declarou que se candidatará, restando apenas saber se será o único na sua área política, apoiado ou não pelo PS, ou se surgirá outra candidatura à esquerda. Uma galeria de personalidades à procura da bênção popular para residir dez anos (5+5) no Palácio. Mas tudo isto seria evitável se a eleição do PR fosse feita por um colégio eleitoral.
2.
Voltando à agenda, e em homenagem aos processos políticos em curso (legislativas, que acabaram de ocorrer; autárquicas e presidenciais, que ocorrerão em breve) também eu quero contribuir para isso, fazendo três sugestões, que até poderiam ser incorporadas tematicamente no programa do candidato a secretário-geral do PS, para uma melhoria do nosso sistema político. E também serem objecto de atenção na nova legislatura que ontem começou. Ao menos, tratar-se-ia de matéria politicamente relevante. Em primeiro lugar, alterar o sistema eleitoral, substituindo-o por um sistema maioritário com círculos uninominais (pesem embora as actuais limitações constitucionais); em segundo lugar, acabar com a eleição directa do presidente da República, passando a ser eleito por um colégio eleitoral cuja composição deveria ser muito superior à composição do parlamento; em terceiro lugar, alterar o sistema eleitoral autárquico, tornando-o equivalente ao sistema político nacional ou ao modelo da democracia representativa em vigor, ou seja, retomando um processo que chegou a estar protocolado entre os dois maiores partidos de então (PS e PSD).
3.
No primeiro caso, haveria a vantagem de, num parlamento agora mais fragmentado, ajudar a uma maior estabilidade do sistema (governo e parlamento) ao mesmo tempo que introduziria uma maior responsabilidade na escolha dos candidatos a deputados, acabando com essas caixas fechadas das listas com os símbolos dos partidos, nada exigentes do ponto de vista da qualidade dos candidatos. Ou seja, uma maior responsabilização política dos candidatos, um critério de selecção muito mais exigente. Hoje, como se sabe, há uma efectiva hiperpersonalização da política a ponto de as legislativas terem vindo a ser transformadas em eleições directas para o primeiro-ministro, menorizando em absoluto os candidatos a deputados que, aliás, o próprio sistema eleitoral já menoriza à partida. Em grande parte, até se pode explicar a ligeireza com que se constroem as listas eleitorais precisamente pela forma de um sistema eleitoral de listas fechadas com simbolo partidário identificador, onde o conteúdo acaba por pouco importar. A democracia ganharia se aos candidatos se exigisse densidade política comprovada, presença diversificada no espaço público (incluindo o plano profissional) e na competição eleitoral e reconhecimento público da própria personalidade. A valorização da relação efectiva entre o candidato e o seu círculo eleitoral. A verdade é que o processo que leva à designação dos candidatos não parece ser o mais exigente e rigoroso até pela natureza do sistema eleitoral. Uma vez designados o que acontece é o seguinte: lugar elegível garantido nas listas e resultado dependente, não deles ou delas, mas do líder do partido e candidato a PM. A hiperpersonalização faz definhar o corpo orgânico dos partidos. Voilà. Pelo contrário, com outro sistema eleitoral, eles, os deputados, teriam de ser mais qualificados e não só ganhariam maior peso político e maior autonomia decisional em relação às direcções partidárias, mas também contribuiriam para valorizar e densificar o próprio processo eleitoral, ou seja, a democracia, ao mesmo tempo que se garantiria maior estabilidade governativa (note-se que nos últimos seis anos tivemos 4 legislativas, uma eleição em cada ano e meio).
4.
Em relação ao segundo aspecto, o da presidência, bastaria argumentar com o que temos visto nos últimos tempos: o infeliz mandato presidencial em curso ou esta interminável procissão com candidatos assumidos ou em vias de se assumirem e em intermitente campanha durante cerca de dois anos. Na verdade, o que acontece é excesso de campanha e de meios para tão exíguas funções. Vê-se bem o que são, quando os protagonistas são chamados a pronunciar-se sobre o papel do presidente da República no actual modelo constitucional, o recorrente deslize para as áreas do executivo por falta de matéria. Exemplo: na entrevista de segunda-feira, Gouveia e Melo disse tudo o que, no essencial, havia a dizer, isto é, pouco, tendo a entrevistadora percorrido todos os temas “quentes”. Se dissesse mais, seria excessivo porque acabaria por extravasar as competências previstas constitucionalmente – o que acabou por motivar os comentadores de serviço a dizerem que jogou à defensiva e que nada disse de original. Um dano grave, a falta de originalidade presidencial, para a política-espectáculo que os próprios servem e de que vivem. Ora, sendo uma eleição por colégio eleitoral, haveria possibilidade de negociação, racionalidade e pragmatismo na escolha da personalidade a eleger, tendo em atenção a exiguidade de competências de que o presidente dispõe, o histórico tão pouco abonatório, mas sobretudo clareza sobre a centralidade do parlamento e do executivo no processo político. Não digo que se teria um presidente-notário, mas seguramente um presidente com um perfil mais discreto e menos atreito a conflitualidade, como acontece hoje devido à legitimidade directa de que hoje dispõe. Também não seria tanto a televisão a escolher, como no caso de Marcelo e, espera o próprio, no caso do ex-comentador da SIC, Marques Mendes. Na verdade, com a legitimação directa o conflito e a instabilidade são sempre mais prováveis, como se viu com o segundo mandato de MRS, só para dar um exemplo entre tantos outros que poderia dar. A pulsão conflitual, quanto a mim, deriva, em grande parte, da legitimidade directa e das poucas atribuições de que o presidente dispõe para se protagonizar (para além das selfies, claro). Excesso de legitimidade para competências tão exíguas.
5.
Em relação ao terceiro aspecto, não me parece que o modelo vigente seja o melhor, com assembleias municipais que para pouco servem, por escassez de competências e de peso político (reúnem 5 vezes por ano, excepto em Lisboa, que é um autêntico exagero, não sei se devido às senhas de presença) ao mesmo tempo que se verifica rigidez excessiva no executivo, sendo os membros do executivo eleitos directamente e sendo o seu mandato não-imperativo, o que, em certos casos, torna o executivo inoperante. O acordo, que registava profundas alterações, foi assinado há muitos anos (em 2007) pelos Grupos Parlamentares dos dois maiores partidos de então (agora é sempre preciso dizer “de então”, porque já não é assim, a não ser no número de votos), mas viria a ser rasgado pela liderança de Luís Filipe Meneses, creio que devido a uma revolta de autarcas. O processo nunca mais foi retomado e o que se verifica é que nas autarquias temos um sistema presidencialista, onde o poder deliberativo pouco ou nada conta, mas onde frequentemente a capacidade decisional do próprio executivo também fica paralisada. O PS e o PSD consensualizaram um projecto de lei de revisão da lei eleitoral para as autarquias locais (PL 431/X, de 12/2007) que, no essencial, constava do seguinte:
- Constituir “um executivo eficiente e coeso, que assegure garantias de governabilidade e estabilidade para a prossecução do seu programa e prestação de contas ao eleitorado no final do mandato”.
- O presidente do executivo seria o cabeça da lista mais votada para a AM (numa só lista).
- Os membros do executivo seriam escolhidos livremente pelo presidente do executivo e seriam obrigatoriamente membros da Assembleia Municipal.
- Possibilidade de apresentação de moções de rejeição do executivo e apreciação da formação e da remodelação do executivo só pelos eleitos directamente para a AM.
No meu entendimento, este deveria ser o modelo a adoptar, por duas razões essenciais: reforçaria o peso político do órgão deliberativo, determinante para um bom funcionamento da democracia local, mas também daria maior unidade de acção ao executivo, fundamental para agir, e mais clara accountability.
6.
Mas confirmo que se nota uma enorme irracionalidade, para não dizer mesmo despropósito, na agenda política promovida pelos media e no torrencial discurso envolvente, em vez de se concentrar em aspectos que estão a impedir uma melhor prestação do sistema político, mas também naquelas que são as “policies” decisivas para a vida em comunidade, em obediência àquela que é a sua função social: fornecer informações relevantes, não para influenciar o cidadão, mas para que ele possa tomar decisões fundamentadas nas várias áreas em que decorre a sua vida em comunidade. Não para se substituir ao cidadão, mas para o dotar de melhor informação para a decisão política. Estes três aspectos que referi, simplesmente como exemplos, deveriam ser promovidos para debate público na lógica daquela que hoje já se designa por democracia deliberativa. Bem pelo contrário, aquilo a que assistimos é a um agendamento induzido, por um lado, pelos partidos, sempre em “permanent campaigning”, para polarizarem instrumentalmente a atenção social para os temas que lhes interessam (ou mesmo para desviarem as atenções) e, por outro, pelos media, que, em parte, seguem, de forma pouco imparcial e neutral, as agendas dos partidos, mas que, sobretudo, seguem as suas próprias agendas de acordo com a sua crescente vocação tablóide, em claro desvirtuamento daqueles que são os seus próprios códigos éticos. Os casos que aqui referi são apenas três exemplos de tópicos que, esses sim, entre tantos outros, poderiam subir à agenda política e interessar a um desenvolvimento positivo da nossa democracia. E até confesso que não vejo razão para que o PS não venha a agendar estes temas, porque, na verdade, se trata de temas que são importantes para melhorar o sistema político e que teriam efeitos consistentes, a montante, sobre o próprio sistema de partidos.
7.
Bem sei que Luís Montenegro não está nada interessado em matérias desta natureza, em nome dos problemas imediatos que tem para resolver (e não são poucos), diz ele, até porque, na sua visão, o PSD não tem nem nunca teve problemas existenciais, como disse numa campanha interna em que participou como candidato (talvez tenha sido naquela que o levou à presidência do PSD). Pode ser e é legítimo que sinta isso, até para não cair em depressão política com um problema de identidade que, ao contrário do que disse, sempre afectou o seu partido. Ou com outros problemas, como o de ver o anterior presidente do PSD ser o mandatário nacional do Almirante Gouveia e Melo e não de Marques Mendes, o escolhido. Mas a verdade é que fugir aos problemas existenciais até parece ser, de resto, uma especialidade de sucesso de Luís Montenegro. Como se viu recentemente. E, todavia, o país, tem, sim, problemas existenciais. E não são poucos. Um deles, por exemplo, é o de ter tido um presidente da República como o que ainda está actualmente em funções. Ou o de andar constantemente em eleições. Mas sendo certo que, em breve, aquele problema (o do PR) será resolvido, atendendo ao histórico, não é, todavia, seguro que não venham aí mais problemas existenciais. Não para o PSD de Montenegro, que não os tem, mas para o país, que os tem e os sofre. Por isso, melhor será que, no futuro, se avance para a solução que acima propus: acabar, logo que possível, com a procissão e a festa presidencial e introduzir a sua eleição através de um colégio eleitoral. Em Itália, por exemplo, é assim e não conheço problemas que tenha havido com este sistema, ao longo das muitas décadas em que sigo a política italiana. Mas também avançar para os dois outros temas (o da democracia local e, sobretudo, o do sistema eleitoral), porventura muito mais importantes que o da presidência. JAS@06-2025
CADERNO DE ENCARGOS
O PS e o Futuro
João de Almeida Santos
COMEÇO pelo fim, ou seja, pelos resultados dos círculos eleitorais da Europa e fora da Europa, ontem conhecidos, e a confirmação de duas novidades que só por si, se outras não houvesse, justificariam uma profunda reflexão: o PS é hoje o terceiro partido do nosso sistema de partidos, substituído nessa posição por um recentíssimo partido de direita radical, que obteve 60 deputados contra os 58 do PS (o salto eleitoral é parecido ao que se verificou em Itália, com o Fratelli d’Italia, entre 2018, com 4,3%, e 2022, com 26%). O PS, que sempre elegeu deputados nestes círculos eleitorais, chegando a eleger três deputados, por exemplo, nas eleições de 1999 ou nas de 2022, não tem hoje representação política nestes círculos. Há três anos, em 2022, o PS teve uma maioria absoluta, com 41,37% e 120 deputados, e elegeu três deputados nestes mesmos círculos eleitorais; hoje, exibe menos de 23% com apenas 58 deputados. Nada acontece por acaso.
1.
Mas vêem-se por aí análises de especialistas e investigadores, de cientistas sociais, de politólogos, comentadores e jornalistas (e, diria um italiano, “chi più ne ha piú ne metta”) a explicar a derrocada do PS com a habitual conversa sem irem a um dos mais importantes factores da crise: a identidade organizacional do PS; a sua estrutura organizativa; o método de selecção da classe dirigente; o progressivo esvaziamento da dialéctica política interna (é cada vez maior a apresentação de candidaturas únicas sem competição interna) que leva a pactos internos entre os dirigentes em funções para que, em qualquer caso, mantenham firmes as suas posições na estrutura de poder, a relação com a sociedade civil; a força da “lei de ferro da oligarquia” partidária (Michels); a endogamia e não sei que mais… Uma das causas principais, se não a principal, reside, de facto, a montante, ainda por cima favorecida, a jusante, por um sistema eleitoral em listas fechadas unicamente com selo partidário a identificá-las e, em parte, com a “colonização” do território partidário pelas elites dirigentes, sobretudo quando o líder é primeiro-ministro e dissemina os seus escolhidos pela mancha partidária. O argumento para nada mudar, nem sequer com um mínimo de transformismo, costuma ser o dos combates que sempre espreitam à esquina, não havendo tempo a perder. Ladainha que se ouve sistematicamente sempre que parece ser necessário mudar alguma coisa. Nunca há, pois, tempo para isso, até porque os desafios vindos do exterior são sempre inúmeros e intermináveis. É assim que se desvitaliza um partido e é assim que demasiados personagens se perpetuam no poder. Conheço alguns que por lá andam há cerca de quarenta anos e, outros, mais novos, que foram para lá de cueiros e nunca mais de lá saíram. Sim, temos de falar de tudo o que é importante para o país, como diz o meu Amigo Miguel Coelho. Claro, mas se forem incapazes, autocentrados, videirinhos, carreiristas, se forem os mesmos de sempre, que só pensam em sobreviver à custa dos eternos lugares que ocupam, que discurso será esse? Sim, é preciso falar disso, mas a conversa não deve ser conduzida por quem chegou ao palco há décadas, através de sistemas de selecção pouco criteriosos, e nunca mais de lá saiu, sendo esses, portanto, também responsáveis pela crise, por mais que agora, já tarde, sejam os primeiros a gritar: “é preciso reflectir!”. O funcionamento interno do partido não interessa nada, em tempo de hiperpersonalização da política? Admitindo que é sim (mas não é), então deveriam surgir hiperprotagonistas, hipersonalidades e não carreiristas e personagens de segunda ordem formatados pela propaganda e pelas televisões. Não me refiro a alguém concreto, mas à lógica dominante. Pergunto: a marca do veículo político é tudo, não interessando se está ou não com graves problemas de gestão, de produção, de mercado e de ajustamento às profundas mudanças no sector? A marca é mesmo tudo, mesmo que o motor esteja a cair de podre ou “gripado”? O importante é o movimento, mesmo com os pneus furados? O mesmo poderia valer para uma boa peça de teatro ou um bom filme de autor interpretados por actores medíocres, por melhor que fosse a cenografia, a música ou até o nome da companhia. E esta não é uma questão de somenos.
2.
Quanto a mim, este é um dos mais graves problemas do PS porque dele derivam todos os outros, o problema da classe dirigente e dos mecanismos de selecção. Um partido da importância histórica e da dimensão do PS não pode ser transformado numa imensa federação de interesses pessoais disfarçados de interesse público. Os que por lá andam têm-se movido pelo interesse público ou por puro interesse pessoal? Que provas deram na sociedade civil ou na vida profissional, quando a tiveram e se a tiveram? Que preparação intelectual demonstram ou, pelo menos, que capacidade têm para mobilizar os melhores recursos de que o partido pode dispor? O método de selecção dos dirigentes é o melhor, mais eficaz e correcto? O partido tem vida própria para além do que os recursos e as posições derivadas do Estado lhe dão? Que ideia tem o partido de si próprio, ou seja, que identidade? Para que serve? Para resolver os problemas dos que por lá andam ou para resolver os problemas do país? Que tipo de vida o partido deve animar no seu próprio interior? Como mobilizar os seus militantes e simpatizantes? De que recursos dispõe não só para gerar pensamento, incorporando e metabolizando o que de melhor possam produzir os seus “intelectuais orgânicos” (para usar um conceito de Gramsci), mas também para o disseminar? Como pode o partido intervir nos organismos da sociedade civil, não para os ocupar instrumentalmente, mas para os animar com as suas ideias e a sua acção, não intervindo com uma lógica puramente instrumental (como tem vindo a acontecer com certos sindicatos e certas ordens profissionais)? A resposta a todas estas questões infelizmente não me parece que seja interessante e mobilizadora.
3.
De qualquer modo, só depois de respondidas essas e outras questões, que a seguir enunciarei, poderão ser enquadradas as políticas concretas (as policies), que, de resto, deverão ser identificadas no quadro de uma boa cartografia cognitiva (Jameson) e dos valores partilhados pelo partido e radicados na sua tradição ideal. Só depois as respostas aos problemas podem ser dadas, com identificação precisa da “causa causans” do problema e do “princípio activo” que permitirá dar-lhe uma resposta eficaz.
4.
Os aspectos até aqui referidos são de extrema importância porque serão eles que balizarão as respostas para os grandes problemas com que se debate o país. E as questões, que se cruzam com as propostas programáticas concretas e com as soluções, são estas, entre tantas outras:
- Qual é, para o PS, o espaço que o Estado deve ocupar e o papel que deve desempenhar relativamente à sociedade civil (veja o meu artigo “O Estado enriquece a middle class empobrece”, no seguinte link: https://joaodealmeidasantos.com/2022/03/08/artigo-63/ )? Na verdade, o PS, nas políticas que tem promovido, tem dado ao Estado um excessivo protagonismo e esta é questão a clarificar, até porque ela tem a ver com a questão que se segue.
- Qual é a relação do PS com o liberalismo clássico? Continuará a identificar o liberalismo clássico, aquele que está na matriz da nossa civilização (veja-se os 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789), com uma tradição que seria alheia ao seu património ideal, designadamente com o neoliberalismo, tendo chegado ao ponto de identificar a “terceira via” de Blair (e de Kinnock e John Smith) como neoliberal?
- Deve ou não o PS diferenciar claramente a sua identidade, a sua estrutura nuclear, dos movimentos identitários, do wokismo, do revisionismo histórico e do “politicamente correcto”, quando se vêem tantos lá dentro a agitar alegremente estas bandeiras? No meu mais recente livro (Política e Ideologia na Era do Algoritmo, S. João do Estoril, ACA Edições, 2024) dedico uma parte inteira à desmontagem deste desvario pretensamente de esquerda (“Ideologia – A lavandaria Semiótica”: pp. 173-234).
- Deve o PS, que é um partido de homens e mulheres livres e iguais, definir-se como partido feminista?
- Qual o papel do sector privado e do mercado na resolução dos grandes problemas relativos à saúde e à habitação? O “princípio activo” (a solução) é o da intervenção pública em ambos os sectores?
- Que política fiscal (e em geral de intrusão financeira do Estado nos bolsos do cidadão) deverá ser implementada para devolver equidade e moderação fiscal à cidadania? Um exemplo muito significativo: considera o PS que pagar 23% de IVA sobre o gasóleo de aquecimento das habitações, designadamente nas zonas mais frias do país, é justo, sensato e aceitável, seja qual for a condição económica do cidadão?
- Considera o PS normal que em Portugal haja dois tipos de cidadãos: uns, de primeira classe (os funcionários públicos) e, outros, de segunda classe (os trabalhadores do sector privado, seis vezes mais numerosos do que aqueles, que trabalham 40 horas contra as 35 dos outros, estando sujeitos a despedimento quando o emprego daqueles é para a vida)? Não há sobre isto um sobressalto ético, mesmo à custa de um sobressalto eleitoral (que, mesmo assim, acaba por acontecer, como se viu)?
- Que política para proteger, mediante uma eficaz e permanente monitorização, o cidadão do livre arbítrio dos oligopólios (telecomunicações, electricidade, combustíveis, televisões, banca, centrais de distribuição), sendo certo que ele é impotente para fazer um controlo mínimo sobre os valores cobrados, que são elevados? No que toca à electricidade e às telecomunicações, a sua instalação, sobretudo nas freguesias mais pequenas deste país, é de péssima qualidade, arbitrária, de duvidosa segurança, criando um ambiente de “arraial minhoto” absolutamente inaceitável e prejudicial à atractividade destes territórios. Por exemplo, os dois mil e quinhentos milhões do PRR não deram para enterrar os fios de fibra óptica aquando da sua instalação por todo o lado (é só visitar uma qualquer aldeia do interior – por exemplo, as freguesias do concelho da Guarda)? O Estado nada tem a ver com isso? Não monitoriza o que se passa no território? Qual é a posição do PS sobre tudo isto (e descontada a negligência dos seus recentes governos sobre esta matéria)?
- O financiamento da dívida pública deve ser feito dominantemente (ou mesmo exclusivamente, como gostaria um tal João Duque, Presidente do ISEG e amigo da banca) no mercado financeiro internacional, como quis o ex-ministro Fernando Medina (veja-se a iniquidade e o erro na mudança dos Certificados de Aforro), em vez de ser progressivamente filiado na poupança nacional (que deveria ser incentivada, e não subordinada ao cartel bancário, e regulada através do Instituto de Crédito Público, IGCP, e até do banco público – veja sobre esta matéria o meu artigo “Confissões de um Aforrador” no link: https://joaodealmeidasantos.com/2023/06/06/artigo-105/)?
- Acha o PS normal que a política de investigação seja decidida integralmente por avaliadores estrangeiros, chegando ao ponto de os recursos hierárquicos (para a FCT) serem obrigatoriamente feitos em língua inglesa, contrariando o art. 54.º do CPA e obedecendo a uma progressiva imposição do novo esperanto mundial, a língua inglesa? Há uns anos publiquei sobre isto e sobre a política de género aplicada à investigação científica, no “Público”, uma Carta Aberta ao PM António Costa, que ficou sem resposta. Lembro também que, recentemente, em 21.05.2025, o Ministro das Relações Exteriores de Angola, presidente do Conselho Executivo da União Africana, perguntou numa conferência de imprensa, com Kaja Kallas, a responsável pela diplomacia europeia, no âmbito de um encontro ministerial entre a UE e a União Africana, em Bruxelas, se podia falar em português, a sua língua, tendo-lhe sido respondido que não existia tradução, podendo falar somente em inglês ou em francês. O que é curioso é que o inglês não é sequer língua nativa de nenhum Estado-Membro da União Europeia.
- Como pensa o PS repor no devido lugar a língua portuguesa perante esta colonização do nosso espaço cultural e institucional comum pelo inglês a níveis que podem ser considerados “pornográficos”? Isto em relação a uma língua falada por mais de 250 milhões de pessoas e válida para a ciência como qualquer outra (a ciência trabalha com conceitos, com “abstracções determinadas”, qualquer que seja a língua).
- Sobre as grandes plataformas digitais, qual é a posição do PS: promover um constitucionalismo digital e uma forte regulação do sector e promover, para além disso, a criação de uma plataforma digital da União Europeia que permita aos utilizadores migrarem para ela, ficando os seus dados de utilizador no espaço da União? Conhecendo-se hoje a orientação política dos senhores destas plataformas é, no meu entendimento, urgente criar uma grande plataforma digital europeia, não se ficando a União Europeia pela regulação e pelas multas (veja-se o meu livro acima citado).
- Sobre as agências de rating, sendo que as três que contam (Fitch, Standard&Poors e Moody’s), todas americanas e com mais de um século de existência, dominam quase a totalidade do mercado de rating (cerca de 95%, que, por exemplo, em 2011, ascendeu a cerca de 46 mil milhões de dólares, qual a posição do PS sobre a necessidade de uma forte Agência de Rating na União (não sei se apostando eventualmente no reforço da jovem agência de rating alemã, Scope Ratings, já reconhecida pelo Banco Central Europeu), e atendendo ao forte impacto das avaliações de rating sobre a economia e as finanças dos países singulares da própria União (e das empresas), ao valor do financiamento das dívidas públicas e, finalmente, ao valor das taxas de juros, em geral?
- Sobre a EU, qual é a visão do PS sobre o desenvolvimento institucional da União, sobre o alargamento/aprofundamento da EU: a posição designada por constitucionalista ou a posição funcionalista e intergovernamental, tendo em consideração que foi o Tratado de Lisboa que veio contornar o chumbo, devido a dois referendos negativos na França e na Holanda (em 2005), da Constituição Europeia ou do Tratado Constitucional, cuja institucionalização estava já num processo avançado?
E tantas outras questões poderiam aqui ser colocadas, mas creio que para o objectivo do artigo estas serão suficientes. Assim elas tenham uma clara e positiva resposta, dando com isso um sinal prometedor.
5.
Estas são algumas questões que não se vê afloradas no imenso fluxo verborreico que corre diariamente nessa imensa cloaca tóxica das televisões (todas) e que cobrem uma vasta e diversificada área de intervenção do Estado, mas que, por isso mesmo, gostaria de ver respondidas pelo candidato (se não houver competição) à liderança do PS, de modo a que os militantes (os que forem votar se não houver competição, como, estranhamente, parece, pelas palavras que proferiu, ser desejado pelo Presidente do Partido) possam votar em consciência. Respondidas com convicção e com firme propósito de as pôr em prática. Através das respostas ver-se-á se o PS está preparado para clarificar a sua identidade política sem se limitar a cantar loas à sua nobre tradição e ao seu velho património ideal. Na verdade, talvez por ignorância minha, nunca dei conta de uma profunda clarificação ideológica do PS, equivalente à que foi tentada (e não conseguida) por Hugh Gaitskell, nos anos cinquenta, pelo SPD, em Bad Godesberg, em 1959 (e conseguida), ou por Neil Kinnock, John Smith e Tony Blair, em 1985, 1987 e 1994 (veja o meu artigo de análise crítica da posição de PNS no artigo: “A social-democracia e o futuro – Um debate necessário. A propósito de um pequeno ensaio de Pedro Nuno Santos” – link: https://joaodealmeidasantos.com/2018/05/11/artigo-2/). Clarificação muito necessária até porque no espaço do socialismo democrático há pelo menos duas tradições historicamente bem demarcadas: a da social-democracia e a do socialismo liberal. Uma, historicamente mais efectiva e generalizada, mas em profunda crise por todo o lado; a outra, menos praticada, mas com uma ampla e rica tradição, que vai da Stuart Mill a Hobson, de Hobhouse aos irmãos Rosselli, de Dewey a Bobbio e ao Partito d’Azione, mas na qual pode também ser incluído Eduard Bernstein (veja o meu artigo sobre o socialismo liberal no link: “Afinal, o que é o socialismo liberal?” – https://joaodealmeidasantos.com/2023/09/27/artigo-122/). E não é indiferente extrair de ambas algumas lições que possam ajudar a uma melhor clarificação da sua identidade e a uma sua revitalização, em período de crise, a que urge pôr cobro se não quisermos assistir a uma profunda regressão, agora que o mundo parece ter uma liderança que reduz a política a uma questão de puro exercício do poder, se for necessário com a força, e que poderá ter força para atrair, como já aconteceu no passado, o direita moderada. Há, sem dúvida, um filão doutrinário muito rico que pode ser revisitado, mas há sobretudo necessidade de alinhar a identidade do partido pela evolução da sociedade contemporânea, rompendo com a velha tradição de fazer política por inércia.
6.
Infelizmente, sempre se tem verificado que não há tempo para tratar dos assuntos de natureza estrutural porque sobrevêm combates que se sobrepõem a cada etapa interna e a sobredeterminam, impedindo a reflexão, as reformas internas, o debate e, cada vez mais, até impedindo uma saudável dialéctica interna para a revitalização do partido, com efeitos de crescente desilusão e indiferença dos próprios militantes. É, também, de novo, este o caso, com autárquicas e presidenciais no calendário. Mas foi também assim logo a seguir ao apressado abandono da maioria absoluta do PS para que António Costa pudesse rumar, sem entraves nem mancha ética, a Bruxelas, deixando uma herança de cuja trágica dimensão só agora nos estamos a aperceber na sua plenitude. Os famosos Estados Gerais de PNS, e de inspiração guterriana, nem sequer se iniciaram, devido à atracção irresistível por novas e miríficas eleições antecipadas, justificadas em nome da ingénua coerência do discurso do líder. A verdade é que a conquista do aparelho de Estado parece ter-se transformado numa caça ao tesouro que une toda a classe dirigente, mais para se resguardar das intempéries da vida (que só se vive uma vez) do que para mudar o país. A fuga ao combate autárquico em Cascais de Marcos Perestrello (a crer nas notícias que circulam e não desmentidas), dando lugar a uma infeliz candidatura do actual presidente da concelhia, é um mero e deplorável exemplo disso mesmo. E assim o PS se vai desgastando até à irrelevância. Vêem-se agora muito bem as consequências dessa atracção irresistível pelas eleições com a preocupação por uma eventual mudança constitucional que, pela primeira vez, poderá prescindir do PS, podendo mesmo acontecer que haja uma profunda e preocupante alteração do regime. Exemplo: a privatização da segurança social, com os riscos inerentes às inesperadas e não controláveis flutuações do mercado de capitais e dos tumultuosos fluxos financeiros internacionais, tudo numa gestão privada que não terá os instrumentos de que o Estado dispõe para evitar a desgraça dos pensionistas e dos que descontam. Isto chegou a um ponto tal que até parece que os dirigentes do PS já só podem rogar para que o PSD não traia a confiança constitucional que tem existido até hoje. E é o que, lamentavelmente, está a acontecer.
7.
O PS é, sim, uma marca de prestígio e, por isso, merece que se cuide dela antes de a voltar a pôr activa no mercado para disputar com sucesso a liderança. Bem sei que vivemos numa época em que as aparências parece dominarem a vida social, em que a política vive sobretudo da teatralização de programas e de actores, onde o Estado parece estar raptado por duas visões opostas, mas ambas erradas e perniciosas: o Estado paternalista e caritativo que se substitui à iniciativa da sociedade civil ou aquele que, depois de garantir minimamente as funções de soberania (ma non troppo), só serve para desviar do Estado recursos públicos para os mais poderosos e infinitamente ávidos de poder financeiro (esta, a dominante, actualmente). Duas visões estatistas, mas de sinal oposto. Ora, nisto, o PS ocupa um posição virtuosa porque matricialmente nem se identifica (deve identificar) com uma nem com a outra. E, todavia, tem acontecido que se tem desviado para a primeira em nome da glorificação e da heroicização da pobreza por contraposição a uma visão trágica do capitalismo e da riqueza, fazendo do Estado Social o seu único horizonte estratégico sem cuidar de garantir aquilo que o pode permitir, sem assaltar os bolsos da classe média, ou seja, a criação da tão execrada riqueza. Mas este seu desiderato, sendo legítimo, desde que moderado, eficaz e não paternalista nem caritativo, não pode ser o único porque muito maior e complexo é o caderno de encargos que um partido como o PS deve assumir e executar. Esta derrocada deveria servir para parar, pensar e tomar medidas de fundo corajosas: as que não pactuem com os mesmos de sempre, os que vivem enclausurados nas paredes do partido ou do Estado e que parecem incapazes de respirar cá fora. Não sei o que aí virá, mas suspeito. De qualquer modo votarei, mesmo que ninguém responda às questões que aqui deixo.
8.
Há um princípio básico que deveria estar sempre presente na mente dos que fazem política: ela deriva da sociedade civil e serve para resolver os seus problemas, não os de quem à política se dedica. Só indirectamente. O que não pode acontecer é uma inversão (ideológica) da realidade: ser a sociedade civil a servir o Estado, em vez de ser o Estado e os seus agentes a servirem a sociedade civil. O que é preciso é fazer crescer a sociedade civil, torná-la robusta, não é fazer crescer o Estado à custa da sociedade civil, do seu enfraquecimento, numa política sanguessuga, para depois aquele ser pasto de alimento para a oligarquia partidária. Mas eu sei que o PS está cheio dos que pensam ao contrário, com uma motivação perfeitamente errada: é que fazendo crescer o Estado (à custa dos que criam riqueza) pode depois ser devolvida essa riqueza aos que não a produzem, seja qual for a motivação, a causa, a razão. Em nome da pública e laica caridade. Sabemos bem onde levou o estatismo exacerbado e a economia de plano. A decadência da social-democracia deve-se também a este tipo de pensamento e de actuação.
NOTA
Para aprofundar a reflexão sobre o PS, aconselho estes dois artigos de minha autoria:
“PS – ENTRE O PASSADO E O FUTURO”.
Link: https://joaodealmeidasantos.com/2023/11/21/artigo-130/
“CINQUENTA ANOS – E AGORA, PS?”:
Link: https://joaodealmeidasantos.com/2023/04/18/artigo-98/
JAS@05-2025
NOTA sobre o Artigo
das quartas-feiras
Está escrito e ilustrado o Artigo que deveria publicar hoje e que tem como título:
“CADERNO DE ENCARGOS O PS e o Futuro” João de Almeida Santos
No entanto, decidi publicá-lo somente amanhã, quinta-feira, depois de serem conhecidos os resultados provisórios dos círculos eleitorais da Europa e fora da Europa (ou, pelo menos, a tendência dominante e já segura do voto).
Poderei assim ser mais concludente (e útil) na minha análise.
A DERROCADA
João de Almeida Santos
PARA O PS, O RESULTADO DESTAS ELEIÇÕES só poderia ser este: a demissão de Pedro Nuno Santos (PNS). Cometeu o erro de, em nome da sua própria coerência, fazer o que Luís Montenegro (LM), seu adversário, queria: branquear com eleições o seu comportamento. E, de facto, branqueou e até aumentou em nove o número de mandatos (ainda não se conhece o destino dos 4 mandatos da emigração). O que até nem é grande coisa, se considerarmos que este resultado é inferior, em cerca de 2,5 pontos percentuais, à média geral dos resultados obtidos pelo PSD desde o 25 de Abril, ou seja, em 17 eleições. Mas serviu plenamente o objectivo de LM. E PNS acabou por pagar o preço final pela queda aparatosa que o PS sofreu. Há que reconhecer que não esperou que outros pedissem a sua cabeça (mas um deles, que nunca saiu da bolha partidária e que agora não sai das televisões, já o tinha feito): foi ele próprio que assumiu que não poderia reconhecer como primeiro-ministro alguém a quem não reconhece idoneidade moral para o cargo. Conclusão obrigatória para quem cultiva a coerência, que, como se viu, em política se pode transformar em rigidez fatal. PNS poderia ter assumido que, mesmo gravemente ferido, daria combate (como parece que irá fazer Mariana Mortágua), mas as vozes internas dos que há muito se distanciaram dele aumentariam de intensidade e tornariam o combate ainda mais difícil. Até porque aos erros cometidos (e foram muitos) e à deficiente organização do partido se junta uma crise que é estrutural e que afecta toda a social-democracia europeia. Que chegou aqui tarde, mas chegou. Esta, a primeira conclusão destas eleições.
1.
Depois, a catástrofe de, provavelmente, e pela primeira vez na história da nossa democracia, o PS passar a ser o terceiro partido no sistema de partidos português, ultrapassado por um recente partido da direita radical, se se verificarem os resultados de 2024 nos círculos da Europa e fora da Europa, onde o CHEGA obteve dois dos quatro deputados. É certo que em 1985 o PS, com António de Almeida Santos como candidato, obteve um resultado inferior, em percentagem, ao de domingo, cerca de 21%, mas tal facto tinha uma clara explicação: o surto do PRD (mas também em 1987, já com o PRD em queda, Vítor Constância viria a obter cerca de 22%). Inspirado na figura de António Ramalho Eanes, o PRD viria, naquelas eleições, a obter 18% dos votos, roubados no essencial ao PS. O PSD de Cavaco teve uma clara vitória, com cerca de 30%, se comparada com a derrocada do PS. Esta a segunda conclusão.
2.
O que se seguirá, depois disto, no PS, é motivo de preocupação. Em primeiro lugar, por não se vislumbrar (eu não vislumbro mesmo) eventuais sucessores capazes de inverter o ciclo de declínio, que parece ser estrutural, sobretudo porque me parece que a classe dirigente deste partido (toda ela) ainda não entendeu o que está a acontecer, num ambiente de progressivo esvaziamento do centro-esquerda por toda a Europa (o caso do SPD, na Alemanha, devia levá-la a reflectir). O PS tem, em boa parte, uma classe dirigente, por um lado, sem experiência de vida (é o que resulta do processo de gestação de uma parte significativa da classe dirigente a partir da juventude socialista) e, por outro lado, sem uma sólida cultura política que lhe permita sintonizar com a mudança, em vez de fazer política por inércia, repetindo mecanicamente lógicas e fórmulas ultrapassadas e não dando resposta às expectativas de uma cidadania que mudou profundamente de identidade. O que se vê são excessivos protagonistas de que não se conhece profissão e que toda a vida viveram e sobreviveram no interior da bolha partidária e das projecções institucionais que dela decorrem, sobretudo em períodos de vitórias eleitorais. Muitos há na primeira fila que nunca de lá saíram, conservando-se há décadas na bolha. Por outro lado, a endogamia é, também neste partido, muito intensa. Poderia referir nomes, mas não quero pessoalizar. Outras vezes o fiz, a propósito de malfeitorias cometidas no partido. Um exemplo? Acabar com o jornal de partido, desfigurando-o como uma simples secção de notícias do site do PS. Falo com total conhecimento de causa. Por outro lado, há muito que o PS desmantelou o pouco que tinha de estruturas onde ia acontecendo alguma reflexão sobre a política, ao mesmo tempo que foi fazendo política por inércia, não cuidando de preparar o complexo terreno do combate político quer no plano nacional quer no plano interno, vistas as profundas mudanças que estão a acontecer, designadamente no perfil ou na identidade do cidadão-eleitor. Isso vê-se com maior nitidez nos jovens. Na verdade, custa-me dizê-lo, mas o PS mais parece uma enorme federação de interesses pessoais do que uma organização bem estruturada e com um perfil doutrinário e estratégico à medida do tempo que vivemos. Basta fazer uma curta viagem pelos currículos dos dirigentes mais em vista ou uma análise mais fina das estruturas concelhias e distritais do partido. E o problema da organização é coisa séria, quer no que diz respeito à existência de sólidas e duradouras estruturas internas quer no que diz respeito à mobilização do seu enorme capital humano e profissional quer para o interior do partido quer para além dos muros do partido. Só que os que por lá andam “borrifam-se” para esse universo. Os que por lá andam desmultiplicam-se em cargos e impedem a introdução de sangue novo por receio de perderem os lugares e não terem para onde ir na sociedade civil. Não falo por falar ou por maledicência: é o meu partido, conheço-o razoavelmente por dentro e gostaria que tivesse ganho estas eleições. Mas tem de mudar de discurso, de protagonistas e de deixar que as eleições internas sejam transformadas em OPAs a uma empresa de sucesso que é preciso ocupar para garantir rendimentos.
3.
É por isso que quem vier liderar o PS deverá concentrar-se no próprio partido, antes de se lançar no combate contra os adversários políticos externos ou antes de transformar o “CHEGA” no seu principal adversário, tendo como resultado, como vem acontecendo, continuar a promovê-lo ao topo da agenda mediática e pública. Lembro-me bem da crítica que fiz quando decorreu a disputa pela liderança entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro – pouco ou nada sobre o partido disseram ou propuseram. O que considerei estranho num partido com a dimensão e as responsabilidades do PS e com tantas fragilidades internas claramente visíveis. O que se viu foi uma ideia de partido como pura máquina eleitoral que aspira a viver e sobreviver à custa do Estado. Até na sua visão interna tem sido estatista, por esta razão. Serve internamente quem nos garantir sobrevivência no interior do vasto e generoso aparelho de Estado. E, para além do crescente e preocupante discurso identitário e “politicamente correcto” que se vai instalando no seu interior, o que se vê como identidade programática própria é unicamente a ladainha inócua sobre um Estado Social em crise, numa versão cada vez mais de tipo “caritas”, esquecendo-se de que, afinal, foi um aristocrático conservador como Otto Bismarck que o lançou (Wohlfahrtsstaat – Estado do Bem-Estar), que a sua versão “caritas” ficou plasmada na doutrina social da Igreja (inspirada na encíclica “Rerum Novarum”) e que o famoso modelo social europeu assenta as suas raízes no Relatório Beveridge, coordenado por um liberal, o economista inglês William Beveridge, nos anos quarenta. Pobre visão esta: ficar reduzida ao modelo social europeu, sem o repensar naquilo que urge fazer para o conservar, tornar eficaz e consolidar, e sem conseguir erguer outras bandeiras em sintonia com os tempos que correm. Exemplos? A eficiência do Estado (e que não seja somente no saque fiscal); a defesa generalizada dos cidadãos/consumidores perante os inúmeros oligopólios diante dos quais o cidadão singular está completamente desarmado (banca, telecomunicações, electricidade, combustíveis, centrais de consumo, etc.); o fim do assalto fiscal à cidadania (impostos directos e indirectos, taxas, multas, de uma dimensão absolutamente inaceitável); a distanciação de uma visão que eleva a pobreza a modelo heróico do seu discurso político como contraponto de uma visão trágica do capitalismo e da riqueza; ou, ainda, a aceitação passiva e sem sobressalto ético de duas categorias de cidadão: o da esfera pública e o da esfera privada, onde uns trabalham 35 horas e outros 40; onde uns têm emprego garantido para a vida e os outros podem ser despedidos a qualquer momento; onde uns correspondem a cerca de 750 mil e os outros, o da esfera privada, a mais de 4 milhões e meio. Mas estes são apenas exemplos perante a modorra intelectual de um partido que aspira a representar o futuro, conjugada com um descuido generalizado na preparação dos combates políticos. Basta ver como estão a ser preparadas as eleições autárquicas (o caso de Cascais é inacreditável) ou como foram escolhidos os deputados quer nas legislativas quer nas europeias e como foi decidida esta última ida a eleições legislativas (em nome de uma ingénua coerência relativa ao que, um ano atrás, dissera o secretário-geral). Com a impreparação política dos principais dirigentes, é muito fácil compreender o desastre do passado domingo e a vitória de um centro-direita também ele pouco qualificado e de duvidoso perfil moral. A vitória do PSD (porque é do PSD que se trata, e não desse cadáver adiado que é o CDS de Nuno Melo) não foi algo de que se possa vangloriar (aumentou 9 deputados ou 10, com os 2 círculos que falta apurar), quando a seu lado cresceu imenso uma direita radical anti-regime. Que provavelmente acabará por ter 60 deputados (se repetir os resultados de 2024).
4.
Mas é preciso reconhecer que estas eleições tiveram outros efeitos sobre a chamada esquerda. E que é necessário ter na devida consideração. Confirmaram a irrelevância do PCP (que perdeu um deputado, ficando com três), mas sobretudo avançaram no processo de extinção de um Bloco de Esquerda dirigido por uma radical capaz de assustar mesmo alguém que se considere de esquerda. Ficou reduzido a um deputado, tendo perdido eleitores para o partido unipessoal “Livre”, dirigido por uma espécie de frade, levado ao colo pelo establishment mediático e que já exibe, sozinho, o mesmo número de deputados do PCP, Bloco de Esquerda, PAN e JPP. O que é espantoso é o crescimento global da direita, com uma maioria qualificada no parlamento, em condições, pois, de alterar a Constituição da República. Uma situação que pode levar a uma perigosa viragem radical no nosso ordenamento constitucional.
5.
Há muito que venho alertando para os problemas com que o PS se confronta (veja-se o artigo “Estupefacção” e os 16 anexos, links, todos sobre o PS, que aqui publiquei em: https://joaodealmeidasantos.com/2025/01/22/artigo-187/#respond), mas os que por lá andam têm mais que fazer do que ouvir os que, sendo militantes e com quotas pagas, fizeram as suas vidas a trabalhar sobre estas matérias e, em muitos casos, podendo exibir também experiência política, além de uma sólida experiência profissional. O PS é um grande partido, tem quadros altamente qualificados no seu interior, mas tem vindo a ser gerido de forma pouco esclarecida, pouco eficaz e mal alinhada com o que de mais nobre este partido representa. De repente, surgem génios da política só porque um PM do PS os chamou à governação, despachando-os, depois, para o governo do PS, numa operação que já qui designei como “colonização” do partido pelas escolhas pessoais e discricionárias do chefe. Foi a surdez desta classe dirigente que levou a esta situação, mas também já só faltava saber quando é que a crise da social-democracia europeia iria cá chegar. Soube-se agora que já chegou. Mesmo no Reino Unido, onde o Labour de Keir Starmer governa, as recentes eleições locais parece não serem de bom augúrio, vistos os consistentes resultados obtidos pelo Reform UK do radical e protagonista do Brexit Nigel Farage.
6.
É tempo, agora, de reflectir seriamente sobre o futuro de um grande partido como é o PS. Farei a minha parte, para além do que já fiz ao publicar recentemente o livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024), onde avancei com uma extensa análise da política actual, porque não sou indiferente à evidente crise do espaço político onde se inscreve a minha opção política. PNS foi atropelado pelos acontecimentos políticos de nível nacional e já nem pôde promover a reflexão colectiva que se impunha a um partido que cada vez mais está a precisar dela. O que se espera é que os acontecimentos políticos que se seguem não sejam a desculpa para, uma vez mais, adiar o que se está a tornar cada vez mais urgente. Que haja, pois, debate entre propostas políticas diferentes com protagonistas diferentes.
7.
Finalmente, parece-me justo deixar aqui uma pergunta que talvez nem precise de resposta: será Pedro Nuno Santos o único responsável por esta derrocada? A minha convicção é de que não é o único responsável por esta rápida evolução regressiva do PS, já que ela começou precisamente com o abandono de António Costa. Pedro Nuno Santos e o PS acabaram, assim, por ser as vítimas herdeiras da apressada partida de António Costa rumo a Bruxelas. JAS@05-2025
REFLEXÕES SOBRE A CONJUNTURA
Em Tempo de Eleições
João de Almeida Santos
SUMÁRIO. 1-2. Sobre a eleição do Papa Leão XIV e a reacção americana. 3-4. O caso de Alternative fuer Deutschland e a reacção americana. 5-10. As eleições legislativas de 18 de Maio de 2025.
1.
DOU SEGUIMENTO ao que escrevi no último Artigo sobre a eleição do novo Papa, que se viria a verificar no dia 8 de Maio, chamando a atenção para o que se iria passar: “A eleição do novo Papa, que começa hoje, com os ortodoxos em acção para evitarem a continuidade da linha do Papa Francisco”.
O que parece ter acontecido foi uma derrota em toda a linha dos ortodoxos, com a eleição de Leão XIV. Se o nome significar continuidade com o que representou Leão XIII – e significa, pelo que o Papa, entretanto, disse – isso representará uma grande atenção às “coisas novas” que estão a acontecer no nosso tempo, sobretudo no plano social, com a revolução pós-industrial e digital. A “Rerum Novarum”, de 1891, que pretendeu responder à fase da revolução industrial, é ainda hoje a bíblia da doutrina social da Igreja Católica e ela aconteceu (em 1891) poucos anos depois de Bismarck ter, nos anos oitenta do século XIX, inaugurado o chamado Estado Social. Mas este não será certamente um Papa ao estilo de Francisco. Isso pôde verificar-se logo na sua presença na “Loggia” central da Basílica de San Pedro, com os símbolos que sempre caracterizaram a figura papal na sua primeira aparição pública e que Francisco abandonara: a “mozzetta” vermelha, a estola pontifícia e o crucifixo em ouro. Ainda não se sabe se viverá no Palácio Apostólico (residência dos Papas desde 1870, com a excepção de Francisco), que deverá entrar em obras de reestruturação. Aguarda-se a decisão de Leão XIV para que se complete a simbologia ligada à tradicional figura do Papa. Mas o que já se viu indicia uma reposição (embora parcial, pois parece não integrar os clássicos sapatos papais) da simbologia abandonada teatralmente por Francisco, o que na altura (em 2013) deu lugar a fortes polémicas em Itália.
2.
Entretanto, o que se sabe é que os ultras do movimento MAGA, expressando, também aqui, o seu radicalismo, não ficaram satisfeitos com a eleição deste Papa, apesar de ser americano. Por exemplo, Steve Bannon ou Laura Loomer. Diz esta: “É anti-Trump, anti-MAGA, um woke a favor de fronteiras abertas. É um convicto marxista como o Papa Francesco. Os católicos não têm nada de bom a esperar: uma outra marioneta marxista no Vaticano”. Esta senhora, influencer, é muito chegada a Trump e uma ultra do MAGA. Está tudo dito. The show must go on.
3.
Novos desenvolvimentos sobre a declaração de Alternative fuer Deutschland (AfD) como movimento “extremista de direita”, com aquele partido a recorrer judicialmente, junto do Tribunal Administrativo de Colónia, contra o Departamento Alemão para a Defesa da Constituição (BfV) e este Departamento a suspender provisoriamente a classificação até que termine o processo judicial em curso. Lembre-se que esta classificação pode levar à suspensão do financiamento público do partido e até à sua ilegalização. Entretanto, as autoridades políticas máximas dos Estados Unidos, Trump e Marco Rubio, além do incontornável Musk, já declararam, pela voz de Rubio, a Alemanha como uma “tirania disfarçada” e não como uma democracia. Já não o fazem por menos. A declaração foi de Rubio, Secretário de Estado: “Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy – it’s tyranny in disguise”. Clara manifestação de apoio à AfD, que, entretanto, já mereceu uma resposta do MNE alemão: “This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped”. Pelos vistos, a trupe da Trump nada aprendeu com a história.
4.
Preocupante é que os protagonistas institucionais do maior ataque até hoje desferido contra a democracia americana venham fazer declarações públicas deste jaez, sem pingo de vergonha. Acresce a estranha declaração de Trump sobre a Constituição americana, não saber se tem o dever de a respeitar, esquecendo-se do juramento que fez na tomada de posse como Presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, que: “I do solemny swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States”.
5.
Por cá, entre nós, há um aspecto importante que merece ser sublinhado: já enjoa o que se vê e se ouve nas televisões, a um ponto tal que julgo ser acertado dizer que se tornaram verdadeiramente tóxicas. Sim, tóxicas e fontes de desinformação. Uma verdadeira intoxicação nacional. Elas tornaram-se o espaço decisivo onde está a decorrer a campanha eleitoral, com montes de intérpretes (os famosos comentadores), sem qualificação que se lhes conheça, a explicarem aos telespectadores o significado do que estes também vêem, sabem e viram. As televisões já não são espaços de informação, mas espaços de opinião mal-amanhada. Os programas dos partidos são ilegíveis, pela montanha de páginas que tudo dizem e nada explicam. O conjunto dos programas dos partidos com assento parlamentar, a saber, PSD/CDS (AD), PS, Chega, IL, Livre, BE, PCP, PAN, corresponde, nada mais nada menos, a 1452 páginas. Repito, por extenso: mil quatrocentas e cinquenta e duas páginas. Algum eleitor lerá, como, em tese, deveria, dada a importância da decisão eleitoral, estas páginas? O que sobra, pois, são fórmulas publicitárias e, como disse, os “pistoleiros” (sobretudo) televisivos de serviço a tentarem convencer o eleitor de que a verdade está do seu lado e das forças políticas e interesses que representam. Nem vale a pena dar exemplos, de tão evidente e amplo ser este fenómeno. Mas a verdade é que, em tese, os eleitores deveriam conhecer os programas dos partidos, conhecer os candidatos que aspiram a ser eleitos e os estatutos dos partidos que se apresentam a eleições e nos quais se vota. Todos, todos, todos, para uma decisão reflectida e argumentada. Mas, assim, estaríamos quase ao nível de um pequeno curso profissional, tendo em consideração a dimensão dos documentos (1452 páginas só para os programas dos partidos com assento parlamentar) e do trabalho de investigação sobre os candidatos (e não só sobre os líderes). Na prática, nada disto acontece, mas tenho a certeza de que os “comentadores” leram tudo. O que, entretanto, sobra, para o vulgo, ou seja, para todos nós, são vagas impressões, o impacto da propaganda e um impreciso sentimento de pertença. A informação sobre o que está em causa é o que menos importa. A consolação que nos resta é a de que sempre temos quem se informe por nós e nos instrua acerca da decisão que todos devemos tomar. Alguém duvida de que Ricardo Costa, Bernardo Ferrão ou a senhora Ângela Silva leram todos os programas, todos os estatutos e as biografias de, pelo menos, 230 dos inúmeros candidatos? Eu não. Amen.
6.
Só o Bloco de Esquerda apresentou um Manifesto eleitoral de dimensão reduzida: dezasseis páginas (mas não sei se tem um programa eleitoral com 200 ou 300 páginas). Portanto, um documento acessível e legível. Fui lê-lo e o que vi? 1) Habitação – resolução administrativa de um grave problema económico estrutural; 2) Trabalho – trabalhar menos e ganhar mais, antecipação da idade de reforma e, se possível, acabar com os turnos nocturnos (visto que representam uma inversão do ciclo natural da vida) ou remunerá-los e regulamentá-los melhor; semana de trabalho de 4 dias, salário mínimo de 1000 euros (já em 2026) e reforma aos 40 anos completos de contribuições; 3) Riqueza – acabar com os super-ricos e distribuir a riqueza por todos; 4) Impostos – imposto sobre as grandes fortunas (acima de 3 milhões de euros) e imposição de um leque salarial; 5) Público versus Privado – privilegiar o público contra o privado (hospitais, TAP, CP); fim das privatizações e da exploração mineira rejeitada pelas populações; 6) Energia – transição ambiental até 2030, renacionalizar as empresas privatizadas, transportes públicos gratuitos em todo o país, travar a exploração extractivista, as indústrias poluentes e reflorestar o país; 7) Contra a extrema-direita – pelos direitos das mulheres e das pessoas com deficiência e acesso ao aborto seguro; 8) Imigração – contra o racismo estrutural (um saborzinho a woke); 9) Serviço Nacional de Cuidados – para protecção das crianças, idosos e pessoas com deficiência; 10) Digital: segurança e protecção contra o cyberbulling das grandes plataformas digitais e serviços públicos digitais; 11) Internacional – contra a Rússia, Israel e USA, contra o rearmamento europeu à custa do Estado Social, a favor da Palestina e do Saara ocidental, devendo a UE aceitar a soberania dos seus Estados e organizar-se militarmente fora da NATO e do controlo americano. No essencial é isto. E li e escrevi tudo isto em cerca de uma hora e vinte e cinco minutos.
7.
Ao menos, o Bloco diz claramente ao que vem e de forma directa, simples e acessível. Há ali propostas partilháveis, mas a filosofia de fundo não o é, pelo seu radicalismo, irrealismo e impraticabilidade. Por exemplo, não me parecem possíveis transportes públicos nacionais gratuitos, semana de 4 dias (mas o governo do PS andou a estudar isto), resolver o problema da habitação por via administrativa e impositiva. Por exemplo, a proposta de bloquear administrativamente as rendas corresponderia a uma contracção do mercado de arrendamento cuja expansão parece ser, no meu entendimento, a solução para o problema da habitação (preço para venda das casas e rendas). Mas o que quero sublinhar (sem discutir o programa, com o qual não concordo) é que se esta dimensão do programa é aceitável, seria também desejável evidenciar o “princípio activo” de cada solução para os principais problemas do país, a respectiva causa e a correspondente solução, sem aumentar a dimensão do documento. Só escreve muito quem não tem clareza de análise. Mas, repito, o princípio está certo, embora o conteúdo não seja aceitável na sua maior parte nem explicado no essencial, no que interessa. O manifesto também é muito elucidativo pelo que não diz. Mas esse é outro assunto.
8.
Em termos gerais, é provável que o resultado destas eleições não altere significativamente a situação que temos neste momento. E, se assim for, haverá que perguntar o seguinte: por que razão fomos para eleições, se isso já era previsível, dada a progressiva fragmentação do sistema de partidos? Fomos para eleições para branquear o comportamento de Luís Montenegro (solução PSD)? Ou fomos para eleições para punir Montenegro (solução PS)? É que a causa das eleições foi exactamente o comportamento de Luís Montenegro, tendo, todavia, sido possível evitá-las através da abstenção do PS. Na verdade, vamos para eleições legislativas como quem vai para um plebiscito travestido: na causa está inscrita a consequência (que, neste caso, é incomensuravelmente maior).
9.
Se o resultado for a vitória da AD, então esteve mal Pedro Nuno Santos ao fazer a vontade a LM e ao não se abster para que não houvesse eleições e para que fosse apurado (por uma CPI) tudo o que houvesse a apurar? Se, pelo contrário, o PS ganhar as eleições e conseguir formar governo, então elas teriam sido benéficas porque teriam correspondido à vontade de os eleitores afastarem LM da chefia do governo? Sempre de um plebiscito se trata, qualquer que seja o resultado. Eu creio que há uma gigantesca desproporção entre a causa que motivou as eleições e a sua consequência, porque o comportamento de uma pessoa concreta nunca deveria ser causa de um processo desta dimensão: decidir quem irá governar o país (apesar da cada vez maior hiperpersonalização do sistema político). Disse-o em relação ao abandono de António Costa e digo-o agora. O PR, o Ministério Público, o PSD, o próprio e a oposição tudo deveriam ter feito para confinar o processo à pessoa de LM e agir em conformidade. Retirá-lo ou não de cena. E isso poderia ter sido feito através de uma CPI. O país é maior do que LM ou do que PNS e ao terem decidido chamá-lo a votos em razão de um comportamento individual deram um grave sinal de desvio daquilo que um país deve sempre preservar – a robustez e a centralidade das instituições em face da fragilidade e da precariedade dos seus intérpretes. O PR esteve mal ao não nomear um outro PM quando a confiança foi negada a este, tendo em consideração a causa da recusa de confiança pelo Parlamento. E o PSD também. As eleições legislativas não podem ser transformadas em plebiscito sobre uma pessoa, seja ela quem for. De resto, a CPI, ao tornar mais claro e fundamentado aquilo que já se sabe, iria certamente obrigar o próprio Ministério Público a investigar o caso. Acresce ainda que, chegados aqui, um qualquer partido político poderia e deveria perguntar ao Presidente da República por que razão mantém ilegalmente em funções o actual PGR, escolhido precisamente por Montenegro (veja-se a Lei 68/2019, de 27.08, os art.s 13 e 193, que não deixam margem para dúvidas). Tudo em nome da sanidade do nosso sistema político. E os plebiscitos são realmente de má memória.
10.
Na verdade, o que teremos no próximo domingo é um teste civilizacional e de maturidade democrática ao nosso país. Já que foram chamados a isso, saberemos se os portugueses aprovam o comportamento de um primeiro-ministro que continua a sua actividade de lobbing remunerado, sendo primeiro-ministro, abrindo, assim, as portas a um futuro onde vale tudo, onde a política é o canal aberto, seguro e legítimo para facturar usando a rede de influências construída na política e com os cargos institucionais entretanto desempenhados. Se a resposta for positiva, depois disso, quando se falar de corrupção, a única reacção legítima será a de uma sonora e resgatadora gargalhada. JAS@05-2025
TEMPOS DIFÍCEIS
João de Almeida Santos
NÃO FALO DA GLOBALIZAÇÃO, de repente formatada de acordo com as idiossincrasias de um indivíduo que, governando o mais poderoso país do mundo, vê o planeta à escala do seu umbigo – um senhor chamado Donald Trump. Não falo do quase colapso de uma grande democracia como é, ou era, a americana. E não falo da guerra territorial do novo czar russo a um país independente com mais de 40 milhões de habitantes e mais de 600.000 km2 de território. Nem da pandemia universal que paralisou o mundo. E muito mais haveria a dizer por quem acha, e com razão, que estamos a viver tempos difíceis. Não, eu prefiro falar do que está a acontecer no nosso país.
1.
Falo do apagão de 28 de Abril e da incompetência do governo de Luís Montenegro (LM), que se reuniu, não para resolver o que quer que fosse, mas para combinar o que haveria de dizer quando a REN tivesse o problema resolvido. O episódio dos jerricãs com gasóleo para a Maternidade Alfredo da Costa diz tudo. Foi certamente para isso que a senhora Ministra do Ambiente esteve a trabalhar 24 horas, ininterrupta e silenciosamente, entre as 11:33 e as 11:30 do dia seguinte. Dizia-me um Amigo meu, empresário, que nem sequer se lembraram de aprovar uma deliberação do Conselho de Ministros que permitisse, provisoriamente, a circulação de mercadorias (por exemplo, as de bens alimentares perecíveis) sem os documentos requeridos, mas com apresentação subsequente depois de regularizado o funcionamento do site da Autoridade Tributária (que, pelos vistos, ainda continua instável, como noticiava o jornal “Público” de ontem, na pág. 24). O meu Amigo só pôde reiniciar a sua actividade quando o site da AT ficou disponível, ou seja, dois dias depois do apagão. Mas também não tive conhecimento de informações oficiais ao longo do dia – mas ressalvo, claro, as que a senhora Ministra do Ambiente não podia dar porque estava a trabalhar denodadamente -, ao contrário dos habituais conselhos da Protecção Civil para me agasalhar se estiver frio, de usar guarda-chuva se chover e dos infinitos avisos arco-íris sobre o tempo que fará ou que não fará. Coisa, de resto, muito fácil: hoje, é aviso laranja, estejam atentos e, se faltar a luz, acendam velas, mas com cuidado! Muito mais eficiente fora o governo a anular os festejos do 25 de Abril porque morrera o Papa, fazendo entrar a liberdade de luto, ainda que, ao aperceber-se de que Portugal é um Estado laico e de que as críticas choviam de todo o lado, tivesse feito (parcial) marcha atrás no que ainda era possível. Sobrou para o Primeiro de Maio a festa nos jardins de S. Bento, com o sugestivo nome de “S. Bento em Família” (a lembrar as “Conversas em Família” do então inquilino de S. Bento, Marcello Caetano) com cultura a rodos: a dupla Tony Carreira/Luís Montenegro, o “Cante” alentejano e os “Pauliteiros de Miranda”. Só lá faltou um rancho folclórico de Espinho. Isto, sim, que é cultura – “Vira que vira, / Canta que canta, / Isto é qu’é bom, / Antes da janta”.
2.
Entretanto, vamos para eleições porque ficou em causa a seriedade do primeiro-ministro. Foi esta a causa, como se sabe. Mas ele acha sinceramente que não, apesar de receber avenças de várias empresas (por interposta família, mulher e filhos), sendo primeiro-ministro. A empresa era (é) ele, a morada era a sua, o telefone também, site não havia e de competências e de funcionários também não dispunha. E parece que também não havia contratos. Que raio de empresa era esta? A empresa era ele, o político que é eficaz a gerir expectativas a seu favor. E está casado em comunhão de adquiridos com a senhora a quem passou a titularidade da empresa (além dos filhos de ambos). Umas horas antes do debate com Pedro Nuno Santos ficou-se a conhecer o nome de várias empresas com quem Luís Montenegro teve negócios e cuja relação com o Estado terá atingido 278 milhões, sendo 112 milhões durante o período em que foi primeiro-ministro, segundo as contas feitas pelo “Expresso” (02.05.25). Soube-se da informação que o próprio prestou à Entidade para a Transparência (EpT) no dia anterior ao debate com Pedro Nuno Santos e sabe-se agora que, afinal, esta transparência não devia ser transparente, ou seja, acessível aos meios de comunicação social e aos cidadãos. Pelos vistos, a palavra “transparência” não significa o que vem nos dicionários de português e o art. 16.º do Estatuto da EpT (Lei orgânica 4/2019, de 13.09), que diz que as declarações são públicas, não está em vigor. Ou seja, não se trata de uma entidade para a transparência, mas de uma entidade para a ocultação de rendimentos e de prestação de serviços (pelo menos, até que o processo eleitoral, em curso, termine). “Iremos até às últimas consequências”, disse, a própósito, um tal Hugo (Soares ou Carneiro, não interessa, que são farinha do mesmo saco), verdadeiro paladino da transparência (de outros). O mesmo que não tem sido pródigo na crítica à catadupa de segredos de justiça regularmente divulgados pela imprensa. Esses, sim, crimes, nos termos da lei.
3.
A verdade é que outros clientes de Luís Montenegro têm sido divulgados pelo próprio. Qual é, pois, o problema de serem paulatinamente divulgados mais uns tantos? Este tipo de divulgação não me parece que esteja proibido (são já muitos os advogados que sustentam esta tese, que, de resto, é evidente, nos termos da lei e a começar logo pelo nome da respectiva Entidade), até porque não toca em aspectos sigilosos profissionais (como, por exemplo, a ficha médica de um doente ou a reserva no exercício da advocacia). Mas não, pois, pelos vistos, já se pretende investigar as fontes que terão transmitido aos jornalistas informações não proibidas pela lei e, bem pelo contrário, legalmente disponíveis para conhecimento público. Entretanto, que diferença há entre o Grupo Solverde e o Grupo Trivalor para divulgar um e não o outro (mais concretamente, a Itau e a Sogenave)? Só porque um pagava avenças regulares e o outro (que se saiba) não? Não se entende a posição do Hugo (Soares ou Carneiro, pouco importa) e de outros sobre este assunto, a não ser para desviarem a atenção (“cortina de fumo”) do verdadeiro conteúdo revelado. Por exemplo, que o famoso gasolineiro de Braga, o tal que pagou 194 mil euros (mais IVA) para LM lhe “reestruturar” a empresa, tem mais duas empresas clientes da Spinumviva (duas áreas de serviço), sempre segundo o “Expresso” (veja-se o excelente artigo deste semanário, da autoria de Liliana Valente e de Michael Pereira, na página 14 da edição de 02.05.25). Mas soube-se também, e isso é que é importante, depois do debate com Pedro Nuno Santos, que Luís Montenegro é um gigante da ética e das coisas sérias (com certificação logo exibida publicamente pelo campeão da ética, Cavaco Silva, o do BPN e da casa da Coelha). O que se sabe também, é que LM tudo fez para que a sua nova declaração à EpT não fosse conhecida antes do debate com Pedro Nuno Santos (mas o apagão trocou-lhe as voltas) e que essa informação ficasse retida nesta Entidade até depois das eleições (mas foi descoberta e publicada pela imprensa). Mas talvez o próprio ache sinceramente que tudo isto é normal e que, daqui para a frente, com a legitimação eleitoral, o primeiro-ministro passe a poder a receber avenças sem qualquer problema, desde que o “gabinete de avenças” não funcione no Palacete da Rua da Imprensa à Estrela. Para que isto não seja possível, o que se espera é que o eleitorado mostre lucidez (não a que referem Ferreira Leite ou Marques Mendes) e não certifique, com o voto, este tipo de comportamento, não lhe devolvendo a confiança que o actual Parlamento lhe negou por uma quase maioria qualificada (cerca de 62%). Porque o que era preciso saber já se sabe. E até acho mais: que a natureza desta empresa é muito diferente – ao contrário do que diz Pacheco Pereira, no “Público” da passada sexta-feira – de um “centro de infuência” (rede externa ao poder), pela sua identificação exclusiva com um só personagem e com a sua morada e telefone privados (de LM). A definição mais ajustada seria, pois, a de um político lobista que actua de forma disfarçada para benefício próprio, usando como disfarce um nome de empresa. Nada tenho contra o “lobbing” (quando for reconhecido, regulamentado e legal, como por exemplo, nos Estados Unidos), o problema é que a figura do lobista neste caso coincide com a de um primeiro-ministro em funções.
4.
Qual é, pois, a causa destas eleições? A questão da seriedade de LM, do autodenominado paladino das coisas sérias e da ética. Disso ninguém pode duvidar porque foi por isso mesmo que o parlamento lhe retirou a confiança, a ele e, lamentavelmente, ao seu próprio partido (não falo do CDS porque esse e o seu risível líder pertencem à literatura Lilliput). Mas foi ele que, sabendo que não lha iriam dar, quis, mesmo assim, confirmar no parlamento que não lha dariam, avançando a toda a velocidade para eleições na esperança de que, arregimentando as tropas, como é habitual nestes casos, o voto popular lhe devolvesse a confiança que o Parlamento lhe retirou. Na esperança, pois, de que o voto venha branquear uma conduta claramente reprovável, comprovada abundantemente por notícias mais do que suficientes e que não só não foram desmentidas, como até foram confirmadas pelo próprio. O resto é fumo interpretativo para enganar o freguês eleitoral.
5.
Em rigor, nem se deveria discutir mais nada. Apenas a seriedade de alguém que recebeu avenças (directamente ou por interposta pessoa) enquanto era PM. Sinceramente, nem vale a pena discutir políticas porque elas nada dizem para além do que já sabemos (entretanto, soube-se, por palavras de LM, de que, noutro mandato, possa vir a privatizar a segurança social). Foi por isso que fizeram um programa eleitoral de 277 páginas. Para que ninguém as leia, nem sequer os candidatos a deputados. Na verdade, trata-se de um imenso cardápio que ninguém lê e que não explica o que quer que seja. Uma longa e pretensiosa conversa que não esclarece o leitor porque não diz qual é a “causa causans” de cada um dos grandes problemas do país nem o “princípio activo” da respectiva solução. Quem não quer ou não sabe explicar qual é o “princípio activo” das soluções (medicamentos) para os principais problemas do país publica cardápios de 277 páginas e não enuncia esses “princípios”. Lê-los é como estar a ler um enorme e pretensioso dicionário que fala eloquentemente de tudo sem dizer nada. Se virmos o caso da habitação, a solução (entre inúmeras e não hierarquizadas medidas) parece consistir na oferta pública de habitações (PSD e PS), além de o Estado ser também fiador para quem compra (no caso, os jovens até 35 anos – PSD), aumentando a procura e os inevitáveis efeitos sobre os preços. Entretanto, soube que no primeiro trimestre de 2025 entraram no mercado de arrendamento mais 49% de casas do que no período homólogo de 2024, o que, em parte, põe em crise o discurso do bloco central, convergente nesta área (dados que constam num artigo do professor Miguel Romão, no DN de 30.04.25, e que julgo ser elucidativo). Bem sei que isto não está a ter efeitos na baixa de preços e não supre a carência de habitações, mas deve suscitar uma reflexão diferente da que está a ser feita, retirando daí consequências. Mas de que uma efectiva expansão do mercado de arrendamento seja provavelmente o “princípio activo” da solução não se fala, sequer como hipótese, preferindo uma generalizada política “caritas” ou uma verdadeira “economia de plano” para o sector.
6.
Pelo menos, o PS publicou um cardápio com menos 42 duas páginas, o que, como é obvio, é igualmente desviante, por excessivo. Mas sobre a habitação alinha pela mesma bitola do PSD, o que, no meu entendimento, é errado, como também é errada a imposição administrativa de tectos às rendas, como quer a deputada e líder do Bloco, Mariana Mortágua. O estatismo na sua mais exuberante manifestação: resolver os problemas da economia por via administrativa, até que venha uma perestroika à portuguesa. Tenho a convicção profunda de que só a forte expansão do mercado de arrendamento (a tal causa causans) poderá produzir efeitos consistentes quer no próprio arrendamento quer no preço das casas para venda, o que, todavia, exige medidas inteligentes e coragem por parte do Estado, designadamente em matéria de impostos (e procedimentos) quer sobre quem arrenda quer sobre a construção, rompendo com a velha lógica do “se pago menos ao banco do que ao proprietário do imóvel, então endivido-me, por trinta anos, compro e, no fim fico com a casa”. Esta é, de resto, uma das causas do preço das casas: o crescimento desmesurado da procura (para compra) que torna mais cara a oferta, numa subida insustentável dos preços das casas, na compra e, já agora, no arrendamento. Isto é apenas um exemplo. E não falo dos efeitos de rigidez sobre o mercado de trabalho. O que, de facto, não é necessário é a lenga-lenga retórica dos intermináveis programas que nada explica e que, depois, acaba por resultar em nada. Como se vê.
7.
Na verdade, agora, que entrámos na campanha eleitoral, entre cardápios gigantescos que ninguém lerá (os dois programas dos partidos que aspiram a governar o país somam mais de 500 páginas) e frases e imagens de mero efeito retórico (sobretudo televisivo), que nada dizem, para impressionar o eleitorado, o que temos é um enorme vazio no diagnóstico rigoroso dos grandes problemas e das respectivas soluções, o que indicia que continuaremos a navegar à vista, acumulando problemas e, na medida do possível, deitando sobre eles montanhas de dinheiro, que vem ou da União Europeia ou dos impostos cobrados aos cidadãos. De resto, a eficiência do Estado em Portugal concentra-se somente numa área: a da cobrança de impostos, de taxas e de multas na circulação rodoviária. Quanto ao resto, é o que se tem visto. Amen, agora, que começou o Conclave.
ASSUNTOS A SEGUIR COM MUITA ATENÇÃO
- A eleição do novo Papa, que começa hoje, com os ortodoxos em acção para evitarem a continuidade da linha do Papa Francisco.
- A situação política no Reino Unido, onde a direita de Nigel Farage, Reform UK, teve um significativo sucesso nas recentes eleições locais da passada quinta-feira (estavam em jogo 1600 representantes locais, seis câmaras locais e até um lugar no Parlamento), em prejuízo dos conservadores e dos trabalhistas.
- A situação política na Alemanha, onde o partido Alternative Fuer Deutschland (AfD), de Weidel e Chrupalla, acaba de ser formalmente declarado organização “extremista de direita” pelo Gabinete Federal de Protecção da Constituição, justificada numa informação com mais de 1000 páginas, com graves implicações que podem ir até à limitação do acesso ao financiamento público e mesmo até à sua ilegalização. Situação deveras preocupante. JAS@05-2025.
NOVOS FRAGMENTOS (XV)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
A POESIA NÃO QUER ADEPTOS,
QUER AMANTES
JÁ UMA VEZ, e por sugestão de uma Amiga, comentei estas palavras de Federico García Lorca. Que querem, simplesmente, dizer que a poesia tem de ser sentida para ser partilhada e compreendida. Não há nela, como nas artes de palco, uma separação tão nítida entre o leitor e o poeta. O leitor apropria-se dela, identifica-se com ela, torna-a sua, com plena legitimidade. Isso está inscrito na sua matriz. Não há, aqui, usurpação. A música que ela contém e que se ouve está a ser simultaneamente trauteada pela alma do leitor. Como no amor. Não há esse “efeito de estranheza”, Entfremdungseffekt, de que falava o Brecht. O aplauso corresponde aqui a pura sintonia no sentir – syn-pathein. Neste sentido, o leitor também é poeta. É uma leitura por dentro – lê-se com a alma e torna-se nosso o que lá está (disponível para a partilha). É sentir em simultâneo. A poesia é um encontro de almas em ausência. E o poeta encontra-se, assim, com a alma gémea que partiu ou nunca chegou e com todas as que alguma vez experimentaram um sentimento de perda. É por isso que a poesia é um imenso campo de encontros, mas sobretudo de desencontros partilhados. É nisto que reside o seu poder, a sua força.
RECOMEÇAR
A viagem poética não tem fim, nunca terminará porque nunca chegará à janela desejada, a da musa. Se aparentemente lá chegar, o “Pássaro de Fogo” limitar-se-á a derramar palavras e cores no parapeito da janela, sem ver a musa nem saber se essa é mesmo a sua janela. Mas age como se essa janela fosse sua, por instrução do poeta. Ficará sempre a dúvida e isso exige continuidade. É esse o busílis. O poeta move-se sempre no terreno da utopia. É como Sísifo – tem sempre de reiniciar a viagem e de pintar (um)a janela, com palavras. Eterno retorno. E fica sempre uma moinha que o obriga a continuar. Repete-se o silêncio, repete-se o voo. As asas de que dispõe (as palavras) são a sua salvação. O combustível existe em abundância e, nos momentos em que o silêncio se faz ouvir com maior intensidade, emitindo um silencioso, mas intenso, eco, levanta voo. O que é frequente. Porque é coisa que fica para sempre, esse páthos que um dia o fez estremecer. Lembro-me sempre do poema do Baudelaire, em “Les Fleurs du Mal”, “À une Passante”. Um clarão… e depois a noite. É isto. E eu acrescentaria: e, depois, ainda, o sonho. Que se repete cada vez que o poeta fecha os olhos. E lá recomeça a viagem. Como tudo na vida. Está sempre a recomeçar. O desafio é nunca o fazer da mesma maneira. É este o desafio do poeta.
A NATUREZA SORRI EM NÓS
O Fernando Pessoa fazia muito bem as distinções entre o real e a projecção do ser humano nele. Ver um sorriso numa flor é projectar-se nela, humanizá-la, mas ao mesmo tempo é naturalizar a nossa sensibilidade. Claro, a flor ou o rio existem independentemente de nós… e nós deles. Mas a beleza reside precisamente neste encontro interactivo. Até porque também nós somos natureza. No nosso sorriso também é a natureza que sorri. Pôr a natureza a sorrir, em nós. Este jardim (cantado e pintado), o meu, é em parte real e em parte imaginado, como um sorriso do pintor e do poeta exportado para a natureza que está ali à sua frente. Ou ela que, em mim, sorri. A musa “anima” esta interacção – uma mediação inspiradora. Mais: é ela que provoca este movimento do poeta e a animação que daí resulta. É o que significa o título do poema “O Poeta, a Musa e o Jardim”.
A POESIA É UMA CONVERSA
O poema interpela. Daí resulta uma conversa – partilha de intimidades em moldura interactiva e estética. Conversa-se poeticamente com a alma.
NO PRINCÍPIO ERAM AS MUSAS
Que mais pode querer um poeta senão que viajem com ele jardim adentro, marcando também encontro com a musa que o inspira? É doce melancolia e faz bem à alma. Tempera a vida com os condimentos da fantasia, transposta em palavras, mas também em riscos e cores (na sinestesia). E em toada melódica (interior), a que atinge mais directamente a sensibilidade. Como seria a vida sem musas? Seria vida sem fantasia? Um cinzento e chato realismo? Eu acho que nem jardins haveria. E não haveria modo de incendiar a alma e de a pôr a voar. Nem haveria canto. Cantar o quê, sem musas? Também não haveria poetas, pintores, compositores. No princípio, não foi o verbo nem as coisas – no princípio foram as musas. Pecado original? Sim, pois não pode haver pecado sem musas. Não é a vida um longo percurso em pecado e em busca de redenção? É por isso que há poesia. A verdade é que o mundo nem começaria sem elas.
FLORES
As cores da primavera, no jardim, alegram a alma e convidam a cantar. E as musas andam por lá. Elas gostam de jardins, de cores vivas, dos aromas e das borboletas no seu afã polinizador. E o poeta em tudo isto se inspira. Também ele de certo modo é borboleta que poliniza almas. Todos os ingredientes podem ser encontrados no jardim: o jasmim com o seu acre perfume, a magnólia com os seus farrapos brancos, a árvore de Apolo, o loureiro, azáleas, rododendros, rosas, camélias… um sem-fim de flores. E as musas, que pairam sobre os aromas inebriantes, desafiando o poeta a cantá-las. E ele, solícito e humilde, responde-lhes o melhor que pode e sabe.
IMPEDIMENTOS
Num poema, o poeta cruzou-se com ela e com tudo o que ele reconhecia nela: timidez (o quadro “Timidez” mostra-o), mistério, medo de luz excessiva, da exposição, da música, não fosse esta arrastá-la para a volúpia, invisibilidade do corpo, silêncio. É isto que ele reconhece nela. E é isto que, estranhamente, o seduz. Mas é isto que se interpõe entre ele e ela. Uma relação que só será salva pela poesia. Com ela, ele pode reconstruir essa relação perturbada por tantos impedimentos subjectivos da musa. Sim, mas a verdade é que há sempre algo que impede a relação do poeta com as musas. Elas não se deixam capturar pelo sentimento. Estimulam-no, mas escapam. São rápidas e leves como as fadas. Afinal, só assim podem sobreviver nessa condição, a de musas. É o seu destino. Delas e dos poetas. Ele, este, não resistiu a fazer o seu retrato (sabe-se lá por que razão subjectiva) e a confessar a sua disposição anímica perante essa condição da musa. Expõe-se ele e expõe-se ela. É a vida, diria um; é a poesia, diria outro. Na verdade, foi a timidez da musa e a correspondente retracção que o seduziram. Às vezes, isso acontece mesmo. E, claro, só havia uma solução: a poesia (e a pintura).
MISTÉRIO
A timidez (no poema “Timidez” e no quadro “Timidez”) é dela, mas também dele. Muita vida se perde nesse emaranhado da timidez. Mas também mistério. Sim, o mistério fascina. E as musas são sempre um pouco misteriosas. Muito do seu fascínio vem daí. E os poetas são sempre irremediavelmente atraídos pelo mistério.
PRIVILÉGIO
É um enorme privilégio do poeta ter a atenção de uma musa. Bom, se esta atenção não existisse talvez nem houvesse poeta. Lembro-me sempre do T. S. Eliot: um dia, a musa visita o poeta e o seu destino fica traçado. A partir daí cabe ao poeta honrar esteticamente a presença da musa. E tanto melhor se o fizer também visualmente, como no perfil que desenhou. Sim, é verdade que não são poucos os favores que lhe deve. É privilégio raro, pois é. E o poeta-pintor está-lhe profundamente reconhecido, prestando-lhe tributo com poemas e pinturas. Mas ela não sabe. Outro mistério? Não, porque para ele é como se ela saiba. Desde o momento em que ela habite o seu território torna-se possível, ao poeta, fazer esta operação: agir “como se”. E, nesta condição, ele agirá em busca da máxima perfeição para a seduzir. No fim, concretizada a obra, ele assume-se como sedutor de sucesso e compromete-se a prosseguir a caminhada. Sísifo, eternamente apaixonado.
A FONTE
A Fonte não é uma abstracção. Essa fonte de que se fala num poema alimenta o poeta de água e de inspiração. Sai a seis graus centígrados directamente da nascente. É a água que bebe. É pura. É fria por fora, mas quente por dentro. Se a beber com a alma. Não deixa depósito, mas deixa saudades. É um rio que desce da montanha para o Zêzere e para si. Frequenta-a desde criança, a caminho do Vale de Santo António, lá no alto, a cerca de 1500 metros de altitude, ou da piscina das Penhas da Saúde. Cresceu com ela, mantendo-se ela estável, sempre com aquele gigantesco fluxo. Fica no belíssimo Vale Glaciar. Que mais parece desenhado à mão. E ficou irritadíssimo por durante um ano (depois do incêndio) não a poder visitar. Ele só bebe desta água. Da última vez que lá foi trouxe 153 litros dela. É verdade. Com tanta água, a inspiração não lhe haveria de faltar. E é assim que vai a esta fonte onde quer que esteja. Trá-la sempre consigo. Como poderia ele não a cantar? É a montanha e a neve em estado líquido. Quando a bebe sente nevar-lhe na alma. E sente a vertigem da montanha. Não há calcário entre ele e a nascente. É relação directa com a natureza no seu estado mais puro, sem interferências. É afluente do rio que corre ali ao fundo do vale, o Zêzere, que nasce perto, na zona dos Cântaros. E é também afluente da sua poesia. No inverno, quando se vai abastecer, muitas vezes neva lá mais no alto e, então, sobe ao encontro da neve, se lhe for permitido. Esta neve já deixou de vir ao seu encontro nas ruas da sua aldeia. Uma saudade imensa. Mas pode vê-la lá no alto do Maciço Central. E com a imaginação. E canta-a e pinta-a. E assim vai passando os seus dias, tendo a montanha como referência. Na montanha dilui as viagens existenciais da sua vida. Decanta-as, com frio, água e ar puros. JAS@30-04-2025
“NOVOS FRAGMENTOS” (XIV)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
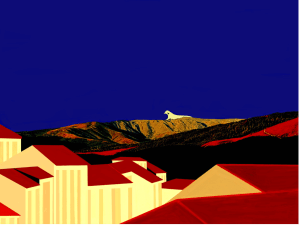
“A Montanha Encantada”, JAS 2022 (94×119, papel de algodão, 310gr, e verniz Hahnemuehle, em mold. de madeira e Artglass AR70)
O RAPTO DA MUSA
É a intensidade com que encontros e desencontros acontecem na vida do poeta que é decisiva e (poeticamente) exigente. A intensidade funciona como a velocidade: esses momentos ficam registados (quase) sem a mediação da consciência. A velocidade cega, como julgo ter dito Paul Virilio, no seu livro “L’Art du Moteur” (1993). É como a luz de um repentino clarão. Encandeia e deixamos de ver o que se está a passar. E depois… “La nuit”. diria Baudelaire. Entra directamente na zona de penumbra da consciência, na zona escura. E por lá fica registado, sobrevivendo ao tempo e emitindo sinais intermitentemente, até que chegue o momento de o reviver… em poesia, em arte. A fita da memória (na sua zona mais intensa e escura) é como a “moviola” ou a mesa de montagem de um filme, onde o realizador é o poeta. Só ele pode entrar nessa zona de penumbra e ver com uma certa nitidez e exactidão. Porque possui holofotes e sensores especiais, que detectam sinais imperceptíveis à sensibilidade comum. Para mim, cada poema é um filme, uma curta-metragem. Exactamente: uma curta-metragem. E também é por isso que precisa de sinestesia, com a pintura. Assim, entra também em acção o olhar, juntamente com o ouvido (para a toada, a música). Um filme. No poema “Tempo” acontece uma espécie de rapto da musa (“Musa”, é precisamente a pintura ilustrativa) pelo tempo: a fugacidade dos encontros e o desespero do poeta que vê o tempo levar-lhe a musa quase antes de se encontrar com ela. O tempo é implacável. E é veloz. Tanto mais quanto mais intenso for o acontecer. E o desejo. E é disso que ele se lamenta. O título até poderia ser “O Rapto da Musa”… pelo tempo. Ou “O Desejo Traído”.
“ESSE EST PERCIPI”
Não vou ao exagero do bispo Berkeley, que disse que “ser é ser percebido” (“esse est percipi”), mas num certo plano cognitivo mais elaborado o real é mediado pela imaginação. Por exemplo, o real dos artistas. E há ilusões de óptica: duas linhas paralelas lá ao fundo convergem (as linhas do caminho de ferro, por exemplo). No deserto também. E a vida, às vezes, é um deserto. Por isso, a realidade está ali para ser interpretada de acordo com a disposição anímica do observador. E há os pessimistas, que vêem tudo a preto, e os optimistas, que põem luz em tudo o que vêem. A subjectividade faz parte de nós e tem um enorme papel no modo como nos relacionamos com a realidade. Se o real está lá fora, rugoso e opaco, também está cá dentro de nós, sob forma de representação, mediada pelo olhar, dos olhos e da alma. Dar forma a essa representação oculta e na penumbra na alma é a missão do poeta.
KAIRÓS
Com a ajuda da Musa, que avisou o leitor da chegada de um forte estímulo poético dominical, ele preparou-se para a chegada do poema. Talvez por ser primavera, a estação das musas. Tempo de polinização. Claro, isso acontece sempre aos que a sentem por dentro, a poesia. E aos que frequentam jardins. As musas são amigas e confidentes deles. Também Hermes anda por ali. Por isso, os cinco sentidos ficam sempre alerta. E, desta vez, com o poema “Tempo”, até propus duas imagens da musa, para melhor se visualizar o poema. Para lhe aceder com o olhar. Duas primaveras. O poema que se oferece duplamente ao olhar. Música tem-na que baste. Foi aspecto que, neste poema, o poeta cuidou com particular atenção. Mas não sei por que razão. Perdê-la, a musa? Sim, parece ser esse o drama do poeta, porque o tempo é raptor: leva-lhe a musa quase antes de ela chegar, de se cruzar com ela. Os encontros são mais desencontros do que oportunidades. Fugacidade ao extremo. Um autêntico e permanente rapto pelo tempo. Ele sente-a assim: perdida quase antes de encontrada. A fugacidade do instante, do “tempo oportuno”. Kairós. O poder destruidor da velocidade e do tempo. Depois, a recomposição. Mas talvez seja impressão sua, do poeta: de tão intenso ser o encontro com a musa até parece que nunca aconteceu. Porque não foi registado na consciência. Ficou por ali perdido com tanta beleza. Vivido, sim, mas, de tão intenso, não registado na consciência. Mas percebe-se que aconteceu. É como ter um sentimento permanente de perda. Sente muito a perda quem muito quer o que sabe que vai logo perder. Mas o absoluto só se pode dar no instante. E o instante não é tempo, porque não é mensurável. Esse instante que é absoluto não pode ser captado, registado, retido. Mas a poesia atinge directamente a zona de penumbra da consciência, a zona escura, que só pode ser acedida com holofotes e sensores especiais. Também se considera que se chega lá através da hipnose. E, claro, através da poesia, cujo tempo é mesmo esse: o da “durée” (para usar o conceito do H. Bergson). O tempo kairótico. Os gregos também tinham a palavra “eksaíphnês”. O poeta anda por aqui. Vive assim a vida (digo eu, porque parece) e isso cria-lhe problemas existenciais que tem de verter (solucionar) em poesia. Tem uma vasta zona de penumbra na consciência e isso obriga-o a um permanente exercício de descodificação, trazendo à zona iluminada da consciência o que por lá ficara registado na zona escura, fruto de encontros e desencontros intensos e nunca concluídos.
MISTÉRIO
Efémero é, e não é, o tempo, porque o que o poeta procura é tomar eterno o que por natureza é efémero. O Goethe disse isso. Outras musas? Não, porque todas elas são rostos da mesma. O poeta é poeta porque uma o enfeitiçou. Estremeceu e ficou enfeitiçado. Mas, depois, na sua imagem transparente ele vê tantas outras iguais a ela… Talvez seja isto. Musas não lhe faltam… mas. ao que parece. são sempre a mesma. Não sei, porque a poesia é mistério em movimento. E o feitiço é fonte de mistério. Ou é o mistério que tem o poder de enfeitiçar? Talvez seja mesmo isso.
VOAR SOBRE O SILÊNCIO
A propósito do poema “Voar” (ilustrado pela pintura “Pássaro de Fogo”) – é uma experiência única, voar sobre o silêncio. Há uma sensação de paz, lá nas alturas. Mas é preciso, primeiro, ouvi-lo com a alma. Dizia Dionísio Longino, no Tratado do Sublime: “come il silenzio d’Ajace, nel Canto de’ Morti d’ Omero, egli è maestoso e più sublime d’ogni orazione” (Perì Hypsous, Secção IX, “Del Pensare”, na tradução italiana de Anton Gori, 1737, Firenze: Gaetano Albizzini ). O silêncio é mais majestoso e sublime do que qualquer oratória. E tem asas, que são as palavras. E tem eco. Sim, ouvir o silêncio, o eco do silêncio, com a alma, mas, depois, é preciso ter asas e energia propulsiva para a descolagem. Eu creio que só os poetas conseguem voar sobre o silêncio, porque são eles os seus verdadeiros intérpretes, possuem combustível anímico para descolar e têm essas asas especiais que são as palavras, como dizia o Neruda. Sobem sobre as asas do silêncio e voam. Só lá em cima podem ouvir o seu eco. Eu gosto muito de voar sobre o silêncio. Gastam-se muitas energias e até dói, mas, no fim, é muito compensador. E foi por isso que pintei um “Pássaro de Fogo”. O voo acontece sobretudo quando o som do silêncio, o seu eco, é mais intenso. Mas sempre em surdina. Ouve-se, sim, mas com a alma.
PÁSSARO DE FOGO
Um voo até à janela da pessoa amada, ainda que não se saiba bem onde fica essa janela. Mas o vento sabe. E o íntimo é preservado, resguardado, sagrado. O “Pássaro de Fogo” não entra, apenas derrama as cores que leva consigo no parapeito da janela e voa de volta. E, assim, o mistério permanece, pois nem sequer o pássaro libertador (da dor do poeta) perturba a intimidade da musa. Ela permanece entrincheirada no passado, mas o poeta ilumina-a com as cores da sua arte e do futuro. Sim, o poema é mesmo um cântico. Que poderia ele fazer mais, marcado que está pelo destino? Uma ponte sobre as margens do silêncio é o máximo que pode conseguir, graças ao “Pássaro de Fogo”. O poeta (Álvaro de Campos) disse que ia atirar uma bomba ao destino. Bem o compreendo. E eu gosto de lhe atirar poemas, que, afinal, são bombas íntimas prontas a deflagrar na alma de quem os lê, de quem os sente.
ÁGUIAS REAIS
Eu gosto mesmo de voar, tendo as palavras como asas. No voo posso observar os vários caminhos que existem no vale da nossa vida e escolher o que fizer mais sentido. Os olhos dos poetas são como os das águias reais porque vêem, ao longe, o que outros não conseguem ver. E os poemas são como voos picados para centrar algo que queremos para nós. Depois levantamos voo levando a “presa” connosco. A poesia está sempre associada às alturas – o Monte Parnaso. O meu chama-se Estrela e por cá encontramos, sim, águias reais. Tenho-as (duas) num quadro meu chamado “A Montanha Encantada”, inspirado no Maciço Central.
PARABÉNS
Parabéns à jovem musa que sempre inspira o poeta, disse um habitual leitor da minha poesia. De facto, respondi, sem ela não haveria poeta nem pintor. E a ilustração do poema é o pássaro da mitologia russa que tanto tem inspirado as artes, a música (Stravinsky, por exemplo) e o bailado. É um símbolo da liberdade, contra as garras do maléfico feiticeiro Katshey (que ainda anda por lá). JAS@04-2025
POLÍTICA E JUSTIÇA EM DEMOCRACIA
A Propósito do Caso Francês
João de Almeida Santos
ESTA RELAÇÃO É MUITO DEBATIDA, problemática e delicada. E é interessante comparar as fórmulas “Estado democrático” e “Estado de direito”, ao que parece, segundo Pierre Rosanvallon, postas em oposição por Marine Le Pen, a propósito do seu caso com a justiça francesa, e como se fossem antitéticas (Rosanvallon, em entrevista a Anne Chemin, “Le Monde”, 12.04.2025). Como se o “Estado democrático” fosse concebível sem ser ao mesmo tempo um “Estado de direito”. Não, não me parece possível. A designação “Estado de direito” não é suficiente, ela deve estar sempre associada a democracia representativa. Mas esta também não será suficiente se não tiver associada a designação “Estado de direito”. O “Estado democrático” e o “Estado de direito” estão necessariamente ligados. Mas o “Estado de direito” pode existir sem democracia? Se puder, o problema residirá, então, em saber: “que direito”? O do autocrata? Tal como o mercado: este também poderá existir sem democracia, não parecendo, aqui, ser necessário perguntar “que mercado”? O que não pode haver é uma democracia representativa sem “Estado de direito” e sem mercado, sem império da lei, igual para todos, e sem plena liberdade económica. Parece não haver dúvidas de maior sobre isto.
1.
Mais interessante é discutir os dois tipos de legitimidade que estão associados ao Estado de direito democrático: a “legitimidade substancial” e a “legitimidade funcional”, para usar, relativamente à política de origem electiva e à justiça, a distinção proposta por Pierre Rosanvallon, que, entretanto, as equipara. A primeira decorreria do processo eleitoral concorrencial e do chamado “povo-aritmético”, o que se exprime através do princípio da maioria num parlamento e que conduz à formação de um governo; a segunda decorreria do “povo-comunidade” e ocorreria por nomeação para a constituição de guardiões dos direitos do indivíduo, os juízes, e para desempenhar uma função estruturalmente democrática, tendo por instrumento a justiça e como fim último a garantia dos princípios fundamentais e os termos do contrato social. Esta, de resto, corresponderia, segundo Rosanvallon, a uma temporalidade longa em contraposição aos cada vez mais curtos ciclos eleitorais da democracia política. Portanto, duas legitimidades diferentes, mas equivalentes em dignidade, correspondendo a dois tipos diferentes de soberania popular: a do “povo-aritmético” e a do “povo-comunidade”. Mas esta é a posição de Rosanvallon.
2.
Esta concepção parece contradizer-se nos próprios termos, porquanto as duas legitimidades não são, de facto, iguais, não têm o mesmo peso, não se equivalem e, sobretudo, não têm fundamentos diferentes. A ideia de um “povo-comunidade”, existindo paralelamente ao povo político e sendo fundamento do “Estado de direito”, não me parece que tenha fundamento defensável, logo porque o “Estado de direito” exprime a organização que o “Estado democrático” determina. Na verdade, a “legitimidade substancial” confere aos seus agentes o poder de determinar a matéria sobre a qual os agentes da “legitimidade funcional” actuam, enquanto o contrário não é possível, nem se verifica. Precisamente porque é funcional relativamente ao sistema político de origem electiva. Ou seja, esta tem de ser obrigatoriamente funcional àquela, à primeira, não se verificando o contrário, pois aquela é de natureza ontológica porque remete directamente para a soberania popular, para um povo, não para dois. E isto acontece em níveis diferentes: a primeira legitimidade acontece, primeiro, no plano constitucional e, depois, no plano legislativo. Sobre os dois planos os agentes da primeira legitimidade podem agir, modificando os seus termos. A “legitimidade funcional” também ocorre nestes dois planos, mas somente para garantir a congruência entre o plano constitucional e o plano legislativo (tribunal constitucional) e entre o plano legal e o quadro em que ocorrem as acções dos cidadãos (ministério público e tribunais). Trata-se, pois, de uma legitimidade técnica, somente técnica e subsidiária da primeira. Procurar encontrar um fundamento ontológico diferente para ela é, no meu entendimento, errado e desviante, porque o “povo-comunidade”, para efeitos políticos e de aplicação da lei é subsumível no “povo-aritmético”. É este que conta, é este o titular da soberania, para além do próprio princípio da maioria, uma vez que no parlamento estão presentes as diversas sensibilidades políticas presentes na sociedade e não somente a maioria. O parlamento é maior do que a maioria que nele se constitui para dar origem a um governo. Sim, nele não está presente o povo abstencionista nem o povo menor de idade, poder-se-ia contra-argumentar. Mas não é isso que o invalida porque a própria abstenção é um exercício de liberdade do “povo- aritmético” e a menoridade encontra-se representada na respectiva tutela (responsabilidade parental). Portanto, se a justiça é efectivamente o garante dos princípios, valores e conteúdo do contrato social através do seu desempenho funcional, daqui não pode, todavia, resultar a ideia de que, tendo como fundamento um suposto, e fictício, “povo-comunidade”, ela adquira um estatuto igual, em termos de legitimidade, ao das instituições de origem electiva. Tal como a justiça dispõe de mecanismos internos para corrigir imputações erradas, também o sistema político electivo tem mecanismos internos para garantir o cumprimento das suas deliberações e decisões e corrigir os desvios – e desses mecanismos faz parte a própria justiça. Ecco. A justiça é um mecanismo interno do próprio sistema político, enquanto garante da sua autoridade e com poderes sancionatórios por aquele sistema previstos e decididos. Mas o que me parece que resulta do raciocínio de Rosanvallon é que estamos perante duas realidades autónomas, equivalentes e paralelas, dois subsistemas equivalentes no interior de um mesmo sistema social. Mas, não, não é assim, como ele próprio reconhece, ao defini-los, um, como substancial e, o outro, como funcional. Na verdade, um tem uma dimensão ontológica enquanto o outro tem uma dimensão funcional, técnica, subordinada. Na hierarquia dos poderes o legislativo é o primeiro, porque é ele que, por um lado, representa a soberania popular, e, por outro, lhe dá expressão e forma concreta através precisamente do ordenamento jurídico. Este facto deveria tornar clara a ideia da separação de poderes, que não equivale, de facto, a igualdade de poderes. E esta lógica deveria servir para clarificar as relações do poder político de origem electiva, substantivo, com o poder judicial, de natureza funcional, em particular na relação com o ministério público. A autonomia do ministério público e a independência dos juízes são tão-só justificáveis como necessidade de garantir plena autonomia técnica, rigor, neutralidade e imparcialidade na imputação dos factos ao direito e suas consequências. Nada mais.
3.
Isso quer dizer que se verifica uma autonomia funcional (na linha da separação dos poderes) que torna possível um uso técnico da lei para corrigir disfuncionalidades ocorrentes e repor o funcionamento do sistema de acordo com a dupla deliberação do poder político de origem electiva, ou seja, a constitucional e a legal. A “legitimidade funcional” consiste nisso. Sendo proprietário e condutor de um automóvel, quando ele avaria sou obrigado a entregá-lo à competência de um técnico de automóveis para que o reponha em funcionamento de acordo com os padrões mecânicos estabelecidos pela “marca” para que o automóvel funcione. Entretanto continuo proprietário e condutor. A justiça, onde a “marca” é a constituição e a lei, funciona do mesmo modo. E tal como há bons e maus mecânicos, também há bons e maus magistrados ou juízes. Como em tudo na vida e, designadamente, na política.
4.
Se formos ver as soluções que Rosanvallon propõe para o bom funcionamento de uma sociedade democrática, encontramos a reinvenção dos processos democráticos, para além do estrito processo de escolha de quem governa, através do accionamento de duas importantes “funcionalidades”: a deliberativa e a de vigilância sobre o funcionamento do sistema. A primeira implica uma democratização da deliberação política, sob o pressuposto de que a sociedade não é redutível ao seu sistema político formal (às instituições políticas propriamente ditas), porque ela é mais, muito mais, do que o “povo- aritmético” e do que os ciclos em que o cidadão é chamado a deliberar através do voto. Só neste sentido Rosanvallon poderia falar de “povo-comunidade”, algo que não é subsumível integralmente no sistema político nem redutível ao “povo-aritmético”. Isto é verdade e exige que o sistema político metabolize os fluxos da sociedade civil e lhes dê expressão política, legislativa e executiva, designadamente através de procedimentos que tornem isso possível e que não se esgotam nos ciclos eleitorais formais. É isso que acontece na chamada política deliberativa e na correspondente democracia deliberativa (veja-se, por exemplo, Habermas em Faktizitaet und Geltung, de 1992, cap.s 7 e 8). Ou seja, a política que transborda para as margens do sistema político formal e inunda “campos e sementeiras”, fertilizando-os. Glosando um antigo Presidente da República, há, de facto, mais vida para além do subsistema político formal, é verdade, mas mesmo essa vida é regulada por este subsistema. E sobretudo o sistema de justiça, que Rosanvallon parece querer, erradamente, separar, logo na raiz (a soberania do “povo-comunidade” contraposta à do “povo-aritmético”), do sistema político, apesar de fazer intrisecamente parte dele. E, entretanto, não podemos esquecer que, desde há muito, tem vindo a crescer um fenómeno chamado “lawfare”, ou seja, um uso ilegítimo das imensas prerrogativas e poderes do subsistema judicial para efeitos políticos, dando origem a uma indesejável inversão de factores e a uma crise da democracia representativa, tal como também tem vindo a crescer, simetricamente, um uso indevido do poder político para limitar e condicionar a autonomia técnica da justiça. Ambos os casos são bem conhecidos e abundantes tal como os seus efeitos deletérios sobre o sistema democrático.
5.
Como em tudo na vida, o que é necessário é uma boa e imparcial interpretação do sistema social com vista a um seu bom e justo funcionamento, algo que parece já estar fora de modo, tendo vindo a acentuar-se, agora de forma quase pornográfica, uma identificação perniciosa da política com o puro exercício do poder, extremamente personalizado, sem qualquer preocupação com a justiça, a ética e até com a estética, de tão grosseiras serem as deformações do sistema, quer no plano da política quer no plano da justiça. A deformação do sistema político implicará sempre a correspondente deformação da justiça, mas a transformação da justiça em poder autopoiético e corporativo (e até assumido como tal pelos próprios agentes da política – “à política o que é da política, à justiça o que é da justiça” – como se a justiça fosse exterior à política, à gestão da polis, da causa pública) pode também ela provocar danos irreversíveis na própria democracia representativa. JAS@04-2025
NOTA SOBRE A JÁ FAMOSA "AVERIGUAÇÃO PREVENTIVA"
SOBRE PEDRO NUNO SANTOS
A PGR acaba de entrar na campanha eleitoral. Já não bastava a senhora ex-PGR Lucília Gago (e o PR, com quem ela estava quando o famoso comunicado foi divulgado) ter dado origem à queda de um governo de maioria absoluta, sem que, passados 17 meses, se saiba da consistência desse inquérito-fantasma… que, agora, o seu sucessor, Amadeu Guerra, decide, com base numa carta anónima e sobre um assunto mais que requentado e explicado, entrar em campanha eleitoral com a divulgação de uma “averiguação preventiva” sobre Pedro Nuno Santos, sugerindo que, afinal, também o líder do PS tem um problema equivalente ao de Luís Montenegro. Não tarda que a empresa do pai entre (mas parece que já entrou) na dança das denúncias e sobre ela seja aberta mais uma “averiguação preventiva”. De “averiguação preventiva” em “averiguação preventiva” até ao desfecho final das eleições de 18 de Maio. A divulgação dessa estranha figura da “averiguação preventiva” (que não é, tanto quanto sei, uma figura que conste da lei), não deveria acontecer, pois é um mero procedimento administrativo interno que não tem de ser divulgado (mas que, pelos vistos, foi “bufado” ao jornalista de serviço no “Observador”, Luís Rosa). Fica, assim, reposta, por obra da PGR, a igualdade de tratamento entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Bastou uma carta anónima (mas até um procurador pode escrever uma carta anónima a si próprio para, depois, ele próprio abrir uma “averiguação preventiva” sobre o assunto) para informar o distraído eleitor, a um mês das eleições legislativas, de que, afinal, estes políticos são todos iguais. Bom trabalho.
1.
Bom trabalho, de facto, o deste Ministério Público, liderado por um PGR em situação de manifesta ilegalidade, o que já deveria ter levado à cessação de funções. À data da nomeação pelo PR ainda era legal a nomeação, mas, agora, que já tem 70 anos, a permanência no cargo é claramente ilegal. Diz o Estatuto do Ministério Público (Lei 68/2019, de 27 de Agosto), no seu Artigo 13: “São magistrados do Ministério Público: a) O Procurador-Geral da República”…” ; e no Artigo 193: “Os magistrados do Ministério Público cessam funções: a) No dia em que completem 70 anos de idade;”. O PGR encontra-se, assim, em situação ilegal porque já tem 70 anos de idade (nasceu em Tábua, a 9 de Janeiro de 1955). Sendo missão fundamental do Ministério Público garantir a legalidade no nosso país por que razão ainda não foi suscitada, designadamente pelo próprio Ministério Público, esta questão legal relativamente a si próprio, ao seu máximo representante? E por que razão ninguém ainda a suscitou? Na verdade, a questão é muito relevante não só porque é ele, e os tribunais, o garante da legalidade, mas também pel seu poder de reiterada interferência nos processos políticos.
2.
Tudo isto faz sentido quando se vê que o Ministério Pública anda, de facto, a interferir de forma pesada nos processos políticos. Foi assim com António Costa, com as consequências gravosas que teve, e é assim, agora, a um mês das eleições, com Pedro Nuno Santos. Quem informou o jornalista do “Observador” deste mero acto administrativo interno da Procuradoria e, mesmo assim, sobre matéria mais que requentada e que nada tem a ver com as questões suscitadas pelo conhecido e publicamente comprovado comportamento de Luís Montenegro? A PGR não pode ser transformada, como está a ser, num agente político que põe e dispõe do destino das instituições políticas de origem electiva, violando grosseiramente a separação dos poderes ou até a própria legalidade. Lawfare à portuguesa. JAS@17.04.2025
O PLEBISCITO
As Eleições que Ninguém Queria
João de Almeida Santos
AFINAL, DO QUE SE TRATA, NESTAS ELEIÇÕES, não é só de um plebiscito sobre um primeiro-ministro eticamente (se não judicialmente) problemático, mas sobre todo o governo. Um desvio de atenção para um plano mais amplo. E o poder legislativo, cuja reconstituição deveria ser o centro das atenções, aparece neste processo como um vago cenário de enquadramento de um autêntico plebiscito sobre Luís Montenegro e o governo.
1.
A verdade é que o que motivou estas eleições foi um problema de confiabilidade do PM, sendo, pois, natural que o que deveria estar em causa fosse precisamente isso. Ou seja, a confiabilidade da pessoa do PM. Mas Luís Montenegro quis tornar as eleições sobre o seu problema pessoal, o plebiscito sobre a sua conduta, sobre a sua confiabilidade, em plebiscito sobre o seu próprio governo, repondo a política no debate, tornando-a a verdadeira moeda de troca. Uma mudança substancial, pois. Porquê? Porque decidiu levar 66,6% (72,2% se contarmos com Miguel Pinto Luz, n.º2 na lista de Lisboa) dos seus ministros a escrutínio directo dos eleitores – doze ministros, em 18, são cabeças de lista nos 22 círculos eleitorais (54, 5%), a que acrescem ainda dois secretários de Estado como cabeças de lista (um deles, Hernâni Dias, foi, mas já não é SE), elevando para 77,77% a presença governativa na liderança do PSD nos círculos eleitorais (14 em 22). Nem sei mesmo por que razão Luís Montenegro não levou todo o governo, a nível ministerial (mesmo todo, 100%), a sufrágio, tornando assim ainda mais claro que não se trata de eleições legislativas, mas de eleições executivas, isto é, eleições sobre si e o seu governo, sob forma de plebiscito. Algo ainda mais profundo do que o famoso “premierato” (a eleição directa do PM) da senhora Giorgia Meloni. Algo inédito na nossa democracia e talvez mesmo em todas as democracias do mundo. A prova? O Conselho de Ministros acaba de entrar directamente em campanha eleitoral no mercado do Bolhão, no Porto, sem um sobressalto digno de nota. Formalmente, nada a apontar, mas estas eleições (escolhidas por Luís Montenegro, com o acordo de Pedro Nuno Santos, que as tornou possíveis) são uma operação que visa relegitimar directamente o governo e, por implicação, a figura do próprio primeiro-ministro. E se vencer as eleições a conclusão é clara: os eleitores ter-lhe hão dito que aprovam o seu comportamento, lhe reiteram a confiança e que pode continuar com a mesma equipa e nos mesmos termos em que governou até agora. Quem são os deputados que irão representar a nação, isso tem pouca ou nenhuma importância. Um mal de que a nossa democracia representativa sofre cada vez mais.
2.
Mas, diriam os orgânicos do PSD, de qualquer modo, o argumento não pode ser exactamente este, porque só há como cabeças de lista 66,6% (ou 77,77%) do governo e não 100%. Mas, digo eu, além de ser uma gigantesca representação governativa em directo confronto eleitoral, talvez a restante percentagem não aconteça para não comprometer excessivamente a formação do próximo executivo, porque, a ser integralmente sufragado no dia 18 de Maio, este governo, em coerência, deveria ser reposto na sua forma original, fazendo, depois, e por consequência, subir ao Parlamento as outras obscuras figuras que figuram em segundo lugar e que ninguém conhece. Algo parecido a isto acontece nas eleições autárquicas, com o executivo a ser eleito directamente. Mas talvez o PM não tenha querido assumir este compromisso tão global, até porque, por exemplo, um dos membros relevantes do seu governo vai ser candidato à Câmara do Porto, Pedro Duarte. Ou porque não tenciona indicar certos ministros para o futuro governo, por exemplo, a Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues (que, todavia, já disse em entrevista ao JN que gostaria de continuar) ou a da Administração Interna, Margarida Blasco, por razões bem conhecidas, ou seja, por uma prática excessivamente conflitual ou por manifesta incompetência, respectivamente. Mas, como disse, o número de ministros apresentados (12, em 18, sem contar com Pinto Luz) é mais do que suficiente para surgir como um sufrágio para a reconfirmação e a relegitimação directas do governo. E mais: de um governo já remodelado. Luís Montenegro faz, assim, uma tripla operação: a) remodela o governo em pleno processo eleitoral; b) transfere para o conjunto do governo o seu problema pessoal; e c) transforma as legislativas em eleições directas para o executivo, ou seja, um plebiscito, ou um referendo, sobre o conjunto da equipa governativa, agora remodelada. Uma operação arguta, sem dúvida, mas muito problemática à luz da matriz constitucional do nosso sistema político, para não dizer à luz da própria matriz da democracia representativa, mas em linha com a interpretação presidencial do sistema, aqui por mim evidenciada no meu último artigo. (https://joaodealmeidasantos.com/2025/04/01/artigo-196/). A democracia parlamentar, tal como está configurada na Constituição, a deslizar progressivamente para o presidencialismo e o decisionismo do primeiro-ministro. Concordarão os eleitores com este desvio à constituição e, já agora, à própria ética pública a que deve obedecer o exercício de funções públicas desta dimensão?
3.
Mas o problema não fica por aqui, pois esta evolução para o presidencialismo do primeiro-ministro, para um problemático decisionismo e para a centralidade do executivo, a ponto de desviar o sistema do seu centro axial, que é o parlamento, também tem consequências profundas sobre o sistema de partidos, em especial, sobre os chamados partidos da alternância, os que estão em condições de aceder à gestão governativa do país. O que acontece é que os primeiros-ministros, tendo a faculdade constitucional de escolher os membros do governo, adquirem, ipso facto, um poder que transborda para os respectivos partidos, dando lugar a uma autêntica e efectiva colonização do território partidário, até tendo em conta que estes partidos vivem cada vez mais do aparelho de Estado (em empregos e em finanças). E como? Enviando os “centuriões” governativos (por si livremente escolhidos e portadores de prestígio governamental) para a gestão e a representação do território partidário e dando lugar a uma autêntica colonização deste território, onde os “nativos” deixam de contar, como se vê pela formação das listas do PSD (mas não só) para as eleições ditas legislativas e, em parte também, para as câmaras municipais. “Paraquedistas” com patine governativa e com chancela presidencial (do presidente do partido e PM). O que, ao fim e ao cabo, acontece é uma imposição a duas escalas (parlamento e partido) da vontade do líder, com o consequente atrofiamento do corpo orgânico quer do parlamento quer do partido, este substituído quer pelos “centuriões” quer por agências de comunicação. Uma cabeça grande num corpo atrofiado. Algo pouco compatível com a cultura democrática e com a própria matriz da democracia representativa. Todo o complexo institucional é constituído à imagem e semelhança do líder.
4.
Este caso do PSD e do governo de Luís Montenegro é bastante exemplar neste sentido. Mas já com António Costa algo muito parecido foi acontecendo. E, todavia, no caso actual, a escolha destes ministros (e já não falo da escolha do Presidente da AR, Aguiar Branco, ou do seu líder parlamentar, Hugo Soares, que são escolhas naturais), do secretário de Estado das comunidades, José Cesário, ou do antigo secretário de Estado, Hernâni Dias, para cabeças de lista, que, como disse, se contabilizados, fariam subir de 66,66% para 77,77% a percentagem de cabeças de lista com chancela governativa, atinge uma tal dimensão que é difícil não retirar daí ilações sobre os seus efeitos na própria natureza do sistema político. Neste processo é, pois, também a natureza dos partidos que é posta em causa. A personalização extrema da política, que é uma tendência geral, está a ter efeitos que já põem em causa a própria matriz do sistema representativo e o sistema de partidos tal como os conhecemos.
5.
Esta evolução do nosso sistema político não me parece ser boa para a saúde da democracia. Em primeiro lugar, porque anula a centralidade do parlamento, ou seja, da pluralidade dos representantes da nação; em segundo lugar, porque entroniza o líder que chegou a primeiro-ministro e permite a captura integral do partido que lhe serve de suporte; em terceiro lugar, porque menoriza o território partidário, o torna integralmente dependente do Estado e do líder de turno e impede a emergência de figuras autónomas e independentes da vontade (sempre) centralizadora das lideranças. Ainda por cima reforçada com o tipo de sistema eleitoral que temos, com listas fechadas e identificadas com o símbolo do partido. Numa palavra, o partido fica reduzido a mera projecção da vontade do líder, como se está a ver neste caso, com um PSD totalmente “domesticado” e alinhado com a estratégia pessoal do seu líder, ou seja, com o seu comportamento pessoal e privado, mesmo que generalizadamente posto em causa. Impera, assim, uma linearidade exasperante em partidos que atingiram uma considerável dimensão eleitoral porque é suposto representarem uma grande diversidade de sensibilidades. Com esta mudança, a diversidade no interior do partido, mas também no próprio parlamento, passa a ser coisa do passado. E a verdade é que esta tendência é a mesma que se está manifestar com toda a exuberância na direita radical. Mas, pelos vistos, até nos partidos de centro-direita ou mesmo de centro-esquerda ela parece estar a fazer o seu caminho com grande sucesso.
6.
O que se está a passar neste momento em Portugal é uma profunda anomalia relativamente à matriz da democracia representativa e à sua matriz constitucional. Uma espécie de via paralela que está a ser seguida nas margens da constituição: o legislativo tornou-se simplesmente um sub-rogado irrelevante do executivo, tal como o próprio partido que lhe serve de suporte; as eleições adquirem uma natureza de tipo plebiscitário e estão inteiramente subordinadas à vontade do líder e chefe do governo; e, finalmente, a ideia de representação política parece estar a ser substituída por um decisionismo exacerbado, centrado no primeiro-ministro, que confisca as competências do legislativo e do partido maioritário e os transforma em meros instrumentos de combate numa guerra de generais por ele nomeados. O melhor espelho, muito deformado, de tudo isto é o que está a acontecer, neste momento, nos Estados Unidos, com a presidência de Donald Trump. JAS@04-2025
IDIOSSINCRASIAS PRESIDENCIAIS
AFINAL, VIVEMOS, OU NÃO, EM DEMOCRACIA PARLAMENTAR?
João de Almeida Santos
LI COM MUITA ATENÇÃO e interesse o recente artigo de Alberto Costa, no “DN”, “Dissolver, Dissolver, Dissolver” (27.03.2025). Título curioso e muito significativo. E não só porque põe em evidência a anomalia política e constitucional dessa espécie de “dissolução permanente”, como também suscita uma reflexão mais ampla sobre a evolução do processo político em moldura democrática e representativa.
1.
É claro que nós vivemos em regime de democracia parlamentar, onde o centro deveria estar no parlamento e não na figura do primeiro-ministro, sujeita que está às vicissitudes pessoais do próprio, muitas vezes problemáticas, como é actualmente o caso. Mas a verdade é que se tem vindo a evoluir para uma excessiva personalização da política, a ponto de tudo se centrar na figura dos líderes, sobretudo os dos partidos da alternância, os que se vêm alternando no poder. PS e PSD, no caso português. As eleições estão cada vez mais concentradas naquelas figuras, reduzindo o processo político a uma mera competição entre pessoas, sobretudo entre duas pessoas. Actualmente, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Confessemos que a escolha é muito reduzida, por se centrar em duas pessoas, num processo que envolve 230 mandatos, programas de governo e mundividências políticas. E, neste caso, as eleições até parece serem mais um plebiscito sobre Montenegro do que outra coisa, feridas que estão, à partida, pela questão da confiabilidade do actual PM, a única razão que as motivou. Se o plebiscito lhe for favorável não se abrirá uma espiral de promiscuidade maior do que a que já existe?
2.
Isto começou com a emergência da televisão na política democrática nos Estados Unidos (ademais um regime presidencialista) logo nos anos cinquenta, ao mesmo tempo que se iniciava também um processo de avaliação, digamos, “moral” dos candidatos a presidente, com as famosas “campanhas sujas” a alimentarem as campanhas presidenciais americanas, ao longo de décadas. Refiro somente algumas, que ficaram famosas, e sempre contra os candidatos democratas: as que visaram Michael Dukakis, John Kerry ou Barack Obama. Nos dois primeiros casos funcionaram. No caso de Obama, não.
3.
Decorre da sua extrema personalização que a política se passe a concentrar em lideranças pessoais, nas suas qualidades e nos seus defeitos, ficando, portanto, dependente delas, em detrimento dos próprios sistemas de poder. A política a afunilar nos líderes e na sua imagem e a evoluir para a hiperpersonalização. Mesmo nas democracias parlamentares se está a verificar esta tendência, com a redução das campanhas eleitorais (das permanent campaignings às pré-campanhas e às campanhas propriamente ditas) à figura do líder, quase deslizando para a figura do plebiscito (e as de Maio até parece serem mesmo isto) e tornando-as cada vez mais fungíveis e condicionadas pelas vicissitudes das pessoas em causa. Trata-se, pois, de um afunilamento que fragiliza a política e que abre uma espiral de psicologismo pouco compatível com a matriz da democracia parlamentar, mas também de pasto verdejante para os apetites judiciais e para o lawfare, cada vez mais frequente. A essa espiral estão sujeitos todos os partidos, mas sobretudo os que estão em condições de aceder ao governo do país.
4.
Na verdade, o que está em causa nas eleições e numa democracia representativa é a escolha de representantes para o legislativo (230, no caso português), a que se segue a constituição de maiorias parlamentares de onde resulta necessariamente a indigitação de um PM e a constituição de um executivo. O princípio da maioria é um princípio essencial dos sistemas representativos. No caso inglês, nenhum membro do governo poderá sequer ser escolhido fora do Parlamento, o que está a indicar, com meridiana clareza, a natureza parlamentar do regime e a centralidade iniludível do parlamento. Depois, as candidaturas ao parlamento são protagonizadas pelos partidos políticos ou por coligações e é nesse âmbito que se formam as maiorias. Partidos, não pessoas (e não é por acaso que o sistema não prevê candidaturas não partidárias). E muito mais nos sistemas eleitorais de tipo proporcional, com as suas propostas em listas fechadas. São eleitas pessoas, mas as escolhas e as propostas só podem ser feitas por partidos, em listas fechadas (vota-se na lista, mas através da sigla do partido, não se podendo sequer exprimir uma preferência, no caso do nosso sistema eleitoral). Assim sendo, reduzir as eleições às figuras dos líderes partidários candidatos a primeiro-ministro significa várias coisas: a) diminuir o papel do principal órgão de soberania, que é o Parlamento, porque é ele que integra os representantes; b) tornar mais fungível a política democrática por ficar dependente da figura do líder, do seu comportamento pessoal e das vicissitudes que ocorram (como se viu); c) transformar as legislativas em eleições para o executivo, desvirtuando profundamente o regime constitucional; d) abrir espaço para as famosas “campanhas negativas”; e) reduzir os partidos às figuras dos líderes, com gravíssimas consequências na própria composição dos seus órgãos internos e na propositura de candidatos a cargos institucionais; e, f) finalmente, pôr o sistema à mercê de inquéritos judiciais que podem ser promovidos por simples cartas anónimas, facilitando a prática de lawfare, cada vez mais frequente.
5.
Posto isto, qual a razão do título do artigo que acima referi? Claramente esta: o Presidente da República parece ter já assumido como doutrina oficial a hiperpersonalização do regime, onde o primeiro-ministro é o centro do sistema, decorrendo, pois, as eleições em torno da sua figura, ou seja, transformando-as em eleições para primeiro-ministro. Há quem lhe chame presidencialismo do primeiro-ministro. E há, no caso português, um momento muito claro relativo a esta assunção presidencial: o da tomada de posse de António Costa, em 2022, quando o PS obteve a maioria absoluta. Disse o PR mais ou menos isto: o senhor (não o PS, entenda-se) ganhou as eleições e, por isso, a sua saída implicará novas eleições. António Costa encontrou a oportunidade para (graças ao ministério público) sair imaculado em direcção a Bruxelas e houve eleições. É claríssima, aqui, a desvalorização do partido (que ganhou as eleições) e do parlamento (onde existia uma maioria absoluta desse mesmo partido). Depois, a questão da “confiabilidade” do PM. Surgiu a questão e, consequentemente, outra vez eleições. Há aqui um reajustamento do regime: as eleições, embora também sirvam, em via subordinada, para eleger 230 deputados, servem, no essencial, para eleger um todo-poderoso primeiro-ministro, capaz de reconfigurar o seu próprio partido e o sistema político à sua medida. Adapte-se, pois, o sistema à hiperpersonalização da política democrática e passe-se a eleger directamente o PM, dando forma constitucional ao presidencialismo do primeiro-ministro e, já agora, transformando a Presidência da República num simples cartório notarial. Constitucionalize-se, pois, o que já está a ser feito na prática, para que o processo seja legítimo. Mas, se assim, for terá razão a senhora Giorgia Meloni, ao propor, como fez, uma alteração constitucional para a eleição directa do PM italiano. Mas, ao menos, ela submeteu a mudança ao parlamento (e já passou no Senado) e, eventualmente, a um referendo (se não passar na Câmara dos Deputados, como é previsível). Pelo contrário, aqui, entre nós, e com um Presidente doutorado em direito constitucional (com uma tese sobre “Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português”), a fórmula já passou à prática, sem passar pelo parlamento ou pelos eleitores. Só que, por um lado, a nossa Constituição não prevê a eleição directa do PM, estando, por outro lado, o PR obrigado a cumprir e a fazer cumprir a Constituição, não possuindo legitimidade nem autoridade para produzir alterações constitucionais, formal ou informalmente. Só o parlamento, agora extremamente diminuído, o pode fazer, desde que, para o efeito, tenha uma maioria qualificada. Mas foi o que o PR fez: uma alteração informal do regime de democracia parlamentar, ao considerar irrelevante o Parlamento e os próprios partidos da alternância, perante o agigantamento das figuras dos líderes (no entendimento, errado, de que são eles que ganham, ou perdem, as eleições, e não os partidos). Esta visão é muito própria de quem vê o processo político exclusivamente como um processo comunicacional e não, também, como um complexo e difuso processo orgânico e territorial.
6.
Na verdade, já houve três dissoluções num só mandato presidencial. A primeira, devido à não aprovação do Orçamento de Estado (inevitável? Não está escrito que seja necessariamente assim); a segunda, depois da saída (para Bruxelas) de António Costa, justificada com o facto, anunciado publicamente, de estar a ser objecto de um inquérito-fantasma e apesar de o PS (de forma desastrada, diga-se, por não terem sido consultados os órgãos do partido), por iniciativa do seu secretário-geral, ter proposto um nome alternativo para a chefia do governo; a terceira, por uma questão de confiabilidade do PM (a que se segue, mais do que legislativas, um verdadeiro plebiscito). Mais claro do que isto parece ser impossível.
7.
A doutrina parece ter ficado estabelecida pelo actual PR, dando continuidade àquilo que na prática está a acontecer: a hiperpersonalização da política. Tendência que ele próprio pratica. Será isto aceitável? Não creio. Essa hiperpersonalização está a acontecer hoje nos Estados Unidos, com Donald Trump, e à revelia das próprias normas constitucionais, e as consequências já estão a ser absolutamente desastrosas e perigosas, incluindo a de anulação dos vínculos constitucionais, até já (ao que parece) na questão da duração dos mandatos presidenciais. O que está em causa é mesmo a natureza da democracia representativa e os seus mecanismos internos de “checks and balances”, para além da sua identidade como democracia representativa, ou seja, lá onde o poder está essencialmente centrado nos representantes, isto é, nos deputados, no parlamento, no poder legislativo.
8.
É claro que, como disse, há muito que se vem verificando esta tendência para a hiperpersonalização da política, muito devida ao domínio do audiovisual na comunicação política. Personalização que acontece quer no plano dos partidos quer no plano do Estado, sendo aqueles tributários deste, e vice-versa. Mas, mesmo assim, nunca se verificou uma tendência como aquela que estamos a viver no sentido de hiperpersonalizar a democracia representativa à revelia das próprias constituições, ou seja, sem que tenha havido as correspondentes alterações constitucionais. O deslize neste sentido tem vindo a verificar-se na Hungria de Orbán, verificou-se na Polónia de Kaczynski e também está a acontecer de forma prepotente e inconstitucional nos Estados Unidos do senhor Trump, do senhor Musk e do senhor Vance. Num só caso está a acontecer uma tentativa com dignidade constitucional, a mudança do sistema através de um “disegno di legge costituzionale”, na Itália da senhora Giorgia Meloni. Com efeito, em Novembro de 2023 ela apresentou um curioso “disegno di legge costituzionale” neste sentido.
9.
Não se trata, de facto, de quinquilharia constitucional. Trata-se, isso sim, de uma mudança estrutural que altera a natureza da democracia, alterando a geometria e os equilíbrios dos seus mecanismos internos. Uma mudança que, de resto, corresponde mais à orientação da direita radical do que à da direita moderada ou à da social-democracia. Para esta evolução chamei a atenção no meu recente livro “Política e Ideologia na Era do Algoritmo” (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024). Uma evolução não desejável porque não se inscreve na matriz liberal do sistema representativo nem na natureza da democracia parlamentar. A evolução, pelo contrário, deveria acontecer no sentido de uma política deliberativa e de uma democracia deliberativa, tanto mais necessárias quanto temos perante nós poderosas máquinas de construção do consenso, dominadas pela plutocracia populista, ou plutopopulismo, e capazes de garantir “democraticamente” a base consensual para o exercício hiperpersonalizado do poder. Falo do que está a acontecer nos Estados Unidos, com o já famoso “capitalismo da vigilância”, o das grandes plataformas digitais, o dos senhores Mark Zuckerberg e Elon Musk, agora alicerçado politicamente na própria Casa Branca e no seu inacreditável inquilino.
10.
Não quero com tudo isto dizer que o actual PR inscreva a sua acção política na lógica da direita radical, mas simplesmente que o seu exercício presidencial tem sido pouco conforme aos preceitos que servem de moldura constitucional à nossa democracia parlamentar. Preceitos que ele jurou cumprir e fazer cumprir quando tomou posse, mas que, à primeira dificuldade, ele transgride. Também não vejo na sua acção uma qualquer intenção conspirativa que se inscreva na lógica da direita radical. O que tenho visto, isso sim, é uma prática deformada de acção presidencial, sobretudo numa matéria de enorme relevância para a nossa democracia. Que o Presidente fale demais, isso pode tolerar-se; que interfira na esfera de competências do executivo já se aceita menos; mas que, pela sua acção, transforme por dentro a matriz do nosso regime de democracia parlamentar, isso é simplesmente inaceitável, por até ser contraditório com a função que foi chamado a desempenhar por mandato popular. JAS@04-2025
“NOVOS FRAGMENTOS (XIII)
Para um Discurso sobre a Poesia”
João de Almeida Santos
MOVIOLA
OS SONHOS são vida cifrada. Como a poesia. Só que aqui intervém a vontade e, depois, a estilização dos registos de sensibilidade. E sem que o tempo cronológico constitua uma fronteira ou barreira inultrapassável. O poeta observa, regista e compõe, na pauta poética, o seu próprio passado como se estivesse na “moviola”. A escrita poética é como uma mesa de montagem cinematográfica com banda sonora incorporada.
MARÇO
Confesso que a magnólia branca que está ali no meu jardim, ao lado do loureiro, com os seus farrapos brancos, me fascina. Ela aparece em Março e é como que a despedida da neve, que quase já não há, a não ser lá no alto do maciço central. Felizmente que a vejo do terraço da minha biblioteca, apontado a sul, na direcção do maciço. E visito-a quando vou ao Vale Glaciar buscar água – a montanha e a neve em forma líquida. A magnólia, para mim, é esse belo marco de fronteira. E a fronteira fica em Março, que é ao mesmo tempo inverno e primavera. E gosto dessa imagem do pássaro cheio de frio à espera que o sol da primavera espreite, o do Salvatore di Giacomo. Ele, o poeta, e Catarina. Sim, gosto do mês de Março.
FUGACIDADE
Enquanto comentava o meu poema “Março”, um Amigo disse-me que a neve caía, mas no fim também me informou que parara. É fugaz, sim, a neve. Cada vez mais. Fugaz e rara. É como os farrapos da magnólia. Também desaparecem rapidamente para darem lugar às folhas verdes. Sinais. A magnólia a dizer-nos, fugazmente, que vem aí o tempo dos frutos da terra e das flores. Desaparece a neve e abrem-se as portas da primavera. E os amores despontam e renovam-se. E o poeta espera sempre que uma mulher se anuncie com as flores. As flores gostam de mulheres. E elas de flores. E gostam da primavera, como Proserpina. Não é por acaso que ela regressa em Março e eu até acho que vem grávida do inverno (e do inferno). Bem sei que essa não foi cláusula negociada por Demetra com Hades, mas a verdade é que a sua chegada é já em tempo de germinação. É, sim. Tudo, em Março, com a chegada da primavera. Mês de transição, fronteira que permite ver para os dois lados, o passado e o futuro, o inverno e a primavera, a neve e as flores. Comprovadamente, a neve anunciou-se, dizendo, fugazmente: “ainda ando por aqui”. E ela sabe que é sempre bem-vinda. Agora espero que a neblina passe para a ver lá no alto, lá no topo da montanha. Com a neve há frio no corpo e calor na alma. E o poeta sente isso enquanto espera que o corpo também aqueça com a visão do sol da primavera sob forma de mulher.
PROSERPINA
Em Março regressa Perséfone (ou Proserpina, para os latinos). Do inferno e do inverno. Permaneceu lá desde Setembro a aquecer-se com Hades, que a raptara. Não sei se vem grávida, mas parece que sim, porque os rebentos da terra começam a aparecer. O que o amor faz!
SENSIBILIDADE
A poesia é reinvenção. Vamos à realidade, à que nos tocou a sensibilidade de forma intensa, e damos-lhe nova vida através de palavras. Mas não é “divertissement” nem exibição de virtuosismo. Não. É imperativo existencial. Algo perdurou na memória (como “lava” activa), obrigando o poeta a exteriorizá-lo, como “confissão”. Mas, neste caso, como discurso esteticamente comprometido para que possa ser partilhado e fruído como arte, assumindo, assim, uma existência fora do universo de si próprio. A forma ganha aqui uma enorme importância. Toda a importância, porque se não for belo (o que é dito) não suscita adesão e, por consequência, não se torna efectivo. A poesia só se torna performativa se suscitar adesão de sensibilidade. É por isso que digo que a musicalidade de um poema é essencial porque ela atinge mais directamente a sensibilidade (quase independentemente do conteúdo). Não digo que a semântica não importa. Importa, e muito. Mas a arte exige comunicação com poder sensitivo. Eu uso a sinestesia, além da musicalidade, da toada, para acrescentar força sensitiva/sensorial ao poema, embora a pintura também ganhe com isso porque lhe acrescenta sentido, significação. Na verdade, nos meus poemas acabo por contar sempre uma história.
É POETA QUEM SENTE A POESIA
A poesia é um hino à vida. Prolonga-a e torna-a mais bela e mais livre. Livre porque o acto de criação não conhece limites ou fronteiras quando acontece no interior do território do belo. A arte é liberdade. Uma forma especial de exercício da liberdade porque a sua única fronteira é a da beleza partilhada. Esta, sim, é a única responsabilidade do poeta. O poeta não comunica só o que lhe vai na alma. Tem de fazê-lo de forma a tocar directamente a sensibilidade de quem frui. De quem partilha. De quem sente aquilo também como seu. É nesta partilha que quem frui se torna também autor, poeta ele próprio. O poema também pertence a quem o lê. Torna-se também sua, a autoria.
INFINITO
Não lhe bastaram as palavras de que dispunha, ao Camilo Castelo Branco. E eram muitas e poderosas, como sabemos. O destino e as palavras não contiveram a força do Thánatos, que se sobrepôs ao Eros. Ficara diminuído nas suas capacidades físicas e o destino sobrepôs-se. Sim, é verdade que o infinito é perigoso porque produz vertigens. Mas é no infinito que se tocam os caminhos paralelos. É no infinito que se tocam os olhares. E às vezes este encontro produz vertigens. É verdade. Mas também pode ser salvação. Os caminhos no real são paralelos, mas poderão vir a cruzar-se na linha do infinito para onde apontam os olhares. É deste infinito que o poeta fala. E até pode ser o olhar da alma, o olhar íntimo. E até pode ser o encontro de olhares no belo, na obra de arte. O belo pertence ao infinito e é para lá que os olhares com ele comprometidos se devem orientar. O poeta olha, sim, mas tem medo de ser capturado e interrompido nessa sua tensão para o infinito. Sim, porque é aí que acontece o seu resgate. Por que razão diz ele, já no fim de um poema, que continuará a procurá-la onde, afinal, ela já não está? Talvez procure o milagre do encontro no infinito, através do olhar interior (seu e da musa que o acompanha na poesia). Sim, creio que é isto.
DEUS EX MACHINA
Há quem ache estranho o título do meu poema “Confissão”. Mas não está o poeta em permanente confissão, pergunto? Não interpela ele constantemente a sua musa? Sim, só que o faz numa dupla condição: por um lado, enquanto sujeito poético, que não coincide com o eu do poeta; depois, fá-lo em código, como se falasse para ‘iniciados’. Depois, ainda, o poeta coloca-se num intervalo, num espaço intermédio, de onde pode observar-se a si próprio, mas também o mundo. É um terreno que lhe permite uma certa distanciação. Dir-se-á: mas percebe-se que há nele aparentes contradições, movimentos em vários sentidos, que, de facto, até podem ser contraditórios. Sim. Por exemplo, que sentido tem dizer que continuará a procurá-la onde ela, afinal, já não está? Claro, isto só tem sentido no “tempo subjectivo” do poeta: ele vai à “moviola” e monta o filme da sua vida quando ela ainda estava presente. E é lá que vai procurá-la sempre que quiser. O banco de dados é a memória. Já lá não está, mas é esse o lugar que a ele interessa. Sugere-se que ele procura o que não quer encontrar porque o importante é a procura. E até que, se o encontrar, acabará aí o desejo ou talvez se anule mesmo como poeta. Isso é que não. Por isso, sim, é verdade. Tinha razão também o Machado. Mas é verdade que o que o move realmente é “lava” em combustão (o mundo de Dionísio)… Só que ele, mesmo assim, dissociando-se, pode deslocar-se para o tal intervalo de onde se observa e pode observar os próprios movimentos da musa (Apolo). Com a maquinaria poética. Como se fosse o “deus ex-machina” de si próprio. Aquele que desce ao palco para resolver o emaranhado existencial em que se envolveu ou se encontrou, sem querer. E, mais ainda, até pode fazê-lo de forma sedutora, podendo mesmo “atingir” a musa com a sua melodia, onde quer que ela esteja. Ele age sempre como se ela esteja ali mesmo à sua frente. Gosto dessa ideia de “epifania não consumada”, referida por um amigo. Epifania de algo não consumado, digo. Na verdade, um poema é sempre a epifania de um eventual fracasso (diria o Cioran), de uma dor, de uma perda. Ou seja, a perda ou a dor elevam-se, pela arte, ao sublime – epifania! O contraste entre a perda e o sublime e a viagem do poeta de uma situação para a outra. É neste intervalo que o desejo se alimenta e o poeta se move. Confissão de que o poeta não consegue (ou conseguiu) mesmo encontrar algo fora dele? Sim, é verdade, e é por isso mesmo que sente necessidade da poesia. De procurar dentro dele aquilo que foi incapaz de materializar fora de si. A escrita como solução da própria vida. É uma maneira de lidar com o inatingível. Por isso é que é uma tarefa sem fim. A poesia é exposição. Se não fosse, seria puro virtuosismo retórico. A poesia tem “gravitas”. Talvez mais do que qualquer outra arte. Veja-se o que diz o grande Manuel Bandeira, no poema “Desencanto”: “Eu faço versos como quem chora” (…) “Meu verso é sangue. Volúpia ardente…” (…) “Dói-me nas veias. Amargo e quente, / Cai, gota a gota, do coração” (…) “Eu faço versos como quem morre”. É como se não existisse mediação entre a alma e o verbo. Um fluxo ininterrupto a jorrar… em palavras. No princípio, era alma e, no fim, o verbo. O verbo como redenção.
EXPOR-SE
O comum dos seres humanos não se expõe publicamente, não revela os seus sentimentos, reserva para si o que lhe vai na alma. E há mesmo quem exagere a um ponto tal que chega a sufocar os próprios sentimentos. Sente a exposição como pecado. Como risco ou mesmo como tragédia. Por isso entrincheira-se. Como se uma eventual guerra o ameaçasse e o inimigo estivesse ali, à espreita, para lhe disparar à queima-roupa. É possível que haja traumas recalcados nestas pessoas e não se consigam libertar deles, pagando por isso um preço demasiado elevado. E arriscando a implosão ou a petrificação das suas vidas sentimentais. Só os poetas o fazem. Só os poetas se expõem. Mas não se sabe bem o que é seu, do poeta, ou do sujeito poético; e se é verdade ou é poético fingimento, por vezes até devido a puras exigências estéticas. A poesia também é mistério. JAS@03-2025
NOVOS FRAGMENTOS XII
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos
ESTAR-À-JANELA
“UM ETERNO ESTAR-À-JANELA”, dizia-me alguém, a propósito de um poema meu. Mas há quem esteja sempre a entrar e a sair pela porta, respondi. Quem não saiba sair da rua e não goste de estar à janela. Um desperdício, dizem. Uma bela diferença. O poeta também entra e sai pela porta, anda pela rua, cruza-se e descruza-se com pessoas, tropeça, cai e levanta-se… Tudo isto acontece e ele conserva e metaboliza a experiência. Mas, ali, da janela, ele vê mais longe do que o simples horizonte da sua rua, da rua onde demasiadas vezes tropeça. E esta é uma bela diferença. Mais: projecta a sua rua (e o que lá lhe acontece) para a linha do horizonte, pinta tudo de azul e fala disso, de forma cifrada, em código, aos que também, como ele, observam o horizonte a partir da própria janela. Como se o mundo fosse um pátio para onde dão as nossas janelas. Janelas diferentes, claro. Umas, sempre escancaradas; outras, sempre fechadas e com os cortinados a impedirem a dupla visão de dentro para fora e de fora para dentro; outras, aInda, intermitentes, sempre a abrir e a fechar; e outras, finalmente, sempre fechadas, mas sem cortinas. Claro, o horizonte das janelas é sempre uma miragem, porque depende da nossa retina e do que queremos ver (ou não ver) sempre que vamos à janela. Se olhamos para a rua ou para o horizonte. Ou, então, para a janela vizinha, procurando entrar na intimidade dos que a habitam. A vida é feita de miragens, apesar dos corpos rígidos em que vamos embatendo quando saímos à rua, quando deixamos a janela. O que acontece, afinal, nos sonhos? Miragens. E os sonhos não fazem parte da vida e, por isso, como dizia o Calderón de la Barca, a vida não “es sueño”? E não é à janela que sonhamos? A vida é feita de miragens. Não é um deserto, mas também é. E é a parte desértica da vida que as provoca. A rua, que nunca é desértica, porque transborda de transeuntes que sempre nos interpelam, não é lugar para isso porque está sempre a interpelar, a provocar, a interromper o desejo e o sonho. Sonhar na rua é muito perigoso. Provoca acidentes. À janela, pelo contrário, podes olhar o horizonte, fechar os olhos… e sonhar. Na rua não podes fechar os olhos.
“Um traço lento de fumo ergue-se e dispersa-se lá longe…”. É a vida a esfumar-se, vista da janela. Mas da janela também é possível fazê-la regredir desse movimento para o nada, recuperá-la com a fantasia, torná-la ainda mais nossa, mais próxima e até mais íntima. E mais bela. Basta mudar a direcção do olhar e da imaginação… desde que não seja na direcção da rua. A poesia serve para isso, se é que a palavra “serve” lhe é aplicável.
DEAMBULAÇÃO
O poeta, “na sua fatal deambulação”, que é poética, interpela a musa. E a musa cativa-o. E ele, imprudentemente, leva-a para o seu próprio ambiente de vida, as ruas empedradas da sua aldeia, a montanha, o sol especial que lá nasce, o azul profundo do céu, tudo aquilo que a pode aproximar mais de si. Um doce cativeiro voluntário. E a poesia é o veículo onde a leva até lá, “em fluxo criativo”. E ela deixa-se ir, na condição de sedutora. Mas, assim, o poeta troca a vida pelo passado, julgando estar a dar vida a esse passado. E de certo modo está. Resgate ou renascimento? Tudo se passa na esfera vital da alma. Mas, afinal, não foi sempre esse o lugar onde tudo aconteceu, nesse passado? Há um traço-de-união entre o presente poético e o passado vivido.
ERRÂNCIA
Errância poética, poder-se-ia dizer da vida de um poeta. Duas janelas e uma musa (ou duas, quem sabe…) a provocarem errância poética. Das miragens também se poderia dizer o mesmo. E ainda bem que há miragens porque, não havendo, nem haveria poesia nem cura. As miragens são a matéria de que se nutre o poeta. E elas surgem quando ele está (ou estava) à janela a olhar para a rua e, depois, para o horizonte. O que vê ele, lá da janela? Silhuetas. E no horizonte ele vê aquele traço lento de fumo que se ergue e dispersa, lá ao longe, isso a que se refere o Bernardo Soares (quase me apetecia, neste caso, dizer “Só Ares”). Traços lentos de fumo a esfumarem-se (é a palavra) lá longe é também o que muitas vezes encontramos na memória e que, por isso, nos obrigam a reconstituir integralmente, ainda que em código, o que aconteceu nesse passado que se esfumou. Tudo porque dói a alma. Ao poeta. E porque há uma musa que lhe sobrevive activa na penumbra da memória. E é aí que tem de intervir a fantasia, para a reconstrução, à medida do seu desejo insatisfeito. Na penumbra da memória. Como se estivesse a visitar o colunado de uma mesquita ou de uma catedral. Com a fantasia pode fazer isso ou viajar até uma ilha encantada… com ela, a musa. Só com ela. Faz lembrar Sininho e o Peter Pan. A miragem, intervencionada com a fantasia e o código poético, pode, sim, tornar-se realidade e o passado tornar-se futuro, resgatando o poeta do poço fundo da memória. Até ao próximo ciclo daquilo que mais parece o eterno retorno e a clepsidra do Nietzsche.
O MILAGRE DA POESIA
Fecho os olhos para a deixar entrar, sem interferências nem ruídos exteriores. A musa. De noite, através dos sonhos. De dia, pelas janelas da alma. Nunca a quis afastar do meu universo onírico nem do fio do horizonte que vejo da minha janela. Porque nunca se deve afastar o que para nós é (ou foi) vital. Um poeta que expulse a musa que o inspira está a cometer suicídio. Não, o que se deve fazer é transformar a ausência em presença, o silêncio em melodia e o passado em futuro; fracasso em sucesso, a dor em prazer e a tristeza em doce melancolia. Assim, a musa fica mais bela do que (já) é (a seus olhos). E assim diria Michelangelo, o da Yourcenar, do seu amante Gherardo Perini. Fechando os olhos e deixando-se ir da janela para o horizonte, tendo como asas as palavras, ficará mais perto dela, da musa. Nem é preciso nomeá-la ou retratá-la.
UMA PORTA PARA O SONHO
A poesia é uma porta para os sonhos. Tal como os sonhos são uma porta para ela. Entramos por ela adentro e começamos a sonhar, a ver beleza onde talvez não houvesse, a ouvir uma melodia onde talvez só houvesse ruído, a ver futuro onde só se via passado sem recurso. A poesia abre sempre as portas para um mundo melhor e mais belo, mesmo que seja melancólica. É uma porta em forma de janela, que, em vez de dar para a rua (mas também dá, com o olhar), dá para o vasto horizonte.
O POETA E O MUNDO
Eu adoro o Fernando Pessoa, que considero um génio. E a ideia de que o mundo não precisa dele para existir tem uma correspondência simétrica: também parece que ele não precisa do mundo para existir. Ele (neste caso o Bernardo Soares) nem gosta de tocar nele (no mundo) sequer com as pontas dos dedos. O mundo, para ele, de certo modo, é uma espécie de galeria de arte e, por isso, relaciona-se com ele sobretudo com a sua sensibilidade. E com o olhar. Mas às vezes (poucas) não era assim. Que o diga a sua Ofélia. Mas tem, de facto, consciência de que o mundo não se reduz ao que se vê da janela (embora seja isso o importante). Lembro a fórmula excessiva do Berkeley: “esse est percipi”. Diz ele, e bem: uma coisa é a ideia filosófica de árvore, outra é a própria árvore. A árvore não precisa da ideia de árvore para existir. Mas também poderia dizer que a árvore ganha em existência se também existir como ideia. Porque as ideias têm o poder de resgatar o real. E de o ter em ausência. Em suma, se o mundo não precisa dele para existir, também ele não precisa do mundo para ser, porque ele tem em si todo o mundo que deseja ser. O (seu) mundo é do tamanho do seu olhar, seja lá o que o mundo em si for.
SENTIR O POEMA
Um Amigo disse-me: “Alguém terá dito que poeta é também quem sente o poema”. Eu próprio o dissera também. E até falei de uma comunidade de “iniciados”, porque a poesia é uma linguagem em código, ou cifrada, cujo primeiro nível de compreensão deve acontecer em forma de sentimento, de registo de sensibilidade. Por isso, “poeta é também quem sente o poema”, por dentro.
DUAS JANELAS
“Andamentos” interiores do poeta – aquela dialéctica entre a perda e a recriação ao sabor dos mais íntimos e sofridos desejos. E lá vem o voo reparador para a ilha encantada, com ela (só ela) na alma. Perda e reconquista, em palavras, que são as asas do voo poético até à sua Neverland. Há aqui (no poema “ Miragem”) duas janelas, a da pintura (“A Outra Janela”) e a da musa. À dela não conseguia chegar porque ninguém lhe ia buscar uma escada. Não tinha a famosa Ama de Julieta, “prover-me de uma escada, para que vosso amor consiga o ninho do pássaro alcançar” (Shakespeare, Romeu e Julieta, II, V), para subir até ela. Metáfora que a coloca num lugar cimeiro e inalcançável. Submisso, pois, o poeta. Mas, agora, que a tem, só lhe serve para ver mais longe e para viajar com o olhar (e com ela, no olhar) no veículo poético feito de palavras e movido a combustível rimático e melódico até uma ilha encantada. O que mudou? A janela, que é a mesma, mas vista de fora, de um ângulo diferente. Mas a janela tem sempre como referência a musa, embora em condições diferentes. Se a outra se via do lado de dentro, com a musa, esta vê-se de fora, já sem a musa, que partiu. Por isso, este (o do poema “Miragem”) é um canto melancólico só compensado pela visão indirecta (interior e mediada pela memória) da musa, a sul, sob forma de fugaz estrela cadente. Uma luz que, sem o encandear (no passado, sim, encandeava-o), o ilumina por dentro, condição da sua própria génese e identidade como poeta. Trata-se do tempo subjectivo, “kairótico”, do “tempo oportuno” e criativo que permite, como um clarão (como o de “A une Passante”, do Baudelaire de “Les Fleurs du Mal”), visualizá-la por momentos, para logo desaparecer (engolida pelo anonimato de que tanto ela gosta). Às vezes a visão é tão nítida que ele até ousa pintá-la, para dar maior realismo à sua visão interior, poética. Assim vai sobrevivendo, como jogral, cantando para espantar um mal que não tem cura, a não ser a da palavra. A poesia é o seu divã, o lugar onde dá curso às suas livres associações em busca do tempo e da musa perdidos. JAS@03-2025
CONSIDERAÇÕES ACERCA DA REJEIÇÃO
DA MOÇÃO DE CONFIANÇA
A Caminho do Plebiscito
João de Almeida Santos
MOÇÃO DE CONFIANÇA REJEITADA e, naturalmente, eleições em Maio. E ficou claro no debate parlamentar de ontem que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro (LM) não queria (não quer) responder numa “Comissão Parlamentar de Inquérito” (CPI) nos termos regimentais previstos. Diz ele e o seu bloco político que, assim, iria verificar-se uma prolongada degradação da vida política e institucional, sem que, todavia, se tenham preocupado em notar a contradição patente em que incorrem relativamente ao funcionamento de todas as outras CPIs que ocorreram até agora, incluída a que viu o PR envolvido (a CPI das gémeas). Estas, pelos vistos, nunca contribuíram para a degradação do sistema institucional, mas, agora, sim, será uma CPI aviltante e institucionalmente corrosiva. O mínimo que se poderá dizer é que acordaram tarde para a lógica de funcionamento das CPIs.
1.
Assim sendo, o PM só recuaria na “Moção de Confiança” se ele próprio pudesse controlar os termos em que a CPI se fosse desenrolar, incorrendo noutra contradição: ser o inquirido a ditar os termos da inquirição. Mais uma vez: até aqui tudo bem, mas agora há que mudar as regras de funcionamento desta CPI sobre o PM. De preferência, que dure, imperativamente, quinze dias ou, na pior das hipóteses, dois meses. Acordaram tarde, mas dirão que mais vale tarde do que nunca. De qualquer modo, o que parece é que, com o que aconteceu ontem no Parlamento, a CPI será transferida para a campanha eleitoral, desvirtuando-a, mas desvirtuando também a própria campanha eleitoral. Nada melhor para a degradação das instituições.
2.
Pedro Nuno Santos instou o PM (porque é disso que se trata) a retirar a “Moção de Confiança” e a submeter-se a essa CPI (com duração prevista de três meses, quando ela normalmente pode ir até 180 dias, e com eventual prorrogação até 90 dias), nos termos regimentais, recusando negociações de bastidores sobre ela enquanto ia ocorrendo o debate no Parlamento, ou em qualquer outra situação. Ninguém queria as eleições, é verdade, mas elas irão acontecer, e no pior dos cenários. Acontecerão mais como plebiscito do que como eleições legislativas.
3.
PNS ficara amarrado, desde o dia 10 de Março de 2024, ao chumbo obrigatório de qualquer “Moção de Confiança” que viesse a acontecer. E chumbo repetidamente reiterado. É verdade. E isso tornou quase impossível um recuo em relação a esta posição do governo, sob pena de vir a ser considerado troca-tintas. A verdade é que uma rigidez discursiva e decisional deste tipo não parece ser muito apropriada à actividade política, até porque as circunstâncias mudam, e agora muito mais rapidamente do que antes. Uma das razões (não a única, nem a mais importante) da existência do mandato não imperativo deve-se também à necessidade de deixar mãos livres aos representantes para poderem decidir e agir em função da própria imprevisibilidade da política e da história. E, neste caso, se as circunstâncias tinham mudado muito (não era previsivel este estranho comportamento do PM nem esta tentativa plebiscitária de o branquear), o compromisso de PNS não mudara (fora reiterado várias e recentes vezes, quase como um mantra), pelo que ficou amarrado a essa pré-anunciada e reiterada decisão. E, por isso, ontem agiu em coerência, no meio das tentativas mal-amanhadas da maioria no debate parlamentar para reverter a situação de queda do governo, sem excessivo prejuízo para o PM, devido à CPI. O PM tinha receio de ser queimado em lume brando e, por isso, tentou, e conseguiu, uma fuga para a frente, arrastando consigo o governo, o seu partido, o país e o próprio PS.
4.
Há uma pergunta legítima que se poderia fazer a PNS: se era isso que LM queria por que razão lhe deu precisamente o que ele queria? E a resposta seria sempre esta: porque já estava há muito anunciada a posição do PS perante uma tal eventualidade. Ou seja, o governo só cairia, e cairia, quando o PM quisesse, porque o PS já demonstrara à exaustão que não seria causa de instabilidade política: deixou passar o programa do governo, a presidência da AR, o orçamento, e chumbou duas moções de censura. Mas com a consciência tranquila, porque, confiança, isso é que não. Um mantra. A verdade é que, logo que o PM decidiu submeter-se a uma “Moção de Confiança”, a tal fuga para a frente, PNS viu-se obrigado a executar o que já anunciara há muito e, deste modo, a satisfazer o desejo de Luís Montenegro, pagando por isso um preço: ver-se acusado de ser causador de instabilidade política. Injustamente, como se vê, mas também porque ele próprio se amarrara a essa decisão desde o dia das eleições legislativas de 2024.
5.
Já aqui escrevi, na passada segunda-feira, que a melhor decisão teria sido, de facto, a abstenção e a rápida promoção da CPI. E elenquei as razões de fundo e os efeitos. Assim, o que iremos ter, será, independentemente dos conteúdos discursivos mais amplos que seguramente acontecerão na campanha eleitoral, um plebiscito sobre a figura de Luís Montenegro: ter ou não condições para voltar a ser primeiro-ministro. Ou seja, toda a campanha se centrará na sua figura. O que acabará por lhe dar uma centralidade que acabará por ser benéfica para ele, se aceitarmos a lógica e a validade de uma famosa teoria dos efeitos, a do “agenda-setting”. Sei bem do que falo porque estudei ao pormenor a campanha de Berlusconi de 1994, que o levou ao poder, tendo usado e abusado desta tecnologia social, contra, neste aspecto, uma certa inoperância de Achille Occhetto, o líder do PDS (veja-se o meu Media e Poder, Lisboa, Vega, 2012, pp. 257-338).
6.
Não me agradou, portanto, o desfecho deste processo e até acho que o PS, mesmo que saia vencedor das eleições, não terá seguido aquela que seria, na minha opinião, a melhor estratégia – a abstenção. A lição a tirar daqui é esta: a rigidez decisional, em nome de uma eventual coerência de discursos de conjuntura, que, em nome precisamente da coerência, amarram o seu autor e não lhe deixam a necessária flexibilidade para agir politicamente em liberdade, não é mesmo muito amiga da acção política. A coerência e a rigidez discursiva só devem ser mantidas no plano da ética da convicção, no plano dos princípios. Mas mesmo aqui, às vezes, a ética da responsabilidade e as exigências de flexibilidade táctica implicam um nível de liberdade que a rigidez decisional não permite. Espero que PNS retire desta experiência a devida lição, como, afinal, em parte, já o tinha feito em relação ao orçamento para 2025. É assim que eu vejo as coisas. JAS@03-2025
A CRISE E O PLEBISCITO
EM SETE ANDAMENTOS
João de Almeida Santos
NESTA CRISE que estamos a viver há um aspecto, porventura o essencial, que nos deve fazer reflectir. Mas ele não consiste no facto de irmos para eleições antecipadas, um ano depois das últimas. Não. Nem em termos três eleições (legislativas, autárquicas, presidenciais) em menos de um ano. Nem sequer em termos, em três anos, três eleições legislativas. Não, a crise não consiste em nada disto. É algo mais profundo e mais grave.
1.
A crise consistirá, se, como previsto, a moção de confiança for reprovada, forem convocadas eleições e Luís Montenegro se apresentar de novo como candidato a PM, depois de ter sido o seu comportamento a ditar o fim da legislatura, envolvendo o seu partido e o país num processo que só a si diz respeito e transformando as eleições num tribunal que avalia, não visões políticas do mundo, não programas e os seus responsáveis e executores, mas eventuais ilícitos (fora das instâncias judiciais) ou comportamentos individuais, claramente identificados e eticamente censuráveis; em suma, não um chumbo do orçamento ou a aprovação de uma moção de censura, por o parlamento não ter aceite as políticas propostas e executadas pelo governo, mas a aprovação ou condenação do comportamento moral de uma pessoa. A crise deve-se a um comportamento inadequado de Luís Montenegro: receber, ele e a sua família, sob forma de serviços prestados com regularidade, avenças de grupos económicos enquanto desempenhava as funções de primeiro-ministro. E isto é facto comprovado, reconhecido e cada vez mais adensado, à medida que se vão conhecendo novos episódios. As sucessivas correcções de rota (hoje a empresa já só pertence aos jovens filhos, por decisão do pai e da mãe, já não tem morada na sua residência nem, creio, já exibe o próprio número de telefone do PM) parecem evidenciar que, de facto, algo estava mal. E estava. Pelo menos, do ponto de vista ético, embora do ponto de vista jurídico as dúvidas sejam muitas e legítimas. E, por isso, para que assumisse sozinho as próprias responsabilidades, nem seria necessário invocar o princípio de que, em política, o que parece é ou de que o verdadeiro líder deve ser como a mulher de César. Na verdade, o facto é tão embaraçante que o governo vai acabar por cair, com uma esmagadora maioria no parlamento (provavelmente com cerca de 62% dos votos no parlamento, como previsível).
2.
Na verdade, comparada com a que motivou a queda do governo e da maioria absoluta do PS, esta crise tem fundamentos muito mais sólidos, até porque relativamente à outra, passado um ano e quatro meses, o famoso e demolidor parágrafo continua a não passar de mera neblina inconsistente, fumo sem fogo à vista, havendo, um dia (sabe-se lá quando), de tudo ficar esclarecido. Mas a verdade é que o governo caiu, por suspeitas de ilicitude atribuídas ao PM de então, António Costa. Este, bem ou mal, demitiu-se, podendo, na altura, haver eleições ou, então, como proposto, uma substituição do líder do governo, justificada em virtude de haver uma maioria absoluta de suporte do governo. E, como se sabe, o PR preferiu a primeira solução. Uma crise, pois, que mais parece ter sido uma narrativa encenada ou construída artificialmente do que algo com consistência. Ainda não são conhecidos todos os autores da encenação, mas um dia haverá de saber-se.
3.
Se, como previsto, Montenegro se voltar, então, a apresentar a eleições como candidato a primeiro-ministro, isso representará não só um desvio de responsabilidades para o seu bloco político e para o próprio país, mas também, o que é mais grave, um uso instrumental e inadequado das eleições legislativas, transformadas agora num inacreditável plebiscito sobre a sua própria figura (Lex Montenigrum, lei com o nome do tribuno que a propõe). E é isso que acontecerá. Não serão verdadeiramente eleições legislativas, mas um plebiscito, aliás, nem sequer previsto na Constituição da República Portuguesa, vista a má fama que ele tem (foi promovido em 1933 sobre a famosa Constituição). Um appel au peuple sobre o consulado de LM, mas exclusivamente sobre a sua figura e sobre o seu comportamento moral. Ora, como se sabe, o plebiscito é um instrumento de democracia directa: “O plebiscito é um mecanismo de democracia directa, pode conciliar-se com os mecanismos da democracia representativa, mas, de certo modo, está em contradição com os seus princípios e pode mesmo ser utilizado – como aconteceu várias vezes – por regimes de tipo autoritário” (Enciclopedia Treccani). Por exemplo, com Luís Napoleão (Napoleão III), em meados do séc. XIX: “Plebiscito: imediatamente a seguir ao golpe de Estado, o povo é chamado a declarar a sua vontade acerca da manutenção da autoridade na sua pessoa e a delegar nele o poder constituinte” (Arangio-Ruiz, V. e Marchi, T., Plebiscito, in Enciclopedia Treccani). Nem mais.
4.
Como se sabe, as eleições legislativas, numa democracia representativa, funcionam em torno de três objectivos: o universo ideal representado pelos partidos concorrentes, o seu programa político e a(s) liderança(s) que os interpretam e executam. Ora, neste caso, pelo que já se viu, do que se tratará é de reprovar ou validar o comportamento ético do primeiro-ministro, assumindo realmente as características de plebiscito e distorcendo totalmente a natureza destas eleições, já que, afinal, nelas, formalmente, nem sequer estará em causa a eleição directa do primeiro-ministro (é esta a natureza das democracias parlamentares, como a nossa). E, todavia, na realidade, do que se tratará é de obter plebiscitariamente um sim ou um não em relação ao comportamento individual de Montenegro e à sua continuidade como chefe do governo, fazendo um bypass relativamente aos poderes das outras instituições, designadamente os da presidência da república, do parlamento e do poder judicial. Porque se trata, de facto, de um instrumento de democracia directa. Estas eleições, sendo exclusivamente sobre a figura do primeiro-ministro, pela razão já referida e explicitamente assumida, e não sobre o governo e as suas políticas, correspondem a uma mudança prática ou informal do nosso regime constitucional. Até porque nas eleições legislativas há inúmeros factores em causa (mundividência política dos partidos, programa político e 230 mandatos para atribuir), que não são de modo algum subsumíveis na figura do líder, não podendo, pois, as eleições ser interpretados como voto de aprovação ou de reprovação do comportamento de Luís Montenegro. E, todavia, é esse o objectivo e será esse o efeito, será essa a conclusão do processo eleitoral, tendo sido essa a razão que, afinal, motivou a realização destas eleições. Alguém disse que, muitas vezes, o efeito supera a causa – pois é disto mesmo que se trata. Na realidade, o que vai acontecer é realmente um plebiscito travestido de eleições legislativas, onde até poderá acabar por ser exaltado o prevaricador. De qualquer modo, que venha a ser o resultado, isto nunca deveria acontecer. Mas, se acontecer, é porque Luís Montenegro quis fazer uma fuga para a frente de modo a tirar o assunto da agenda pública, envolvendo-o com um discurso de política geral, mas retirando, depois, ilações concretas sobre o assunto, sobretudo se conseguir um resultado favorável. Mas a verdade é que, como se sabe, isso não irá acontecer, uma vez que o PS não recuará, em qualquer caso, na decisão de avançar com uma CPI. A posição de PNS, ao pedir a LM que retire a moção de confiança é, pois, correcta, corrigindo, deste modo, a inacção presidencial, mas não deixando cair a exigência de investigação do que na realidade aconteceu com as avenças do Primeiro-Ministro. Mas há outra solução possível e realista, como veremos.
5.
Se as coisas, em matéria de política democrática, já não estavam muito sadias, com este salto abrupto para uma política de natureza plebiscitária ainda vem agravar mais o que já não estava bem. Tudo isto porque Luís Montenegro decidiu não assumir pessoalmente as consequências do seu próprio comportamento, preferindo cobrir-se com o manto diáfano do PSD e da AD, e pouco lhe importando que o seu próprio partido possa vir a ser profundamente afectado, designadamente a favor do CHEGA, nestas eleições, fazendo migrar política e indevidamente a imputação da culpa para o vasto corpo do seu próprio partido. Se, pelo contrário, o resultado lhe for favorável, pode parecer que a sua autoridade interna crescerá, porque reforçada plebiscitariamente… até que o lawfare ou um outro qualquer comunicado da PGR entrem em acção e o derrubem com instrumentos judiciais, não havendo plebiscitos que o possam salvar. De resto, está visto que o assunto das avenças não morre aqui, com este plebiscito, qualquer que seja o seu resultado. O que é estranho é que o PSD não compreenda isto, não compreenda que a médio prazo pagará uma factura muito alta por tudo isto e que, afinal, é a democracia que está em causa, e por culpa própria. Estará este partido refém do seu actual líder?
6.
Não são muito interessantes os caminhos que a política está a seguir quer por culpa dos seus protagonistas, individuais e colectivos, quer por causa das profundas mutações que estão a ocorrer nas nossas sociedades e das interpretações radicais que estão a ser intensamente promovidas por certos movimentos políticos. E este caso, que é muito sui generis, vem a confrontar-nos com uma tendência que, desde os anos ’50 do século passado, em especial devido ao aparecimento da televisão, se tem vindo a impor, isto é, a extrema personalização da política, com os consequentes efeitos que ela provoca em matéria de solidez dos sistemas políticos democráticos. As chamadas campanhas negativas, nos Estados Unidos, nas presidenciais, sempre se basearam nisto. Mas o que hoje está a acontecer neste país também encontra nisto uma fortíssima causa. Depois, se os protagonistas desta nova política hiperpersonalizada mais não forem do que actores secundários, pouco escrupulosos e insuficientes em matéria de ética pública os resultados podem ser gravíssimos para a sobrevivência da própria democracia. De qualquer modo, a lógica plebiscitária nunca foi amiga da democracia representativa e muito menos o será se for sobreposta à dos seus mecanismos centrais. E até o referendo, que sempre deu resultados que nunca foram particularmente entusiasmantes e democraticamente instrutivos. Bem pelo contrário. Mas o seu irmão gémeo, o plebiscito, esse, até tem uma fama, uma má fama, que não é mesmo democraticamente recomendável. Ele reforça ainda mais, na maior parte dos casos em direcção à autocracia, o que hoje já constitui um excesso na política democrática: a hiperpersonalização.
7.
Perante tudo isto, o que resta concluir é que não é aceitável que o nosso sistema político seja arrastado (é a palavra) para uma tentativa de resolução de um problema que é absolutamente de natureza pessoal. E esta conclusão já deveria ter sido assumida pelo senhor Presidente da República, informando o senhor Primeiro-Ministro de que não convocaria eleições, que não arrastaria o país para um plebiscito e que tudo faria para manter o sistema a funcionar sem eleições. O destino do país não tem de ficar obrigatoriamente amarrado aos problemas pessoais de Luís Montenegro. Em vez disso, todavia, o senhor Presidente aderiu de imediato à ideia de eleições, o que é estranho para quem exibe no seu curriculum profissional a condição de constitucionalista e de professor catedrático de direito. Assim sendo, vamos para o plebiscito e para mais perto do precipício democrático ou da farsa democrática que hoje parece estar a triunfar um pouco por todo o lado. Lamentavelmente.
Não sei mesmo se o PS não deveria abster-se na moção de confiança, por uma única razão: o PS não viabiliza plebiscitos, sejam eles mascarados ou não de eleições legislativas. De resto, nem se poderia dizer que haveria recuo em relação a quanto o secretário-geral tem vindo a declarar em relação a uma moção de confiança, por quatro razões: 1) não se trataria de aprovação, mas simplesmente de uma abstenção, que evitaria eleições; 2) uma situação destas, a que acima descrevi, não era previsível e, muito menos, que ela fosse “resolvida” recorrendo a um instrumento que a nossa constituição não prevê, o plebiscito, ainda que disfarçado de eleições legislativas; 3) a CPI sobre os negócios de Montenegro avançaria rapidamente; 4) daria ao PR a possibilidade de resolver o problema do PM sem recorrer a eleições, eventualmente com a compreensão de uma boa parte do próprio PSD (veja-se as declarações de Moreira da Silva).
Trata-se de um problema muito delicado, mas o que está em causa é o próprio sistema político e uma gigantesca desproporção entre a causa (um problema pessoal de Luís Montenegro) e o efeito, uma grave distorção do nosso sistema político. JAS@03-2025
NOVOS FRAGMENTOS (XI)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos
ARTIGO – “NOVOS FRAGMENTOS” (XI)
1.
A POESIA TEM O PODER extraordinário de acelerar o tempo ou de o retardar. O tempo da poesia é “kairótico”, acontece como “momento oportuno”, como “durée”, para usar o conceito de Henri Bergson, o tempo subjectivo, tempo que é fluxo, movimento, a continuação do que já não existe no que existe, o prolongamento do antes no depois, uma “memória interior à própria mudança”. Daí o seu poder de aceleração. Introduzindo o “instante criativo” na nossa liturgia existencial superamos o tempo cronológico, o “tempo espacializado”. Depois, recorrente no meu discurso poético, vem a neve, que infelizmente é cada vez mais passado, porque já não nos visita, tendo de ser nós, quais turistas da neve, a visitá-la. Ela, antes, vinha ter comigo a minha casa, ao meu jardim, à minha rua. Agora, não. Mas com a poesia, com o tempo subjectivo, é sempre possível reverter o tempo cronológico e ir lá, a esse passado com neve. A essa rua onde ela aparecia… quando queria. Entramos no veículo poético e, zás!, já lá estamos. Outra vez a aceleração. Um veículo poderoso, que só poucos sabem conduzir com a necessária mestria e sensibilidade à flor da pele. Na direcção do passado, mas com os olhos postos no futuro. Trazendo-o com arte ao presente é o mesmo que lhe dar asas para voar até ao futuro, queira o passado ou não. É que, aqui, até o passado tem vontade. Só que o poeta também a tem, aliada da sua fantasia. Aí a encontramos, a ela, ou um outro amor de juventude a que ela, a neve, também possa aludir. Que sempre havia. Oh, se havia… A neve é, sim, metáfora, mas também é referente real – ela representa o passado naquilo que ele teve de mais belo. A neve é feminina, é mulher. E é por isso que o poeta a canta e a procura sob outra forma (líquida e muito fria, como ela, a do silêncio que castiga) lá no alto da montanha para a trazer consigo, a ela e à montanha. A poesia traz a outra, como a água traz a montanha e a neve (em forma líquida). O passado ao alcance da imaginação. A textura delicada de um floco de neve a dissolver-se assemelha-se a um suspiro quase inaudível. Mas lá está a poesia para o registar. Suspiro que até pode ser, realmente, o poético. O canto em surdina. É por isso que a poesia a procura, a neve, para dizer o que de outro modo não poderia dizer. Os grandes amores são muitas vezes, demasiadas até, fugazes, como a neve. Brancos e frios. E petrificam. É por isso que os poetas andam sempre com um espelho para poderem olhar as musas através deles e não petrificarem.
2.
O sonho, seja ele poético ou não, funciona assim: filtra. Codifica o real e reprodu-lo já codificado. Para lhe aceder é preciso uma chave. Uma espécie de código. É uma linguagem e, como tal, tem essa função. Uma linguagem especial. Também é uma descarga não linear de experiências comprimidas e mal resolvidas. O Cioran falava de poética do fracasso. No sonho poético intervém o espírito para sofisticar esteticamente o que a alma sentiu. A alma sente, o espírito estiliza. Sim, o sonho purifica. Por isso, é bom sonhar. Depois, como diz o poeta, o mundo até pode pular e avançar…
3.
Há sempre a poesia para reconstruir no presente o que se perdeu no passado. Com a poesia revive-se. Com a intensidade que a performatividade da poesia torne possível. É variável, a performatividade. E depende muito da melodia, do ritmo, da toada, fundamentais para dar poder expressivo e sensorial à poesia. Como dizia a Yourcenar: “Gherardo, maintenant tu es plus beau que toi-même”. Referia-se já à ausência do amante de Michelangelo e à sua expressiva reconstrução estética. Pensava no passado quente que ficou ao alcance da sua fantasia reconstrutiva na fita da memória. Agarrar o passado com palavras, com melodia, com cores, com beleza, é revivê-lo livremente. Afinal, a felicidade é um sentimento: é algo que se vive interiormente e que podemos accionar à nossa própria escala. Em condição de ausência. E, se assim for, por que razão não a podemos reconstruir e revivê-la sem limites? Só com a nossa fantasia, sim, mas para depois a partilharmos através da arte como projecção e estilização da nossa própria sensibilidade, como um novo andamento da nossa experiência sensível.
Alguém me dizia que abraçar com o olhar é impossível, porque não se sente fisicamente quem abraçamos. Não concordei porque, no meu entendimento, até é possível sentir mais fortemente (e fisicamente) um abraço que seja dado simplesmente com o olhar, com a alma. Afinal, os olhos são a janela da alma. E a conversão somática também acontece com o desejo. Ecco.
4.
O tempo é absoluto, mas também é relativo. É as duas coisas. E há o tempo subjectivo, que é o tempo dos poetas. A “durée”. E há o tempo “espacializado”, cronológico. Um tempo exterior que nos atropela constantemente. O do poeta é clepsídrico, reversível, pode sempre recomeçar. Basta virar a clepsidra. O eterno retorno, como vem definido na “Gaia Ciência”, do Nietzsche, Aforismo 341. Este também pode ser o tempo do poeta. Por isso ele fala, no poema “Tempo e Memória”, de uma esfera em rotação entre o futuro e o passado, com o poder do meteorito incandescente que até pode provocar grandes devastações. Por exemplo, quando se tenta agarrar o passado intenso e não se consegue porque a neblina do tempo é intensa e já não deixa ver com nitidez. Só a fantasia consegue penetrar nessa neblina e agarrar o passado, modelá-lo, convertê-lo, estilizá-lo, trazendo-o ao presente e até ao futuro (através da arte). Não acreditar que a musa não ouça o poeta? Bom, talvez ouça. De qualquer modo, ele age sempre como se ela o estivesse a ouvir. E mais: age poeticamente (mas também como pintor) para a seduzir e, assim, remediar o que falhou no passado. Mas conseguirá seduzi-la? E se ela o não ouvir? Resultados concretos? Sim, há: os poemas. Eles bastam-se. É como procurar seduzir um fantasma? Eles sempre voam por aí e fazem parte da atmosfera criativa. E o poeta sabe disso. Mas pode ser que algum dia um poema chegue à musa, se os fantasmas (seduzidos, também eles) não os beberem durante o trajecto. Eles são fluxos que fazem o seu caminho para além do poeta que lhes deu vida. Há um cordão umbilical que se deslaça… na partilha. Os poemas são riachos que fluem para rios e, depois, para o mar… O encontro entre a “água doce” e a “água salgada” é sempre imprevisível e potencialmente instável. Como o poema quando chega à musa…
5.
Talvez a musa esteja num plano intermédio entre a reserva e a altivez própria de quem se sabe amado, mas a tender mais para a reserva, para o culto do anonimato, para o gosto da penumbra. Não sei. Não sei bem se o retrato que resulta de um poema se lhe aplica ou se a musa dos poemas est plus belle qu’elle-même. O que sei é que a relação remota do poeta com a musa gera sempre uma cadeia de sentimentos que parece não ter fim, pois passa a fazer parte do universo onírico dele. Uma espécie de “pecado original” de que o poeta procura resgatar-se pela poesia. E para isso escolhe a via da sedução poética, da beleza, do canto, apesar de não saber se ela o ouve. Sim, mas, de qualquer modo, ele age sempre “como se”. E é isso que é importante. Porque é isso que lhe permite continuar.
6.
O tempo é fluxo e deixa rasto, marcas, sulcos e tudo isso também acontece na memória viva. Acontece no real, com as marcas físicas, e acontece nos registos de memória viva. E estes registos falam, às vezes, como sonhos, outras, como narrativas, como poesia, como música ou pintura. A música popular está muito presente nas composições de Mozart, por exemplo. Há nela marcas muito profundas e reconhecíveis. E nem falo dos romances históricos, das telas de pintura ou dos monumentos e edifícios. Tudo isto passa pela sensibilidade dos executores, havendo, pois, uma mediação por intervenção da consciência, dos registos de sensibilidade, da memória, do saber, da técnica. Acontece assim a cristalização do tempo. E o próprio tempo torna-se, assim, escultor. O poeta é um escultor de sentimentos com palavras em melodia, procurando captar o fluxo temporal, mas sem o petrificar. A linguagem da poesia procura acompanhar a fluidez dos sentimentos e do próprio tempo referindo-se ao objecto como se estivesse a olhá-lo num espelho, não directamente. Esse desafio de superar a petrificação é o mais delicado, difícil e complexo da arte. Nesse sentido, o poema é, sim, tempo, porque se move livremente entre o passado e o futuro, situando-se no chamado “instante criativo”, no “momento oportuno” ou “kairós”. E o próprio poeta situa-se no seu espaço ideal, que é o intervalo entre si e o real. E é por isso que ele próprio, enquanto poeta, pode fluir com o tempo. E até acelerá-lo ou retardá-lo.
7.
A “Esfera do Tempo”, uma pintura minha para o poema “Tempo e Memória”, representa a possibilidade de reversão do tempo. E a verdade é que o poema faz reverter o tempo, tornando-o vivo (na performatividade da palavra poética). A própria ideia de clepsidra, que fui buscar a Nietzsche, à “Gaia Ciência”, também torna possível essa reversão, desde que manipulada (a tal rotação). O centro é, claro, a memória, o lugar onde acontece o tempo subjectivo do poeta, onde acontece a conversão do passado remoto ou mesmo do instante pulsional que leva o poeta a cantar. Nela o passado corre em moviola e é assim que o poeta compõe. Olha para o écran da memória em movimento, como na moviola, observa, regista e compõe. Depois, o espelho (que também está na imagem a reflectir a esfera): é sobre ele que o poeta trabalha, imagem indirecta, instrumento que a deusa lhe deu para não petrificar perante a visão da musa (górgone benigna). De resto, o essencial nunca se dá a uma visão directa, mas sim a uma visão sempre indirecta, mediada. O espelho é, pois, um precioso instrumento para nos relacionarmos com a verdade e a beleza. Depois, a imagem da vela que atrai a borboleta e que morre (morrem ambas) para iluminar é bela. Pode-se intuir isto num poema de Goethe (“Selige Sensucht”, mas creio que a imagem da vela aparece no romance de Thomas Mann, “Lotte em Weimar”, precisamente numa fala de Goethe) e procura simbolizar as palavras que exaltam (iluminam) a musa à custa de uma eventual anulação da própria identidade do poeta. Anulo-me para te fazer brilhar. As velas dos cerimoniais religiosos ao serviço da iluminação divina. E também é verdade que o poema se move entre o magma pulsional e o rigor sideral, sendo, sim, esse o permanente desafio da poesia. JAS@03-2025
VANCE, A EUROPA E AS ELEIÇÕES ALEMÃS
João de Almeida Santos
ARTIGO - "VANCE, A EUROPA E AS ELEIÇÕES ALEMÃS"
ANTES DAS ELEIÇÕES DE DOMINGO, 23.02, na Alemanha, houve uma cimeira mundial sobre segurança, em Munique, com a presença do Vice-Presidente americano James David Vance. O seu discurso diz muito não só como o actual poder americano vê a Europa, mas também como ele próprio se identifica (pelo que diz).
1.
Li com atenção o discurso de JD Vance e ficou claro que ele se centrou sobretudo na crítica àquilo que a chamou crise de valores na Europa (a verdadeira “a ameaça interna”), que, na verdade, e a ter em conta os exemplos que deu e a linguagem que usou, se centra no essencial no valor da liberdade e, sobretudo, como ela é posta em causa pela atmosfera woke (de matriz americana, diga-se) e pelo “politicamente correcto”, que lhe impõe severas limitações; na questão das chamadas linhas vermelhas (expressão usada por ele: “não há lugar para linhas vermelhas”) e no problema da imigração, “descontrolada”, também palavra sua. Os exemplos foram escolhidos a dedo: referindo as declarações de um antigo comissário europeu sobre a anulação das eleições na Roménia e a eventualidade de isso também poder acontecer na Alemanha; a censura digital, a ameaça de fecho temporário das redes sociais em caso de agitação civil – perante o que é considerado como “conteúdo de ódio”; as rusgas na Alemanha contra comentários anti-feministas online, justificadas como “combate à misoginia na internet”; a punição (em milhares de libras) da reza silenciosa (supostamente contra o aborto), no Reino Unido, ou mesmo do exercício religioso no interior das próprias paredes domésticas que, segundo as autoridades, pode levar ao incumprimento da lei das “Zonas Tampão”, por exemplo, na Escócia, etc. etc. Tudo exemplos escolhidos por Vance para dar bem ideia daquilo a que se estava a referir quando falava de liberdade. A referência parece ser clara: a assunção institucional na Europa do discurso woke e politicamente correcto. Um discurso que tem dado um valioso impulso eleitoral à direita radical e que ela já identifica como discurso do sistema. Depois, as linhas vermelhas, estando a indicar a recusa de alianças da direita moderada com a direita radical, por exemplo, na Alemanha (com a AfD) ou, então, digo eu, em Portugal (com o CHEGA). Não há qualquer dúvida de que a actual administração americana está alinhada com a direita radical europeia (e, consequentemente, com a própria Rússia de Putin, como se vê no modo como a Ucrânia está a ser tratada). Finalmente, o coração de todas as políticas da direita radical: a imigração (“descontrolada”). Diz Trump, na sua rede “Truth”, depois de conhecidos os resultados da eleições alemãs: “os alemães estão cansados de agendas sem sentido sobre energia e migrantes”. Os números apontados por Vance são significativos e não há dúvidas de que essa, ao lado da ideologia woke, é a principal linha de combate da direita radical. O alinhamento ideológico da América de Trump com a direita radical europeia e com Putin não oferece dúvidas.
2.
Confesso que temia que, fruto (a) deste namoro americano com a AfD, que começou com as declarações de Elon Musk, com a sua longa conversa, no X, com Alice Weidel e a afirmação de que a Alemanha só se endireitaria com um governo da direita radical (AfD) e, ainda, com a eventualidade de uma intervenção política subliminar da sua rede social nestas eleições, b) do gesto de Vance, ao não aceitar reunir-se com o Chanceler Scholz, mas reunindo-se com Weidel, e do teor do seu discurso e, finalmente, c) de uma eventual intervenção digital da Rússia no próprio processo eleitoral alemão, fruto de tudo isto, a AfD superasse em muito o resultado que as sondagens há muito já lhe atribuíam (regularmente 20%). Mas isso não se verificou. Pelo menos, na parte ocidental da Alemanha, já que na parte oriental (os cinco estados da antiga RDA) a AfD é o partido mais votado. O que deve dar que pensar.
3.
As eleições antecipadas alemãs deveram-se a uma queda do governo de coligação de Scholz com os Verdes e com os liberais, com a consequente dissolução do Bundstag a 27 de Dezembro passado. As sondagens há muito que já davam resultados muito próximos dos que se viriam a verificar nestas eleições: 28.5% (CDU/CSU – 208 mandatos), 20,8% (AfD – 152 mandatos), 16.4% (SPD – 120 mandatos), 11,6% (Gruene – 85 mandatos), 8,8% (Linke – 64 mandatos). Liberais (FDP) e BSW ficaram fora do Bundestag. Tendo-se verificado uma participação excepcional de votantes, cerca de 84%, quando em 2021 fora de 76,4%, não se verificou um ulterior avanço da AfD, relativamente às sondagens que há muito lhe davam este resultado, a verdade é que duplicou os votos obtidos em 2021 (10,4%), com um decisivo contributo das regiões da antiga RDA. O SPD tem a maior queda desde o segundo pós-guerra, reflectindo também ele a crise generalizada da social-democracia. É útil lembrar que o SPD foi sempre o partido inspirador da social-democracia europeia, designadamente do PS.
4.
A Alemanha tem cerca de 60 milhões de eleitores, dos quais 42% têm mais de 60 anos. A lei de 2023 fixou em 630 os mandatos do Bundestag. O sistema eleitoral é proporcional e maioritário. Os boletins de voto são dois: um, para escolher o candidato local num dos 299 círculos eleitorais; o outro, para votar nos partidos e na relativa distribuição de mandatos. Sistema maioritário para 299 círculos (vence o que tiver mais votos) e proporcional nos restantes para o voto nos partidos. Existe uma pequena quota de “compensação”. Limiar para entrar no Bundestag: 5%. Os principais partidos concorrentes foram a CDU/CSU (centro-direita) AfD (direita radical), SPD (social-democrata), Liberais, Verdes, Linke (esquerda), BSW (esquerda populista). A CDU governou 53 anos em 76 depois da Guerra, sendo os seus principais líderes Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Angela Merkel.
As principais linhas de força da vencedora CDU/CSU são
1. controlo da imigração; 2. redução de impostos para favorecer a economia; 3. cortes na despesa social; 4. revisão da lei de controlo orçamental ("Schuldenbremse).
Por sua vez, a Alternative fuer Deutschland foi criada em 2013, tendo hoje dois lideres, Alice Weidel, proveniente do Goldman Sachs e residente na Suíça, com a sua companheira do Sri Lanka, e candidata a chanceler, e Tino Chrupalla, ex-pintor de interiores, o animador das hostes. Weidel defende:
1. a “re-migração” de centenas de milhares de imigrantes; 2. a saída da UE e do euro; 3. Desmantelamento da rede de eólicas; 4. e uma política de aproximação à Rússia de Putin.
Nada que Trump não esteja já a fazer, note-se e registe-se. Por sua vez, o programa do SPD alinhava pelas tradicionais medidas programáticas da social-democracia com dominante no Estado social e medidas afins.
5.
Esta situação, em face dos mandatos parlamentares (208 da CDU/CSU e 120 do SPD), parece aconselhar a reconstituição de uma nova “Grosse Koalition” (com 328 mandatos), visto que o número para uma maioria absoluta parlamentar é de 316, não pretendendo Friedrich Merz, ao contrário do que pretenderia Vance, promover uma aliança com AfD. Esta solução tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem consiste em dar consistêntcia a um governo com uma clara maioria parlamentar num país charneira para uma União Europeia a braços com uma gravíssima crise com o seu antigo aliado, os Estados Unidos. A desvantagem consiste em, à direita, ficar o AfD praticamente com o monopólio da oposição ao sistema. É claro que um governo que integrasse também os Verdes poderia ficar perto da maioria qualificada, dando, nesta fase tão crítica da UE, maior robustez política ao governo e permitindo-lhe até mudanças constitucionais, para as quais é, segundo a Constituição, necessária uma maioria qualificada. Mas é conhecido o ponto de viragem que aconteceu em Itália, quando o único partido que ficou fora da aliança que sustentou o governo Draghi foi precisamente o de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, que acabaria por ganhar as eleições e por formar governo em 2022.
6.
Uma coisa é certa. A direita recolheu cerca de 50% do eleitorado e o centro-esquerda teve um enorme tombo (o SPD perde cerca de 9 pontos). O mesmo que se tem vindo a verificar por essa Europa fora, com os sucessivos triunfos, um pouco por todo o lado, da direita radical. Ou seja, na Alemanha confirmou-se, mais uma vez, o reforço substancial da direita radical: duplicou o número e eleitores.
Em síntese, várias conclusões é possível tirar destas eleições:
1. O crescimento da direita radical, sobretudo nas regiões da antiga RDA, onde AfD é o partido mais votado. 2. A queda persistente da social-democracia, tendo o SPD registado o maior tombo eleitoral desde o pós-guerra. 3. O claro alinhamento dos USA com a direita radical europeia e, mais concretamente, com a AfD e o seu programa. 4. O reforço global de direita, que, somada, ultrapassa em muito os 316 mandatos (360 mandatos), embora não possam ser somados para efeitos governativos porque a CDU/CSU não quer entendimentos com a AfD. 5. A centralidade política do problema da imigração e, em menor grau, do wokismo e do “politicamente correcto”. 6. A estratégia dos Estados Unidos de Trump (claramente formulada por Vance em Munique) para forçar o ingresso da direita radical nos governos europeus.
7.
A Alemanha, o maior país da União Europeia, com mais de 80 milhões de habitantes, e que viu a direita radical duplicar o número de votos que obteve em 2021, provavelmente voltará a ter uma “Grosse Koalition” com o SPD. Provavelmente, o conceito já nem corresponde ao dado de facto devido à queda do número de mandatos da coligação CDU/CSU – SPD, visto que apenas possuem mais 12 mandatos do que os que são necessários para uma maioria absoluta. Só para se ter uma ideia, a média, em percentageml, dos mandatos de ambas as forças políticas nas cinco eleições que houve em 2005, 2009, 2013, 2017 e 2021 era equivalente a 62% dos mandatos do Bundestag, sendo agora, nas eleições de 2025, equivalente a 52%. Uma diferença de 10 pontos. Mas esta não é uma alteração conjuntural, é uma tendência que se está a verificar de forma consistente um pouco por toda a Europa, com a fragmentação dos sistemas de partidos e o fim da tradicional alternância entre o centro-esquerda e o centro-direita. O que está a acontecer é que a capitalização desta fragmentação é feita sobretudo pela direita radical, por razões que neste artigo não cabe esmiuçar, e para além do que ficou dito. E a grande novidade é a guinada monumental que se verificou nos Estados Unidos e que se soma à que tem vindo a acontecer na Europa. Se, depois, ainda lhe juntarmos a cumplicidade que está a acontecer a olhos vistos entre os Estados Unidos e a Rússia do senhor Putin, é mesmo caso para falarmos num enorme retrocesso na política mundial. Tinha razão Giambattista Vico quando falava dos “corsi e ricorsi” da história, pois já nos encontramos numa fase de grave recessão política e civilizacional. JAS@02-2025
O GRAU ZERO DA POLÍTICA
Por João de Almeida Santos
QUERO REFERIR-ME, com este título, à política tal como está a ser reconfigurada depois da chegada de Donald Trump, de novo, ao poder. Em rigor, do que se trata é da identificação da política simplesmente com o exercício do poder baseado na força, em todas as suas frentes, política, militar, económico-financeira, comunicacional. “Disponho de meios que não podem ser contrastados nem interna nem externamente, uso o poder como força e a força como poder quando e como quiser” – dirá o intérprete qualificado desta concepção de poder. A ideia de poder como relação assimétrica, interdependente e indeterminada, tão exaustivamente tratada no recente livro de Augusto Santos Silva (Lisboa, Tinta-da-China, 2024), conhece aqui uma fortíssima retracção ao identificá-lo como imposição unilateral, como dominação, prescindindo da componente diplomática, da interdependência, da persuasão e do respeito pelas regras internas e internacionais. Hard power. Mas, como se diz neste livro, “poder não é força” embora a força seja uma “das principais fontes do poder”. A política como poder: uso ilimitado da força e relação incondicionada de dominação, poder de e poder sobre (2024: 26, 36, 79, 82 e passim). As posições de Trump sobre o Canadá, o Panamá, a Gronelândia e a Faixa de Gaza dão uma ideia muito clara disto. As negociações com a Rússia sobre o futuro da guerra com a Ucrânia, sem este país e a União Europeia, também.
1.
Internamente, e uma vez obtido por via eleitoral o consenso para a conquista do poder (usando e abusando do poder do dinheiro e das redes sociais, em particular do X), entrou em acção um plano de contracção drástica e repentina dos poderes não presidenciais que configuram o sistema americano e, em geral, todas as democracias representativas, e são condição de autocontrolo dos sistemas democráticos através do mecanismo conhecido como checks and balances; externamente, entrou em acção um plano de imposição difusa do poder económico e comercial americano (a começar pela imposição unilateral de taxas) e pretensões territoriais unilateralmente declaradas, já referidas. Complementarmente, a própria Casa Branca, identificando-se cada vez mais claramente com o populismo radical de direita, avança com uma estratégia de promoção descarada dos seus pares políticos na Europa ao mesmo tempo que relativiza os poderes ditatoriais, mais que comprovados, da Rússia e da China. O intérprete e porta-voz desta visão foi o Vice-Presidente JD Vance ao afirmar que o perigo para a Europa não vem da Rússia, a mesma que invadiu arbitrariamente a Ucrânia, ou da China, mas sim do seu interior, ao proclamar que a Europa está a trair os seus próprios princípios (sobretudo no plano da imigração e da liberdade). Uma posição que seria plenamente partilhada pelo filósofo do Kremlin, Aleksandr Dugin (o que declarou a decadência do Ocidente, resgatável pela própria Rússia, seguindo as pisadas de Oswald Spengler no livro Der Untergang des Abendlandes, de 1918; 1922*) e pelo próprio Vladimir Putin, a partir do santuário da Praça Vermelha, que, ao que parece, conserva ainda muito do seu antigo poder simbólico e esplendor. Corolário directo disto é a injunção política, primeiro, de Elon Musk e, depois, de Vance, na política interna da Alemanha, através de um claro e não disfarçado apoio à AfD, em período de eleições legislativas, tendo motivado uma forte reacção alemã. Já tivemos o caso do Brexit e não se sabe o que acontecerá no próximo domingo, 23 de Fevereiro, sobretudo se tivermos em conta a influência subliminar das redes sociais, e em particular de X.
2.
Não parece ser necessário fazer um desenho para se perceber que estamos perante uma onda mundial da direita radical que, não se identificando (pelo menos, para já) com as ditaduras russa e chinesa, delas está muito próxima, como se verifica não só com declarações como as de Vance, mas também com as próprias relações internacionais claramente assumidas pela maioria das forças da direita radical, no interior de um modelo de proposta política que procurei identificar no meu mais recente livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024) e que, no essencial, se pode resumir na ideia de reforço intensivo dos poderes do executivo em detrimento dos outros poderes, do legislativo, do judicial, do regulador e também do poder mediático. É o que está a acontecer actualmente também nos Estados Unidos. Veja-se, a título de exemplo, a sanção drumpiana aplicada à Agência de Notícias americana Associated Press por não ter adoptado a sua decisão de chamar Golfo da América ao Golfo do México: veto indeterminado de entrada na Casa Branca, no acesso à sala oval, e ao Air Force One (El País, 15.02, pág. 6 ). Ou com tudo o que já está a acontecer na máquina administrativa do governo americano. Com efeito, a função do senhor Elon Musk no executivo de Trump (através do já famoso DOGE, o departamento de eficácia governamental, também importante e activa frente de combate contra o “wokismo”) é precisamente o de esvaziar de poderes as outras instâncias, designadamente pelo encerramento (a USAID, por exemplo), pela drástica redução do respectivo financiamento e pelo correspondente despedimento de funcionários públicos, estando em movimento uma autêntica crise constitucional, até pela inopinada usurpação de competências do próprio Congresso. Mas não é menos significativo o governo de Trump através de sucessivos e disruptivos decretos presidenciais: “Trump governa por decretos. Ele deu a Elon Musk o poder de bloquear todo o financiamento que ele considere ilegítimo, em clara violação das prerrogativas do Congresso. É um ataque extremamente radical contra o sistema constitucional americano tal como o conhecemos”, disse Francis Fukuyama (Le Monde, 16-17, 02.2025, pág. 7). A filosofia que subjaz a tudo isto é muito simples: tenho o poder nas mãos e uso-o sem ter de tomar em consideração as clássicas regras do poder democrático, sobretudo o mecanismo de controlo dos checks and balances e o princípio do “judicial review”, a arbitragem final sobre a lei pelos tribunais federais. Vance já declarou que o poder judicial se deve submeter ao poder do executivo: “Os juízes não têm o direito de controlar o poder legítimo do executivo”, disse JD Vance, licenciado em direito pela Universidade de Yale (Le Monde, 16-17, 02.2025, pág. 7).
3.
Na verdade, o pano de fundo de tudo isto traduz-se na redução do poder a puro uso da força sem tomar em consideração o outro lado, que sempre existe, nessa relação assimétrica e interdependente que define o poder. Levado ao extremo, já sabemos o que acontece: ditadura, totalitarismo. Uso da força pura para impor unilateralmente a vontade de um dos pólos da relação ou, ainda mais radicalmente, para anular a consciência do outro, transformando-a em realidade especular do poder que domina. O poder como dominação. E força, os Estados Unidos têm que chegue, ancorada na maior indústria de armamento existente no globo. O poder simbólico talvez também já esteja ao seu dispor com o alinhamento integral das maiores plataformas digitais que operam em todo o mundo com índices de participação avassaladores. Um só valor: 5,24 biliões de utilizadores dos social media, equivalentes a 63,9% da população mundial. Está tudo dito, se tomarmos em consideração que a quase totalidade das plataformas está concentrada nos Estados Unidos, sendo o seu modus operandi do conhecimento público e já abundante e criticamente estudado (veja-se, por exemplo, a obra de Shoshana Zuboff sobre A Era do Capitalismo da Vigilância, Lisboa, Relógio d’Agua, 2020). E isto representa realmente soft power (entendido em sentido alargado), indirectamente imputável ao Estado americano se tomarmos em consideração o actual alinhamento total das plataformas com a Casa Branca de Trump, em particular X, de Musk, e Meta, de Zuckerberg. Aliás, não é de excluir que a compra do Twitter por Elon Musk tenha visado sobretudo a conquista do poder por Trump, à semelhança do que acontecera em 2016 com o uso dos perfis dos utilizadores do Facebook pela Cambdrige Analytica, então detida pelo multimilionário Robert Mercer e dirigida pelo então ideólogo de Trump, Steve Bannon. Mercer financiou a campanha de Trump (directa e indirectamente) com mais de 15 milhões de dólares, o que comparado com os valores de Musk para o mesmo fim, em 2024, cerca de 280 milhões de dólares, parece ser uma pequena esmola. Mas a verdade é que também em 2016 Trump, ajudado pela parelha Mercer/Bannon e pelos mais de 50 milhões de perfis dos utilizadores do Facebook do senhor Zuckerberg, ganhou as eleições. A experiência do referendo do Brexit, em Junho de 2016, revelara-se preciosa e convincente.
4.
Na verdade, os Estados Unidos controlam o hard power e o soft power mundial (e nem sequer falo do uso e da força mundial do novo esperanto dos povos, o inglês), podendo, se assumirem a visão integrada de poder que parece estar a impor-se a partir da Casa Branca, provocar uma viragem radical na política mundial, alterando as regras de funcionamento quer do Estado de Direito e do Estado representativo tal como os conhecemos quer das relações internacionais, com o estabelecimento de três grandes impérios (o americano, o chinês e o russo) e respectivas zonas de influência à escala mundial. Deve-se tomar na devida consideração a crítica que Vance fez à Europa e a União Europeia: o problema não são as ditaduras chinesa e russa, o problema é a vossa decadência em relação aos valores. Trata-se de uma posição clara relativamente ao centro-esquerda e, em parte, ao próprio centro-direita a partir de um conceito de poder como exercício unilateral e impositivo da força ancorado nos valores conservadores que legitimam as posições do poder de facto já existentes na sociedade. O poder político limitar-se-ia, pois, a reproduzir especularmente as relações de poder existentes, defendendo-as, blindando-as, promovendo-as e impondo-as.
5.
E é aqui que assistimos a uma outra profunda viragem relativamente à tradição política ocidental. Ou seja, o fim da clássica separação funcional entre as elites políticas dirigentes e as elites económicas (refiro-me aos grandes grupos económicos), que, antes, não se confundiam. Esta alteração teve um momento quase fundacional em Itália, com Berlusconi (em 1993-1994) e atinge agora o zénite com Donald Trump e Elon Musk. De resto, é conhecida a confessada admiração de Trump pela experiência política do magnata italiano (sobre a conquista do poder por Berlusconi desenvolvi uma longa analítica no meu livro Media e Poder, Lisboa, Vega, 2012, pp. 257-338 e passim). O poder político está, pois, agora nas mãos das oligarquias económicas, anulando ipso facto o velho princípio do “conflito de interesses”, inscrito pormenorizadamente em todos os manuais de direito como prática generalizadamente proibida, mas agora espantosamente e despudoramente exibido como virtude a seguir e a promover, em nome da liberdade. Ora, um regime que funciona assim, já não é um regime democrático, mas uma plutocracia, onde o povo fica reduzido a mera “massa de manobra” para boa legitimação do regime.
6.
Era Giambattista Vico que, na “Scienza Nuova” (1724), no século XVIII, falava de “corsi e ricorsi” na história e assinalava a fase em que acontecia a regressão para uma fase de tirania e de anarquia, por degeneração da última das três fases progressivas da história (era dos deuses, dos heróis e dos homens). Pois parece que aquilo a que estamos a assistir, depois de 80 anos de paz e de progresso civilizacional, corresponde exactamente a essa fase regressiva, devido ao colapso das instituições instauradas pela modernidade. Putin, com a guerra territorial contra a Ucrânia já demonstrara que a regressão podia mesmo acontecer. Agora, com Trump, a regressão aprofundou-se a partir do desmantelamento do modelo da democracia representativa e a instauração de uma plutocracia que reduz a política ao exercício do poder como dominação. Até parece que a filosofia do imperialismo territorial de Putin acabou por fazer escola naquela que era conhecida como modelo de democracia de matriz liberal, ao manifestar, também ela, pela voz do seu presidente, direitos imperativos sobre os territórios mais ou menos confinantes ou mesmo situados noutros continentes, como é o caso de Gaza.
7.
A verdade é que o soft power de que os Estados Unidos dispõem, através daquilo a que Shoshana Zuboff chamou capitalismo da vigilância, poderá já ser suficiente para manter um simulacro de democracia e de consenso eleitoral sem ser necessário recorrer ao hard power, ao poder militar e às fórmulas clássicas das ditaduras. Os processos usados vão fazendo o seu caminho: Brexit, Trump em 2016, provavelmente Bolsonaro, em 2018, Trump em 2024. As movimentações já começaram relativamente às eleições alemãs. Vamos ver como vão acabar.
8.
Não me parece ser muito difícil desenhar o perfil desta nova tendência em curso nem os mecanismos e as técnicas usadas para promover este tipo de poder, numa leitura literal do que já pudemos encontrar em “O Príncipe” de Maquiavel, a propósito da conquista e da preservação do poder do Príncipe: ser “lione” e ao mesmo tempo “golpe”, ser leão e raposa. Se a política sempre tomou seriamente em consideração esta fórmula, seja enquanto ditadura seja enquanto democracia, a verdade é que se para a ditadura a raposa representava somente a astúcia (a propaganda), mas não a virtus, para a democracia a raposa sempre representou algo mais, o saber, a influência, a persuasão, o consenso, a inteligência, a virtude. Falo, neste caso, da natureza centáurica do poder. Assim sendo, o que se está a verificar é uma autêntica regressão na política democrática e nos seus princípios fundamentais, onde o que resta é um esqueleto deformado daquilo que era a democracia representativa ou, pelo menos, o sistema representativo, tal como foi concebido originariamente e como se foi consolidando ao longo do tempo, num processo que, como sabemos, teve muitas e graves regressões, sobretudo na primeira metade do século XX. Não se avizinham, pois, tempos fáceis nem gloriosos para as jovens democracias deste mundo cada vez mais pequeno e concentrado.
9.
O que parece é que se está a delinear uma nova geopolítica com três fortes esferas de influência imperiais, a dos USA, de Trump, a da China, de Xi Jinping, e a da Rússia, de Putin, excluindo a União Europeia, que, de resto, sendo certo que não ambiciona um poder imperial, parece nem sequer partilhar a própria ideia de “esfera de influência”, a crermos nas palavras da senhora Kaja Kallas, alta representante da UE: “Não acreditamos nas esferas de influência”, disse recentemente no Parlamento Europeu. Sim, “pero que las hay, hay”. Que o diga a China. Influência que, afinal, também sempre correspondeu ao clássico soft power da Europa, pela sua consistente dinâmica civilizacional, científica, cultural e social, hoje em crise. Mas, por outro lado, o que, mais realisticamente, parece é que os Estados Unidos de Trump tudo estão a fazer para perderem a influência que já tiveram, atendendo à agressividade brutal da sua política internacional, centrada na doutrina do “America First”, e nas medidas unilaterais e agressivas que estão a tomar. E também parece ser pouco provável que a sua activa aliança com a direita radical europeia possa vir a tornar a Europa numa zona de influência mais dócil e subordinada do que já era até aqui.
10.
Entretanto, no fim do encontro de segunda-feira, em Paris, o que sobrou foi mais divisão do que a que já existia, neste caso sobre o envio de tropas de manutenção de paz para a Ucrânia, na imaginária fase do pós-guerra, decretada uniteralmente pela Rússia e pelos Estados Unidos de Trump. Por exemplo, Scholz e Sánchez acham totalmente prematura a questão. A verdade é que a UE, com a actual configuração institucional e com as fracas lideranças de que dispõe não parece estar à altura do desafio que a situação internacional lhe está a colocar. E não se trata sequer de um problema de dimensão, em todas as frentes, de uma área em comunidade com cerca de 450 milhões de habitantes. É certo que a UE nunca se preocupou muito com a questão da defesa, com a dotação de uma agência de rating europeia, com a criação de plataformas digitais de grande dimensão, mas também com um dispositivo institucional que facilitasse rápidas e consistentes decisões operativas sustentadas em legitimidade directa (como, por exemplo, aquela de que dispõe o presidente dos Estados Unidos). E, todavia, a dimensão, a consistência económica e cultural da UE exigiriam muito mais do que aquilo que é e que tem. Muitos foram aqueles que sempre o quiseram. Infelizmente, as diplomacias nacionais sempre procuraram ser elas e decidir, tendo-o conseguido, com resultados políticos verdadeiramente pífios ou mesmo regressivos em relação aos necessários avanços. Lembro-me bem da luta de Altiero Spinelli para acabar com essa supremacia das diplomacias europeias na gestão do processo europeu, consideradas mais fonte de paralisia do que de acção e progresso. E estamos a pagar o preço disso. Esperemos que a resposta da UE não esteja somente ancorada numa lógica da reacção, mas seja fruto de uma visão realmente estratégica sobre o papel de uma região do mundo que sempre foi decisiva na história mundial. JAS@02-2025
NOTA
* Achei muito curiosa a forma como o autor da entrada Spengler (Oswald Spengler, 1880-1936) no Dicionário de Filosofia da Editora Garzanti (Milano, Garzanti, 2001) se refere à sua doutrina: “Alla civiltà occidentale dovrà pertanto succedere uma civiltà russa. Ma prima della ricaduta nella barbárie deve ancora venire la fase del cesarismo” (pág. 1093). Acrescentando-lhe, agora, as recentíssimas palavras do putiniano filósofo russo Aleksandr Dugin sobre a Alemanha e os alemães, a propósito das eleições do próximo domingo – “Votai na AfD ou ocuparemos de novo a Alemanha e dividi-la-emos entre a Rússia e os Estados Unidos” –, as posições ainda se aproximarão mais: Musk, Vance e Dugin, a mesma luta.
NOVOS FRAGMENTOS (X)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos
O SONHO
A VIDA, o sol, a chuva, o sonho, o tempo que flui e nos arrasta consigo, a alegria, a tristeza, o amor, a perda, o desejo, o corpo, a fuga para lugares desertos… tudo, mas mesmo tudo, nos vai acontecendo… e disso dá conta o poema “Sonho ou a Porta do Tempo”, em registo onírico. Os sonhos quase sempre se desenvolvem como uma miscelânea de elementos realistas e fantásticos, com lógica, mas irreais, umas vezes prosseguindo depois do sonho, outras apagando-se de imediato, tornando-se inacessíveis. A luz do dia tende a apagar o que sonhamos, deixando-o na penumbra. A realidade tende a esbater a utopia. Mas uma coisa é certa: há como que um desenvolvimento pulsional em código e simbólico no sonho do que foi acontecendo em vigília. Uma livre tradução em código onírico do que aconteceu ou podia ter acontecido, sempre dependendo das intensidades experimentadas na vida real. O sonho é vida e a vida também é sonho. E a poesia é como o sonho, mas com uma intervenção suplementar da razão, melhor, do espírito, tornando-se uma espécie de dialéctica viva entre a alma e o espírito, em linguagem mais ou menos cifrada. A memória é, aqui, magmática e o fundo é sempre pulsional. Depois, a melodia, a toada, o ritmo exprimem-no com maior vigor do que a semântica inscrita simplesmente nas palavras. Mas o registo semântico é muito importante na poesia. Se não for, estaremos simplesmente perante virtuosismo. Depois, a pintura, em registo sinestésico, pode ajudar a tornar mais sensitivo, mais sensorial, o poema. Mas o que acrescentei a este poema, relativamente a uma sua primeira versão, foi a melodia. Foi difícil, mas, em parte, julgo tê-lo conseguido, tornando-o mais sensitivo.
O tempo, aqui, equivale à fugacidade de um reencontro (impossível) porque logo desfeito por um vidro, frio, que se entrepõe, tornando impossível o contacto. Nos sonhos há sempre um vidro. E é a porta do tempo que, abrindo-se, faz com que os encontros oníricos aconteçam, mas também terminem e se desfaçam. Mas é mais importante a saída do que a entrada. Porque a saída representa sempre dor. Um dos personagens sai por ela, o sonho termina ali e o poema começa, como acção reparadora. Um sonho racionalmente controlado. Ma non troppo. A metáfora da vida, onde há sempre uma porta aberta… para entrar e para sair.
AS MUSAS E A NEVE
É verdade que, neste poema, aludo ao belíssimo poema de Augusto Gil. “Batem leve, levemente / Como quem chama por mim”. Não era, como aqui, a musa. Era a neve. Mas as musas são como a neve. Batem leve, levemente, à porta da nossa sensibilidade. Mas às vezes são como os grandes nevões, cobrem tudo de branco, imanência total e deixam-nos maravilhosamente perdidos e encantados no meio de uma brancura total. Um sonho. Uma luz que nos incendeia a sensibilidade. A beleza natural na sua forma mais pura. Mas, tal como a neve, a sua presença é sempre fugaz. Parece dissolver-se quando o sol do afecto já é forte demais. Elas, as musas, são leves e rápidas como a neve e como as fadas. E, como a neve, cada vez mais uma certa musa, talvez Erato, vai batendo menos à porta do poeta, provocando nele uma necessidade cada vez maior de ir lá às profundezas magmáticas da memória à procura dela. “Branca e leve, branca e fria / Há quanto tempo a não via! / E que saudades, Deus meu!”. Assim dirá o poeta da sua musa inspiradora. Não a vê, porque ausente. Por isso, fá-la bater à porta da memória para entrar, assim, em diálogo com ela. Mas o tempo é implacável e ela acaba por se escapulir pela porta do tempo (em direcção ao passado, onde permanecerá quieta e muda). Até novo sonho.
PENUMBRA
A memória é o lugar do tempo subjectivo e a viagem poética, que é, ao mesmo tempo, onírica, atravessa todas as “intensities” que as palavras registam como emoções desde que abriu a porta do tempo até que a musa partiu para lugar incerto, sem deixar rasto. Fica apenas o registo do poeta sobre tão fugaz visita. Ele foi visitado pela musa, viu-a com os olhos da alma, sem lhe poder tocar, porque tudo acontecia no território do intangível. Momentos intensos, mas simulacrais, representados por aquele vidro fino, um pouco baço e frio, que representava a brecha temporal. A porta do tempo é um espelho que reflecte a fantasia onírica do poeta e, naturalmente, é por ela que a musa entra e sai, silenciosa e rápida, para parte incerta. Lugar que ele desconhece. Separar-se do poema, o poeta? Impossível, porque ele o escreveu com a alma em frente desse espelho luminoso e simulacral onde a sua vida se reflecte. É uma viagem no tempo, sim, porque o poeta tem passado – que, nele, transborda – e, por isso, tenta devolvê-lo ao futuro, já reconstruído com materiais resistentes ao tempo, as palavras. É assim que se resgata e alimenta um presente, o seu, cheio de silêncios e de ausências que o inquietam. E, então, instala-se numa certa penumbra existencial (a tal que existe na catedral de palavras), mas, de quando em quando, expõe-se ao sol purificador, para, depois, regressar purificado à quietude da penumbra, onde, finalmente, pode experimentar o prazer sublime da doce melancolia.
SONHAR
“Sempre o sonho….continue a fazer-nos sonhar” , dizia alguém, comentando um poema meu. A poesia é sonho a olhos abertos. Umas vezes, traduz sonhos; outras, constrói-os. O sonho é o ambiente onde vive o poeta e, por isso, ele convoca os leitores para a experiência onírica com as palavras sedutoras e melódicas de que é feita a poesia. Se os deuses e as musas não o expulsarem do Parnaso e continuarem a agraciá-lo com o sopro da inspiração, ele continuará a subir ao Monte, transportando consigo palavras com melodia, e ao templo de Apolo. Lá, comporá as suas canções para oferecer a quem goste do seu canto e de sonhar.
O INSTANTE ONÍRICO
É verdade que a “Rua da Carreira” (a ilustração do poema “Um Sonho na minha Aldeia”) é, no poema (e não só), muito mais do que um lugar físico – é lugar de partida e de chegada, é passado, é presente e é futuro. Por isso, que melhor lugar poderia haver para um encontro onírico e de profundo afecto? Para um encontro impossível, mas intenso, reconstruído, neste lugar, no interior do tempo subjectivo do poeta, tornando-se deste modo “efectivo”. Um lugar onde a neve acontecia na sua inexcedível beleza, enquanto, farta e fria, ia caindo lá do alto para logo desaparecer com o despontar do sol da manhã. O poeta estabelece uma analogia da neve com a mulher do encontro, com a beleza do encontro, mas também com a sua fugacidade. Também ela parte com o despertar. Essa mulher era como a neve. Na fugacidade e na eternidade. A neve, como ela, foi-se, mas ficou para sempre. E foi por isso que ela, a musa, teve de vir a esta rua, marcada pela neve. O sonho poético a navegar no tempo, onde passado, presente e futuro se confundem no instante onírico. Kairós – o “momento oportuno”. Uma espécie de tempo sem tempo (a lembrar-me o aoristo da língua grega – um tempo verbal sem tempo, pois não era nem presente, nem passado, nem futuro). Depois, esse encontro num lugar matricial. Dar à musa a profundidade temporal que coincida com a do poeta, com as suas raízes e os seus afectos originários. Veio cá e por cá ficou como marca indelével. A neve e, agora, depois do sonho, a musa. O sonho existiu e foi reconstruído com palavras e com uma imagem. Foi, assim, superada a sua própria fugacidade, entregue ao futuro e partilhado, voando para além do tempo subjectivo do poeta sonhador. Alguém disse, pois, “Sempre o sonho… continue a fazer-nos sonhar”. Aqui está: na partilha, a viagem do sonho, transcrito em palavras com melodia, para além do tempo subjectivo do sonhador acontece quando se converte em poesia.
O CANTO SEDUTOR
Que elas, as musas e as deusas, protejam e inspirem o poeta, dizia alguém. E ele bem precisa. Mas elas, as musas, também precisam dos poetas. Diria mesmo que há uma espécie de natural cumplicidade entre elas e eles que torna o discurso “picante” e sedutor. As musas gostam que as cantem, sobretudo quando fingem desinteresse. Pudera! Afinal, o poeta também não finge? É uma das características da sua linguagem. Aqui, são elas que ouvem a insinuante melodia, sim, mas atam-se ao mastro do navio em que viajam para melhor resistirem ao canto sedutor do poeta. As musas não podem ficar cativas. E, então, fingem que não ouvem. Mas o poeta sabe que o canto lhes está no ADN. Na verdade, são os deuses, patronos das musas, que concedem a graça e a inspiração ao poeta, mas são elas, as sedutoras musas, que o estimulam, encantam e põem a cantar, sob o alto patrocínio da divindade.
A MUSA NA ALDEIA
Esse sonho (“Um Sonho na Minha Aldeia”) aconteceu e a rua era mesmo a da pintura “Rua da Carreira”. A musa é habitual companheira do poeta nas suas lamentações, como não poderia deixar de ser. Destino. Há sempre uma musa. E talvez a personagem Paola Valenzi, do romance “Via dei Portoghesi”, ajude a entender este destino sofrido em melancolia e em sonho e poeticamente convertido. O poeta tem muito de Gianni della Rovere, o amante. Mas aqui, neste poema, a recondução da musa à origem natal do poeta e aos momentos em que a magia da neve – que caía abundante e com frequência – o encantava era obrigatória. Como sonho ocasional ou como indução poética do sonho. A analogia entre a fugacidade da neve e a fugacidade do seu encontro com a musa tinha de acontecer. Quase como poética autojustificação. Mas também o mesmo encanto e a mesma pureza de sentimento. A neve no seu (dela) olhar. Pelo menos, era o que ele via nele, no olhar dela. Porque é pelo olhar que a neve lhe entra na alma. Tudo a convergir para a aldeia que o viu nascer nessa casa onde a neve o procurava (“batem leve, levemente, / como quem chama por mim”) e onde, cada vez com mais frequência, vai regressando, apesar da ausência persistente desse brilho cintilante que tanto o fascinava. É natural que, por isso, ele queira levar a musa consigo. Tudo é reconduzido às origens, como síntese da sua própria vida vivida e cantada. Sim, o canto já foi metabolizado e, por isso, já faz parte do seu próprio passado, do seu património vivido e guardado na memória dos afectos. Tudo se entrelaça na fantasia do poeta.
ANALOGIAS
O que aconteceu aos dois personagens do romance “Uma Viagem no Tempo” (Rosa de Porcelana Editora, 2022), de António de Castro Guerra, que tive o gosto de apresentar, encontra semelhanças com o encontro onírico do poeta: fugaz, intenso, enquadrado pela natureza, belo. Fugaz, sim, mas que a beleza e a intensidade perpetuaram, agora sob forma de arte (romance e poesia). Também no romance, passado, presente e futuro convergem no tempo vivo da narrativa, onde o próprio autor se revê como num espelho que lhe devolve o passado a um olhar comprometido, sofrido e nostálgico. O romance como solução da própria vida lá onde ela não encontrou modo de se completar. Dizem que a velocidade intensa cega (Virilio), tal como a vertigem da intensidade fugaz, mas é por isso mesmo que os despistes podem acontecer, ficando para sempre registados na penumbra da consciência, a provocarem uma moinha dolorosa ou mesmo estragos que só as palavras podem atenuar. A arte pode trazê-los à consciência e, deste modo, atenuar os efeitos devastadores que podem ter. A arte tem poder de resgate: a tristeza (pelo silêncio ou pela ausência) que, nela, se torna doce melancolia ou mesmo sofrida, mas doce ternura. O canto poético é, sim, um murmúrio do passado a convocar o futuro. JAS@02-2025
O PRESIDENTE – QUE PERFIL?
Por João de Almeida Santos
NÃO SERÁ A PRIMEIRA VEZ que defendo que o Presidente da República deveria ser eleito por um colégio eleitoral. As últimas experiências parecem aconselhar esta solução. Nos últimos vinte anos tivemos dois presidentes de sinal oposto que parece acentuarem ainda mais a necessidade de uma solução deste tipo. A presidência de Cavaco Silva caracterizou-se por uma forte rigidez protocolar e discursiva e por uma acentuada tendência conflitual relativamente ao executivo (é conhecido o ridículo episódio, inventado por Belém, de espionagem do PR pelo executivo – por um adjunto – de José Sócrates). Não deixou grandes saudades. Depois veio uma presidência de sinal oposto: populista, com exposição excessiva da figura presidencial, desvirtuamento da função presidencial, designadamente, por excesso de intervenção na esfera do executivo (é conhecida a tentativa de demissão de um ministro, recusada pelo PM). Tudo isto suportado, afinal, numa legitimidade reforçada obtida por sufrágio universal e directo.
1.
No modelo constitucional que vigora os poderes do presidente são muito limitados, a não ser nas circunstâncias excepcionais em que é chamado a intervir sobre a recomposição do executivo e do legislativo e na promulgação de diplomas legais. A influência do presidente, ancorada na legitimidade directa de que dispõe, resulta mais do prestígio da figura institucional e do valor político da sua palavra do que das competências que lhe estão atribuídas. Quem desempenha a função deve, pois, cultivar um exercício da palavra e da acção que contribua para reforçar o prestígio da figura institucional do presidente no quadro do actual modelo constitucional. Ora, nenhum dos dois casos que referi se desenvolveu neste sentido. Antes pelo contrário, ambas as dimensões se degradaram com o andar do tempo.
2.
Deste modo, a figura mais adequada para o desempenho da função presidencial será a que mais contribuir para boas relações com o executivo, qualquer que ele seja, a que possa contribuir para o prestígio e a recuperação da figura presidencial, a que mais eficazmente possa representar a unidade do Estado e a que possa contribuir para que a sua voz seja tomada na devida consideração, se identifique mais com “auctoritas”, no seu sentido latino, com “virtus”, do que com “potestas” (Cícero). Um perfil, portanto, de bom equilíbrio que respeite a constituição, as suas competências, que seja capaz de construir um espaço eficaz de intervenção, na lógica do poder moderador. Acresce ainda que não é aceitável a possibilidade de Belém se tornar um espaço por onde circulem facilmente interesses em porta giratória. Um candidato que tenha, durante toda uma vida, circulado neste ambientes corre sempre o risco de vir a pagar um preço por isso ou de o fazer pagar à República. Não me quero referir a algum candidato em particular, mas tão-só alertar para esse risco, contribuindo para o prevenir. A função e o simbolismo do cargo são demasiado delicados para serem contaminados por interesses de parte.
3.
Muitas vezes se fala da inadequação de um militar para a presidência, ainda que na reserva ou já completamente fora da instituição. Não me parece que essa observação seja razoável num Estado de Direito. Parece-me, todavia, que toda uma vida levada no interior da instituição militar tem um ponto a favor e outro contra. A favor, é o respeito pelas instituições e a sintonia com a ideia de Estado e de Nação, ideias que creio que estão ou devem estar enraizadas na instituição militar. O factor tendencialmente negativo é o da lógica de funcionamento da instituição militar, ou seja, a dominância do princípio do comando, algo desalinhado relativamente ao princípio que deve determinar o poder moderador na sua relação com a dialéctica democrática, ou seja, a busca permanente de consenso que possa suportar as decisões e tenda a absorver ou a atenuar o conflito. Eu creio que este será o principal obstáculo a que seja um ex-militar a desempenhar a função presidencial. Bem sei que “a função faz o órgão”, mas a passagem de uma condição para outra não se revelará fácil.
4.
Por outro lado, a legitimidade directa, através do sufrágio universal, tende, como é natural, sempre a funcionar como ulterior reforço dos poderes políticos do presidente mesmo para além daquelas que são as competências constitucionalmente configuradas. São conhecidos alguns casos em que isso aconteceu na presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. É por isso que, conjugando a exiguidade de competências do presidente, a tendência a exorbitar devido à legitimidade directa de que dispõe e a natureza parlamentar da nossa democracia, faz sentido pôr em cima da mesa, para uma futura revisão constitucional, a eleição do Presidente por um colégio eleitoral. Mas, por agora, do que se trata efectivamente é de tomar em boa consideração o modelo que está em vigor.
5.
Entretanto, também se tem vindo a constatar que no seu discurso eleitoral os candidatos tendem a confundir a função presidencial com a função executiva e isso deve-se, em parte, à escassez de competências e de poder de iniciativa da função presidencial (tornando politicamente mais difícil o discurso), ainda que também seja de grande importância conhecer, na decisão do voto, o que pensa o candidato sobre as questões essenciais que se põem ao sistema político no quadro constitucional, sobretudo porque é ele o garante do cumprimento da própria Constituição: “Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa” (art. 127.º). O que já não parece aceitável é confundir os discursos, porque o presidente não governa nem legisla.
6.
Creio mesmo que o perfil do presidente se deve centrar muito na sua personalidade, nos seus valores, na sua relação com a política e com a vida, as dimensões que, no meu entendimento, podem fazer dele um bom presidente. Não creio, pois, que o presidente deva exibir uma personalidade forte, um curriculum cheio, ou mesmo a transbordar, e pensamento politicamente muito comprometido e muito activo. Até pela natureza das funções que será chamado a desempenhar: facilitar o bom curso da dialéctica democrática em vez de procurar imprimir as suas idiossincrasias políticas ao desenvolvimento democrático. Atrever-me-ia a dizer que entre as características do presidente deva estar a humildade, temperada com uma personalidade bem definida e dotada de auto-estima, pessoal e institucional. O que se requer a um candidato é, ao fim e ao cabo, um patriotismo constitucional em condições de facilitar e promover uma boa e livre dialéctica democrática.
7.
O PSD já declarou o seu apoio a Luís Marques Mendes. O PS prepara-se para ouvir a sua comissão nacional acerca das presidenciais, certamente para conhecer as sensibilidades presentes no parlamento do partido e, a partir daí, desenvolver a sua estratégia de promover uma candidatura única no seu próprio espaço político, evitando também fracturas internas que possam perturbar a sua própria estratégia. Não lhe cabe traçar um perfil porque esse pertence aos potenciais candidatos, que não deverão ser objecto de prévia escolha partidária. Mas, por outro lado, também não necessita de definir o quadro político e de valores em que se inscreverá o seu apoio a um candidato porque esse é mais que conhecido. De qualquer modo, e pelo que os potenciais candidatos já terão dito (António José Seguro ou António Vitorino, até agora), a vontade de candidatura só será manifestada mais lá para a frente, provavelmente não seguindo aquela que foi a estratégia de Jorge Sampaio. Quanto aos outros, as candidaturas estão, no essencial, confinadas à estratégia de promoção dos seus partidos de referência, incluída a de André Ventura. O que, todavia, não é o caso do Almirante Gouveia e Melo, hoje dado regularmente pelas sondagens como o potencial vencedor. Sim, é verdade, mas, primeiro, é necessário que anuncie a candidatura e, depois, também é verdade que a campanha eleitoral (ou mesmo a pré-campanha), muito importante, neste caso, ainda nem sequer começou, a não ser a de Marques Mendes, que, essa sim, começou há muitos anos. JAS@02-2025
ESTUPEFACÇÃO
Por João de Almeida Santos
JÁ É A TERCEIRA VEZ que, sinceramente, fico estupefacto por atitudes de ilustres militantes do PS sobre matérias de grande sensibilidade política. A primeira foi a do célebre artigo de António Costa, Silva Pereira e José Leitão em defesa da honra supostamente ofendida pelo Presidente da Câmara de Loures e Presidente da maior Federação do PS, a de Lisboa (já aqui analisei esse artigo: https://joaodealmeidasantos.com/2024/11/12/artigo-177/ ); a segunda foi a colagem de ilustres membros do PS à manifestação “Não nos encostem à parede” contra a polícia, recusada, de resto, pelo excelente presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, um conhecido e respeitado membro do PS (já aqui analisei, também criticamente, o assunto: https://joaodealmeidasantos.com/2025/01/07/artigo-185/); a terceira, de agora, foi ver uma antiga secretária-geral adjunta de António Costa e, depois, sua ministra, dizer, numa entrevista dada à Lusa, que as declarações de Pedro Nuno Santos na recente entrevista ao “Expresso” o colavam à direita e à extrema-direita. Vejamos o que disse textualmente à LUSA (e também ao “Observador”): vê “com muita preocupação este aproximar daquilo que é a agenda que a direita e a extrema-direita têm sobre a imigração”. A senhora eurodeputada não faz a coisa por menos em relação ao seu camarada e secretário-geral do PS, o seu partido. Não pediu explicações, disparou logo publicamente uma bazucada. A seu lado também terçaram armas, com argumentos estapafúrdios, José Luís Carneiro e Eurico Brilhante Dias, que, há dias publicava um sacerdotal artigo sobre imigração, não se sabendo bem se era mais um remoque indirecto a Pedro Nuno Santos. Cumpre-me, pois, também aqui comentar este assunto, com a liberdade de quem não ocupa cargos no PS ou em nome do PS, mas que militantemente segue com atenção o que acontece no seu próprio espaço político. Não há duas sem três, dir-se-ia, em jeito de compreensão, mas, pelo andar da carruagem, virão aí muitas mais e com mais frequência. Pois assim seja, embora o PS nada ganhe com isso.
1.
Li e reli a entrevista e não consegui vislumbrar argumentos de direita e muito menos de extrema-direita na argumentação do secretário-geral do PS. E voltei a ler. Nada, apesar de estar muito habituado (é a minha profissão) a ler, com atenção, textos e declarações, até mesmo quando estão escritos em alemão (se for o caso). Mas, aqui, confesso que nada encontrei que me ferisse a sensibilidade política. Ou me criasse “desconforto”. Achou Pedro Nuno Santos que nem tudo foi bem feito nesta matéria durante os governos de António Costa. Natural, ninguém faz tudo, e sempre, perfeito. Mas… “Credo”, disse a senhora eurodeputada, há trinta anos que não se ouvia nada disto no PS. Feitas as contas, a declaração remete para o início dos governos do actual secretário-geral da ONU, António Guterres, em 1995. Uma doutrina inabalável e claríssima, que não precisa de reflexão, mas que agora vem ser posta em causa, imaginem, pelo secretário-geral do PS, com nuances de direita e de extrema-direita. Nada menos. Esta senhora eurodeputada, que já foi muitas coisas, tinha sido eleita deputada e, três meses depois, voltou a candidatar-se a novas eleições, desta vez ao Parlamento Europeu, onde se encontra actualmente a desempenhar funções. Quis voar mais alto. Era e é um seu direito, apesar de certamente também ela conhecer a história de Ícaro. Não quis desempenhar funções na Assembleia da República, certamente para estar mais próxima de António Costa, o agora Presidente do Conselho Europeu. Ambos em Bruxelas. Muito bem. Mas do que eu gostaria era de a ouvir falar de assuntos da União, que bem precisa.
2.
Mas o que disse, afinal, o secretário-geral do PS que tanto incomodou as três ilustres personalidades, defensoras, também elas, do bom nome do PS (de António Costa e de si próprias), neste caso em matéria de imigração. Vejamos, em discurso directo:
- “Não fizemos tudo bem nos últimos anos no que diz respeito à imigração”; 2. a manifestação de interesse “tinha também efeitos negativos, porque, na realidade, não podemos ignorar que tinha um efeito de chamada” e que “acabava por desincentivar a procura por uma via regular ou legal”; 3. “não devemos regressar à figura da manifestação de interesse”; 4. “defendo a regulação da imigração de forma eficaz e humanista, com o outro lado, da integração”; 5. “quem procura Portugal para viver e trabalhar, obviamente percebe, ou tem de perceber, que há uma partilha de um modo de vida, uma cultura que deve ser respeitada”, por exemplo “a igualdade entre homem e mulher”; 6. “é importante que quem esteja a viver em Portugal aprenda a língua portuguesa”; 7. “até ao final deste mês estaremos em condições de apresentar esse diploma” que permita “a regularização de imigrantes que estão a trabalhar”.
No essencial, é isto: uma solução que incentive a imigração legal (em detrimento de outra que promova, indirectamente, a imigração ilegal), a regularização de imigrantes que tenham entrado legalmente em Portugal (incluído com visto apenas turístico) e que, entretanto, tenham conseguido emprego; uma política que promova a plena integração dos imigrantes, incluindo o conhecimento da língua portuguesa, e uma relação de respeito em relação aos princípios e valores constitucionais e culturais do nosso país. O que é que isto tem de extrema-direita? No meu entendimento nem seriam necessárias categorias políticas para avaliar o discurso, mas tão-só o bom senso.
3.
É bem conhecido o caos em que caiu o processo de regularização de imigrantes durante os governos de António Costa, em que a senhora eurodeputada participou, precisamente com responsabilidades nesta área, e não só pelo afluxo de imigrantes, o tal efeito de chamada, reconhecido, sábado passado, no “Público”, também por António Vitorino, ilustre membro do PS, ex-Comissário Europeu da Justiça e Assuntos Internos, Presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo e ex-Director Geral da OIM, mas também como consequência da enorme trapalhada (e erro, no meu entendimento) da abrupta decisão de desmantelamento do SEF. Centenas de milhar de processos pendentes. Parece, pois, ser evidente que o PS tem a obrigação de fazer algo que possa, no quadro daqueles que são os seus princípios, contribuir para uma gestão, como PNS diz, eficaz e humanista da imigração. E nem por isso lhe fica vedado o direito de, como já foi o caso, por exemplo, num dos governos de Guterres (o primeiro, e por directa responsabilidade do então MAI, Alberto Costa), de promover uma regularização extraordinária, obstando, assim, ao chamado efeito de chamada. A verdade é que o legado não foi, de facto, brilhante. Em proclamações, sim. De facto, não. E creio que António Vitorino, que conhece bem o dossier imigração, também não é um perigoso extremista de direita, ou de extrema-direita, e um conhecido xenófobo.
É claro que o tema da imigração é complexo, delicado e muito sério, mas por isso mesmo não deve ser utilizado nem para inflamadas proclamações morais nem para mesquinhas lutas de poder interno nos partidos políticos.
4.
Depois, o problema da chamada “aculturação”, de que fala a senhora eurodeputada em declarações ao “Observador” (24.01.2025): “um erro a ideia de ‘aculturação’, o artigo 15º da Constituição é muito claro quanto aos direitos e deveres dos cidadãos estrangeiros. Num Estado de direito a lei aplica-se a todos independentemente da nacionalidade”. Exactamente: “Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português (Art. 15, itálico meu). Incluído o respeito pelos valores constitucionais. Mas, em primeiro lugar, esse conceito não foi usado por PNS. E, depois, sobre o conceito é necessário dizer que ele não significa somente integração cultural forçada (embora às vezes aconteça), mas também significa “processo de interacção e integração cultural entre grupos sociais diversos”. Um processo, de resto, sociologicamente espontâneo e natural. A integração forçada não é própria das democracias e muito menos é defendida pelo PS, por este ou pelo de António Costa. Outra coisa são os valores constitucionais: estes são matriciais e devem ser aceites por toda a comunidade (nacional e migrante), porque são precisamente eles que em democracia garantem a própria livre expressão das identidades. O exemplo que PNS deu é um deles e consta da Constituição (Art. 13), da Declaração Universal dos Direitos Humanos (por ex., Art.s 1, 2, 7) e da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (Art. 23). De resto, parece-me ser simplesmente de bom senso que quem vem viver e trabalhar em Portugal deva respeitar os nossos valores e princípios constitucionais e culturais que, aliás, são o maior garante da preservação e da livre expressão das identidades. PNS falou de respeito por valores e não de aculturação por imposição. Mas é claro que a aculturação sempre acontece pelo efeito de natural miscigenação. Sei do que falo porque vivi num país estrangeiro durante dez anos, tendo, naturalmente, metabolizado valores próprios desse país, a começar pela língua e por tudo o que ela transporta consigo (Itália). E não me arrependo nem me queixo. Bem pelo contrário. Aconselharia, pois, a senhora eurodeputada a enquadrar a sua reflexão sobre a imigração com a leitura de um pequeno e excelente ensaio de Juergen Habermas (“Cidadania e Identidade Nacional”, de 1991), a propósito da relação entre a União Europeia e as identidades nacionais, onde fala do “patriotismo constitucional” (Verfassungspatriotismus) como a única exigência que deve ser posta às identidades porque é precisamente ela, a matriz comum aceite por todos, que garante a livre expressão e a livre dialéctica entre as diferentes identidades (neste caso nacionais). Só os identitários multiculturalistas não aceitam uma matriz comum, considerando-a opressora (sobre “Diversidade Cultural e Democracia” veja o meu ensaio, com este mesmo título, na Revista ResPublica, Lisboa, n.º10, pp. 97-107: https://recil.ulusofona.pt/items/8da8f919-63ad-43bb-8595-b0a9a4b9a288). Mas não sei se a senhora eurodeputada será ou não identitária, woke ou partidária do politicamente correcto. E não me interessa, a não ser porque ocupa uma importante função em nome do meu partido. Pedro Nuno Santos, como disse, foi preciso no que queria significar, ao referir-se, como exemplo, a um nosso valor constitucional (e universal) muito importante e já referido – a igualdade entre homens e mulheres. O que é que isto tem de direita ou de extrema direita? Parece estarmos numa época em que até os suspiros podem ser interpretados como densas proclamações de malévolas intenções ou mesmo um gravíssimo pecado moral. A onda que por aí anda é bem conhecida de todos.
5.
Depois, vem José Luís Carneiro dizer (“Público” de 25.01, pág. 14) que o fluxo migratório (neste caso, o efeito de chamada) é determinado pelo crescimento da economia: aumenta com o crescimento económico, diminui com o desemprego, nada tendo a ver com as políticas para a imigração. A mão invisível do mercado? A intervenção do Estado, a política de regulação dos fluxos migratórios para nada servem perante a lógica implacável da oferta e da procura? O Hayek não diria melhor: uma política autogenerativa para a imigração centrada no motor económico, na mão invisível do mercado, na oferta e na procura e na livre concorrência, como vem explicado na “Riqueza das Nações”, do Adam Smith? Prefiro pois as explicações de PNS e a prioridade da política, aquela que exprime institucional, legal e legitimamente a soberania popular, a vontade geral. Quanto a Brilhante Dias, um antigo apoiante de António José Seguro passado com armas e bagagens ao séquito de António Costa, as suas observações pouco mais são do que nada: o fenómeno migratório, segundo ele, está subsumido na “tradição constitucionalista” do PS pelo que falar dele é “um mau serviço a quem quer defender direitos iguais para todos”. O melhor seria nem falar de imigração, visto o subtil colete de forças a que hoje a linguagem política está submetida, sobretudo em matérias tão sensíveis como a da imigração. Pode ser politicamente incorrecto.
6.
Sinceramente, a estar-se atento às movimentações destes paladinos do costismo em diferido, que serviram obedientemente, parece ser óbvio que já estão entrincheirados para o combate com vista à conquista do poder interno. O sinal de arranque foi dado por aquele famoso artigo de António Costa, Silva Pereira e José Leitão. Aliás, são já demais os casos em que a animosidade política estratégica e pública se tem manifestado para enfraquecer a actual liderança, pelo que parece que o que está a acontecer deve ser tomado pelo que realmente é: um ataque a céu aberto à liderança de Pedro Nuno Santos. E Luís Montenegro, depois de lhe ter caído o poder no regaço, por obra e graça de um esquisito inquérito de que, passado um ano e três meses, não se conhece o destino, a assistir deliciado ao espectáculo.
7.
Por isso, o anúncio que na mesma entrevista PNS fez de que o debate estratégico sobre a política do futuro que o PS promoverá irá começar em Abril poderá ser uma bela ocasião para uma profunda e necessária clarificação doutrinária, ideológica e programática, há tanto tempo esquecida e tão pouco levada a sério até hoje. Aliás, muitos destes conflitos devem-se precisamente a uma certa nebulosidade doutrinária em que o PS se encontra, para além das proclamações e dos clichés que vamos ouvindo de muitos seus responsáveis. Os tempos mudaram, mas as fórmulas continuam as mesmas. Por isso, a clarificação torna-se absolutamente necessária (já aqui evidenciei em vários artigos e ensaios, que ponho em link no fim deste artigo, os principais núcleos problemáticos em causa; veja também o capítulo, “Um novo paradigma para a social-democracia”, de minha autoria, em Santos, J. A., Org., 2020, Política e Democracia na era Digital, Lisboa: Parsifal, pp. 15-47). E será também ocasião para se conhecer as ideias destes paladinos da suposta ortodoxia socialista para responderem à profunda crise por que a social-democracia está a passar em toda a Europa. Ficar-se-á a conhecer as ideias grandiosas e a clarificação doutrinária que têm a propor, embora até aqui não se lhes tenha visto (mas será certamente por desconhecimento meu) grande alcance doutrinário alinhado com os desafios que temos pela frente na sociedade actual. Falo à vontade porque acabei de publicar um livro exactamente sobre este assunto (Política e Ideologia na Era do Algoritmo, S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, 262 pág.s).
8.
Uma coisa é certa. Estes personagens estão no interior do círculo do poder e certamente, em vez de usarem pretextos para polemizar publicamente com o secretário-geral do PS, poderiam intervir internamente (ou publicamente, com reflexões de fundo) para ajudarem a actual liderança a levar a bom porto a difícil tarefa de preparar o PS para uma profunda transformação interna que o leve a apresentar-se aos portugueses como a força mais credível de que o nosso país dispõe. Esta oportunidade, por razões compreensíveis (ma non troppo), não teve modo de ser agarrada aquando das eleições internas para secretário-geral do PS, onde as páginas dos programas dos candidatos sobre o partido foram escassas, demasiadamente escassas.
9.
António Costa voou rapidamente para Bruxelas, onde o grave motivo que o levou a entregar a maioria absoluta e o governo nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa pelos vistos não era relevante para o desempenho do cargo de Presidente do Conselho Europeu, escancarando as portas do poder ao PSD e perdendo também o controlo do partido. Os seus seguidores querem agora retomar o seu controlo interno, depois de o não terem conseguido há um ano atrás. Pois bem, as eleições para secretário-geral processam-se de dois em dois anos e, portanto, poderão, daqui a um ano candidatar-se. Entretanto, poderiam usar os cargos que ocupam, em nome do PS, para enriquecer o partido e não para o enfraquecer, usando pretextos ridículos como os que se viram neste caso ou no caso do presidente da câmara de Loures, para não referir o da rua do Benformoso, onde Pedro Nuno Santos também, e na minha perspectiva erradamente, alinhou.
10.
Para mais sobre o PS, de minha autoria, veja, entre outros artigos, no meu site:
-
O RECOMEÇO
https://joaodealmeidasantos.com/2024/01/10/artigo-137/
-
E AGORA, PEDRO?
https://joaodealmeidasantos.com/2023/12/20/artigo-134/
-
CONFISSÕES DE UM MILITANTE Em Sete Andamentos
https://joaodealmeidasantos.com/2023/12/13/artigo-133/
-
AS ELEIÇÕES
PARA SECRETÁRIO-GERAL DO PS Manual para uma boa Decisão
https://joaodealmeidasantos.com/2023/12/06/artigo-132/
-
PS – ENTRE O PASSADO E O FUTURO
https://joaodealmeidasantos.com/2023/11/21/artigo-130/
-
O PS E A CRISE POLÍTICA
https://joaodealmeidasantos.com/2023/11/14/artigo-129/
-
CINQUENTA ANOS
E AGORA, PS?
https://joaodealmeidasantos.com/2023/04/18/artigo-98/
-
UM NOVO PARADIGMA PARA A SOCIAL-DEMOCRACIA
https://joaodealmeidasantos.com/2022/04/26/ensaio-16/
-
FALEMOS DE POLÍTICA A propósito de um Artigo de Pedro Nuno Santos
https://joaodealmeidasantos.com/2021/02/03/artigo-29/
-
OPERAÇÃO CONGRESSO
EM QUATRO ANDAMENTOS
https://joaodealmeidasantos.com/2021/08/25/artigo-48/
-
A RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA
DE PARTIDOS EM PORTUGAL
https://joaodealmeidasantos.com/2022/02/08/ensaio-14/
-
MAIS DO MESMO
https://joaodealmeidasantos.com/2021/12/20/artigo-55/
-
O ESTADO-CARITAS
https://joaodealmeidasantos.com/2023/03/21/artigo-96/
-
O ESTADO ENRIQUECE, A MIDDLE CLASS EMPOBRECE
https://joaodealmeidasantos.com/2022/03/08/artigo-63/
-
AFINAL, O QUE É
O SOCIALISMO LIBERAL?
https://joaodealmeidasantos.com/2023/09/27/artigo-122/
FINALMENTE,
16. A SOCIAL-DEMOCRACIA E O FUTURO
UM DEBATE NECESSÁRIO
A propósito de um pequeno
Ensaio de Pedro Nuno Santos
https://joaodealmeidasantos.com/2018/05/11/artigo-2/
JAS@29.01.2025
NOVOS FRAGMENTOS (IX)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos
IMPOSSIBILIDADE
Há quem diga que, no romance “Le Rouge et le Noir”, do Stendhal, a Matilde Viscontini (Dembowski era o apelido do marido, um general polaco, de quem se divorciara), correspondia a M.me De Rênal, apesar de a outra personagem do romance se chamar também Matilde. A Viscontini, por quem o Stendhal se apaixonou perdidamente, achava que o Stendhal era um mulherengo frívolo (e talvez fosse) e não lhe passava cartão. Isto foi tão sério que ele, a este propósito, até escreveu um ensaio sobre o amor (De l’Amour, 1822). Não sei se a mulher do poema (“Caminhos Paralelos”) corresponde à Viscontini, tal como a da ilustração, um perfil de mulher a vermelho e preto. O poeta nunca confessaria, apesar de se suspeitar que haja um referente na realidade. Há sempre. O ponto é a impossibilidade, que acabou por atingir dramaticamente o Julien. Também o poema fala de impossibilidade no jogo do amor. A palavra aparece no poema uma só vez, mas o título também alude a isso. O encontro só se pode dar no olhar e num ponto do infinito (para onde convergem as linhas paralelas).
LINHAS PARALELAS
Seguem em linhas paralelas, o poeta e a musa. Encontram-se no olhar dele, lá ao fundo, quando as linhas paralelas convergem. O olhar parece ser o da alma, capaz de reconstruir e (ainda) sentir o caminho percorrido em comum. Assimetria nos caminhos paralelos. Ele já viaja, no veículo poético, em direção a um mundo imaginário para onde leva um imenso património de afectos embalados em palavras. Ela talvez não. Talvez tenha receio do sol, do seu brilho, preferindo, não a penumbra, mas a obscuridade. Mas ele, o poeta, chama-a ao centro do palco, lá onde estão os holofotes que iluminarão, simplesmente, a sua silhueta. Silhueta iluminada, será a sua. Sem nome.
MELANCOLIA
Sim, melancólico, um poema melancólico, os “Caminhos Paralelos”, ilustrado por uma pintura com um perfil de mulher a preto e vermelho. A história de um encontro de olhar, fugaz… O único possível em percursos que só convergem no olhar de um dos protagonistas. O percurso de ambos seguia por duas linhas, mas só o poeta as via. Ele olhou lá para o fundo e viu que, a um certo ponto, as linhas paralelas convergiam . Era um olhar interior porque centrado nos fluxos vivos memória, mas esse encontro foi suficiente para o canto.
O CANTO E O PASSADO
“Les jeux sont faits”, é verdade, quando a salvação do poeta fica, por instantes, resolvida, como dizia um amigo que comentava o poema “Caminhos Paralelos”. O passado só é possível cerzi-lo com o canto na cidade da utopia, se a memória do poeta for um magma turbulento de recordações que o atormentam e o levam a reagir. Basta o fugaz clarão de um perfil. Como se uma sombra silenciosa progrida no tempo, a seu lado, e, de forma intermitente, haja sinais que estimulam a sua sensibilidade e reavivam a memória, convocando-o para o canto libertador. Como poderia o poeta fugir a este destino tão remota e intensamente marcado. Por exemplo, esse tal dia-dos-namorados, que acende memórias quentes. Felizmente que ele frequenta a cidade da utopia, onde vivem as musas e o destino é marcado pelos deuses e pelos astros, seus amigos. O impossível pode assim ser declinado, numa fascinante transfiguração do real. A poética.
ILUMINAR O TEMPO
A poesia como salvação, como gesto que não vence o tempo, mas o ilumina. Iluminar o tempo com a palavra que resgata, porque o traz à consciência, o assume, o verbaliza, o ilumina. Iluminar: torná-lo visível, acendê-lo e elevá-lo ao sublime. Transcender o tempo é isso. Só a arte o pode fazer. A arte ilumina tudo aquilo em que toca. Por exemplo, o amor. Mesmo, ou sobretudo, aquele amor que ficou pelo caminho, que não encontrou modo de se completar. Aquele amor que acabou por ficar reduzido a desejo, a algo inacabado no tempo… É esse que pede ao poeta que o ilumine para que não fique oculto a provocar estragos na alma. O desejo permanece como vontade. Muitas vezes comparo a poesia à psicanálise, mas mais bela e eficaz. Sonhar, verbalizar, fazer livres associações, sim, mas introduzindo a beleza, a harmonia e a melodia reparadora. Dotando o “paciente” de um activismo que faz dele o agente da própria “cura”. O poder terapêutico da poesia pelo seu poder de iluminar o passado para si e para a comunidade das almas sensíveis. E é verdade que iluminar o passado é também reconhecê-lo e, desse modo, trazê-lo à consciência, libertando-se da sua influência de natureza puramente pulsional. Reconhecê-lo não significa anulá-lo, mas sim tornar possível a sua transfiguração estética, onde o primeiro dos princípios é o princípio da liberdade. É este o sentido do resgate pela arte. Dir-se-á: o poeta atinge assim a felicidade plena? Não. Mas pode converter a sua tristeza em doce melancolia, partilhando-a com a comunidade das almas mais sensíveis. Sim, o da poesia é um caminho sempre paralelo àquele que sofre mais directamente o impacto das pulsões que animam e agitam a nossa existência.
A ILUSÃO COMO REMÉDIO
Esta “Natureza Morta” (que ilustra o poema “O Passado e o Presente”) não é tão morta como à primeira vista pode parecer, pois andam por lá (o que não é comum nas “naturezas mortas”) rostos dissimulados nas formas das flores já secas, que são como que marcas deixadas pela vida que também por elas passou. Nas flores, mesmo secas, há sempre rostos impressos dos que delas cuidaram. Eles, os rostos, podem indicar o prenúncio de uma fresta por onde o passado venha a emergir como presente, como desafio da vida passada às palavras futuras do poeta e às cores e riscos do pintor. São marcas de vida cristalizada nas flores já secas pelo tempo que passou. Que passou, sim, mas deixando marcas com potencial de vida a insinuar-se. Não literais, mas marcas. Isto, claro, chegando ao poema através de uma especial “Natureza Morta”. Mas se lhe acrescentarmos a sua força performativa, o realismo induzido pela musicalidade das suas articulações significantes nesse sonho a olhos abertos que é sempre um poema, talvez possamos transformar o passado em presente, ouvi-lo ecoar, ali ao lado, como desafio para o canto e responder-lhe com as palavras encadeadas de uma ilusão onírica desenhada no estirador mental do poeta, aquela que tudo pode porque é livre. A ilusão é a condição da sua própria liberdade. Sempre de destino, de astros ou de deuses se trata, nessa matéria de que o poeta se ocupa como missão. Mas é um combate contra o tempo e as suas adversidades nos limites que o próprio destino lhe fixa. O poeta trilha essas marcas da melhor forma, aperfeiçoando-as, procurando nelas a beleza possível, cantando-as. Se, depois, as mostrar, metaforicamente, tanto melhor.
MARCAS
O tempo deixa marcas que persistem em nós. O poeta pega nelas e projecta-as para o futuro, como desejo ou como doce lamentação. O poeta é um obreiro do tempo, inspirado nas musas e num percurso que os deuses lhe traçaram. Sempre rumo ao futuro.
NAVEGAR NAS TEMPESTADES DA ALMA
Os poetas navegam no tempo levados pelo vento interior que lhes sopra na alma. Não podem subtrair-se às tempestades interiores… que os levam a poetar. Um destino.
POESIA EM PROSA
O Bernardo Soares achava que não tinha jeito para a poesia, mas dizia sobre ela, em prosa, coisas muito acertadas. Ou não vivesse ele em permanente desassossego… Ali, ele não era poeta, não era fingidor.
O PASSADO E O PRESENTE
O passado é, a partir de um certo momento, a maior fatia da nossa vida. Imaginemos, pois, o destino de quem tem pouco passado (intensamente vivido, digo). Tem pouca vida. Vegetou, não viveu. Não tem, pois, de que se lamentar por perdas que não teve. Para perder é preciso ser. Não basta ter. Se não és, não perdes. É tudo mais ou menos “igual ao litro”. Só tem futuro quem foi passado. Quem não foi, vive só no presente e o presente. Sem tempo, pois. Ser passado significa, no presente, construir esse futuro que se tornará passado. Se o presente não for um intervalo entre o passado que foi e o futuro que deseja ele será pouco mais que nada. Uma circularidade que se devora a si própria e não deixa rasto.
TEMPO
“O Passado e o Presente” é um poema sobre o tempo e a vida. E sobre o que dele sobrevive e ecoa em nós, tornando o passado… presente. Esse passado pode estar ali, por perto, ter persistido sob uma qualquer forma, por exemplo, como intensa recordação noutra memória, mas fluindo longe de nós e em silêncio. Uma história que alguém mantenha viva na sua consciência, que persiste noutro ambiente existencial e à qual já não temos acesso. Uma barreira intransponível. Resta-nos imaginar o que seria reencontrar esse passado exactamente como foi. Sonhá-lo, por exemplo. Ou desenhá-lo com palavras. E dotá-lo de melodia para o tornar mais sensível, sensorial. Para o reviver, digamos, “fisicamente”, como efeito sensível das palavras e da melodia que o recriam. Mas, mesmo assim, será sempre algo intangível, ficando somente o desejo em forma de ilusão. A ilusão de o imprevisível acontecer. A pulsão da vontade figurada em palavras com melodia. Imaginar o acaso nessa brecha do tempo como possibilidade de algo… que nunca acontecerá a não ser na imaginação. Mas imaginemos, por um momento, um reencontro com aquela mulher – nunca será um encontro com o passado, porque esse já passou. O imprevisto que se abre ao impossível. É aí – na impossibilidade – que a poesia ganha autonomia e vida própria, restando ao poeta dar-lhe força sensível para que sinta esse passado como algo vivo e ainda mais belo do que foi, ou mesmo intemporal, projectado no futuro. A eternidade de que fala a Yourcenar pela boca de Michelangelo. Depois, comunicá-lo, esse passado reconstruído e mais belo, na ilusão de que as palavras voem, com o vento que sempre passa, e sejam ouvidas, sentidas e interpretadas. O poeta funciona num plano transcendental, como se o passado estivesse a ocorrer nesse instante. Ele tem esse poder. A poesia tem, pois, também essa dimensão de partilha imediata que lhe reforça o realismo. É este complexo de elementos que tornam poderosa a poesia. JAS@01-2025
OLIVIERO TOSCANI
(1942-2025)
E A PÓS-PUBLICIDADE
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS 2025
OLIVIERO TOSCANI partiu aos 82 anos. Faria 83 em 28 de Fevereiro. Não era só um publicitário, era também um artista. Um publicitário-artista especial: ajudou, com as suas produções, a fazer da Benetton uma marca mundial de enorme sucesso. No mundo invertido da publicidade, onde o produto adquire a natureza de «fetiche» milagroso, capaz de nos oferecer este mundo e o outro, e valioso, não por qualidades intrínsecas, mas por qualidades e «atmosferas» que subrepticiamente a publicidade lhe associa, Toscano foi mestre. Em publicidade, um produto surge sempre associado a algo que pode nada ter a ver com ele. A algo que pode fascinar, atrair, espantar, fazer sonhar e que, por essa via, induz atracção por um produto que lhe esteja associado. Também aqui se poderia falar de instrumento de ilusão programada, de inversão substitutiva do valor de uso pelo valor simbólico. De fetiche. Ao qual Marx dedicou algumas admiráveis páginas, no primeiro livro de O Capital. Diz Oliviero Toscani, o genial artista-publicitário:
«qual é o melhor slogan publicitário de todos os tempos? É a palavra publicidade. É o mais eficaz e o mais mentiroso. Evoca coisas positivas, um serviço, uma coisa útil. Bem público, coisa pública, interesse público, opinião pública, meios públicos, autodisciplina são todos eles conceitos positivos que subentendem um interesse geral. Pelo contrário, nada há de mais parcial do que o interesse da publicidade, que não é mais do que uma propaganda comercial parcial sem contraditório» (Toscani, O., Ciao Mamma. Milano, Mondadori, 1995: 40).
A publicidade não trata do interesse público ou do interesse geral, mas de interesses de parte. Pura encenação em torno de um termo em si próprio equívoco ou mesmo enganador. É ele que o diz.
A IDEOLOGIA PUBLICITÁRIA
Não deixa de ser curioso que quem isto afirma seja o promotor de campanhas declaradamente publicitárias, mas com pretensões de validade moral universal. Por isso, falando de Toscani, exporei, em seguida, as traves mestras desta publicidade, bem mais sofisticada do que a que nos é oferecida pela televisão, para compreendermos melhor essa lógica da inversão ideológica que nela se insinua. Analisarei o caso paradigmático de uma perfeita ideologia publicitária, porque representa um plano de fronteira do processo de mediatização e, por conseguinte, da ideia de confiscação de direitos imediatos, eficazmente substituídos por direitos mediáticos, ou virtuais. A ilusão de uma vida melhor… comprando. Ideologia publicitária que, à semelhança da ideologia tradicional, associa subliminarmente grandes causas de valor moral e de interesse público a matérias da mais trivial consistência, provocando a eficaz ilusão de uma relação causa-efeito e de universalidade, lá onde se trata, afinal, da mais subjectiva escolha e do mais trivial uso: uma camisola de cromatismo exuberante, e moralmente correcto, que traz associada a si a marca do sucesso, da universalidade e da moral: United Colors of Benetton. Trata-se daquilo a que chamo pós-publicidade. A de uma empresa, a Benetton, e de um genial publicitário, Oliviero Toscani, também ele imerso, mas de forma bem original, na ideia de mediatização universal de produtos, agora através de causas e de princípios morais de grande impacto.
PUBLICIDADE – UM SECTOR ECONOMICAMENTE PODEROSO
Para quem não saiba, Oliviero Toscani é um famoso publicitário italiano, autor dos célebres e polémicos outdoors da Benetton. «Ciao Mamma» é o título de um seu sugestivo livro de carácter autobiográfico, onde poderemos seguir o riquíssimo itinerário intelectual do autor, mas onde também poderemos seguir um fio condutor unitário que exprime, das mais diversas formas, o conceito do artista-publicitário sobre o discurso da publicidade. Discurso de altíssima actualidade e relevância, visto o universo sem limites em que o discurso publicitário intervém e os gigantescos recursos que nele são investidos. Em Itália, a despesa em publicidade era, em 2000 (quando publiquei a primeira edição do meu livro Homo Zappiens, Lisboa, Editorial Notícias, 2000), igual à despesa para a investigação industrial, maior do que os investimentos estatais destinados à educação, infinitamente superior aos investimentos na saúde pública. Ou então: empresas havia (e há) que gastam quase mais em publicidade do que na actividade empresarial propriamente dita. Mais: oitenta por cento da facturação publicitária diz respeito a poucos sectores de largo consumo, com o objectivo de produzir quase sempre sugestões de carácter artificial ou ilusório em vez de informações úteis e verdadeiras (Toscani, 1995: 40-41; veja-se também No Logo, de Naomi Klein, Milano, Baldini&Castoldi, 2001). E é aqui que reside o núcleo polémico.
A PUBLICIDADE COMO PATROCÍNIO DE CAUSAS
A questão levantada por Toscani diz respeito à filosofia espontânea da publicidade convencional, que não transcende o mínimo denominador comum dos vulgares sentimentos ou impressões estéticas, que é conformista, que se limita a induzir competição com o produto congénere, do tipo «o meu produto é melhor do que o teu», em suma, que não transcende o puro discurso mercantil. Toscani, que no mesmo registo fustiga as agências publicitárias, elas próprias em busca desesperada de autopublicidade, opera uma ruptura com o senso comum publicitário, propondo uma publicidade radical, em sintonia com a própria filologia do conceito (coisa pública, bem público, transparência, interesse público, opinião pública). Publicidade que, através de temas vitais, funcione como estímulo crítico, como discurso autónomo sobre as grandes causas, embora promovido pela United Colors of Benetton, multinacional que decidiu, após anos de campanhas convencionais, acabar com as agências publicitárias e «patrocinar», com esse orçamento e com a linguagem estética de Toscani, causas universais de grande valor moral. Foi assim que a relação da Benetton com a publicidade se remeteu à figura de simples «patrocínio» de grandes causas simbolicamente representadas em fotografias da autoria desse intelectual-publicitário e que abriu espaço àquilo que poderíamos designar por pós-publicidade. SIDA, guerra, racismo, ecossistema, sexo, religião eram os temas com que Toscani trabalhava nas suas mensagens. Temas sempre apresentados de forma esteticamente muito intensiva e radical e em suporte fotográfico. De tal forma que provocavam, sistematicamente, fortíssimas reacções provenientes dos mais variados sectores: críticas, anátemas, censuras, emoções. Quase sempre escândalo.
A FOTOGRAFIA
Poderíamos dizer que Toscani, usando um meio tradicional como a fotografia, superou a fronteira da publicidade convencional, alterou radicalmente os seus esquemas de referência, levou a sua linguagem a um ponto tal que parece tê-la catapultado decisivamente para o plano da arte politicamente empenhada. Mas sem se ter deslocado dos espaços onde a publicidade convencional vivia e convivia, do seu suporte tradicional. Sobre a fotografia, diz Toscani, em «Ciao Mamma»: «para mim, a fotografia tem a F maiúscula. Não a considero a parente pobre da pintura. E não me interessa uma evolução em direcção ao cinema. Nem sequer a televisão conseguirá fazê-la sair de cena. A fotografia permanece, e permanecerá por muito tempo, o núcleo de partida da imagem moderna» (1995:11).
CROMATICAMENTE CORRECTO: UMA ESCOLHA DE VIDA
«Ciao Mamma» bem poderia ser, de facto, a frase «assassina» da publicidade a um par de jeans: a fotografia de um jovem, munido apenas de um par de jeans e de uma escova de dentes enfiada no bolso detrás, que parte para essa grande aventura libertária da vida, deixando atrás de si a recordação dos momentos de afectuosa protecção maternal. «Ciao Mamma!»: na companhia de um membro da Família Unida Benetton (ou de dois, se a escova de dentes também for produzida pela empresa) «parto com segurança e com valores de referência para essa grande aventura da vida, onde a comunidade certa é constituída pela equipa que veste a camisola do clube cromaticamente correcto Benetton».
A FÓRMULA: UNITED COLORS OF BENETTON
Toscani, com efeito, conduziu durante muitos anos, com enorme sucesso, à escala mundial, a publicidade da empresa italiana de vestuário, e derivados, Benetton. Com enorme sucesso, é verdade, pois em 2000 já estava presente em mais de cem países e declarava um movimento de três biliões de marcos (Doenhoff, M. D, “Toscani: i colori del declino”, “Reset”, n.º 23, 1995), mas também marcada por planetárias polémicas geradas pelo arrojo estético e moral, apesar de simples, das suas propostas publicitárias. A fórmula originária e genérica que fundava e que estava presente em todos os produtos publicitários era simplesmente fabulosa. United Colors of Benetton alude – nem sequer subliminarmente -, evoca e decalca o forte simbolismo contido na designação nacional americana, United States of America: o mesmo número de palavras, a mesma ordem, o mesmo início. A sugestão de uma mesma matriz. O mecanismo desencadeado por esta associação é o do funcionamento por analogia: sucesso, poder, liderança, afirmação.
Trata-se, logo aqui, como se vê, da mais pura ilusão ideológica: a alusão aos USA induz, subliminarmente, quem usa produtos Benetton a assumir-se como pessoa de sucesso, de poder, forte e afirmativa. Uma camisola cromaticamente correcta é índice de sucesso.
EFEITO DE ESTRANHEZA
Toscani, partindo daqui, rompe com a fórmula publicitária tradicional – que tende dominantemente a envolver a mensagem directa com ambientes de matriz sentimental, romântica ou utópica – e cria efeitos simbólicos de choque, produz imagens que questionam, com radicalidade de ruptura, os grandes temas que atravessam a vida nas sociedades modernas: um padre que beija uma freira, a farda manchada de um soldado bósnio morto (que não é de marca Benetton), um pássaro a boiar numa poça de petróleo derramado, um recém-nascido ensanguentado e ainda preso pelo cordão umbilical, inúmeros preservativos que esvoaçam, cruzes de um cemitério, «Hiv positive», etc., etc. «É claro que Toscani abala alguns tabus, mas a nudez que expõe é simplesmente humana», diz dele Thévenaz. «É exactamente esta a sua intenção: a objectividade anti-sentimental», sublinha este historiador de arte (Thévenaz, M., “Quel fotografo è solo um venditore”, “Reset”, n.º 23, 1995). O anti-sentimentalismo constitui, com efeito, a marca de ruptura com a publicidade convencional, com o efeito de adesão sentimental ao produto, com a fantasia induzida pelo mecanismo da anestesia simbólica. O que ele propõe é, pelo contrário, a distanciação crítica, uma espécie de Entfremdungseffekt, efeito de estranheza, de vaga ou longínqua inspiração brechtiana. Ou, muito simplesmente, um efeito de choque que provoque reflexão crítica induzida pela «vivacidade» da imagem proposta sob o «alto patrocínio» das Cores Unidas da Benetton. Uma marca empenhada no resgate moral da Humanidade.
PUBLICIDADE E CAUSAS MORAIS
Todas estas são mensagens de ruptura radical, de oposição em relação a ordens ou desordens provocadas pelos poderes convencionais ou naturais: o poder religioso, a guerra e a agressão ambiental (neste caso, originada pela Guerra no Golfo), a questão demográfica, a SIDA. Trata-se também de mensagens com forte apelo emocional e psicologicamente desestabilizadoras para quem está habituado a ver a realidade com as lentes policromáticas dos romances cor-de-rosa publicitários convencionais e a quem é sugerido um subreptício cromatismo de vago sabor crítico. E, todavia, estas mensagens possuem uma fortíssima valência substantiva, tocam profundamente a sensibilidade existencial e colectiva, questionam-nos. Mas, tratando-se claramente de publicidade, também é verdade que transportam consigo um «pecado» original, um indício pecaminoso, um indício de interesse privado em causa pública: o interesse na expansão comercial das Cores Unidas da Benetton, através da instrumentalização, com fins dominantemente lucrativos, de temas que tocam profundamente as sensibilidades individuais e colectivas e que possuem essencialmente uma valência pública. Não que o mercado seja pecaminoso. Mas, seguramente, porque, estando em jogo causas tão substantivas e determinantes para o futuro da Humanidade, parece ser justo exigir que estas causas se constituam como fins absolutos, assumam uma valência absoluta, isto é, não sejam referenciáveis a nenhum outro valor que não seja o que elas próprias evidenciam e exigem imperativamente. Pelo contrário, o que aqui se verifica é uma promiscuidade intolerável entre o que deveria ser moralmente absoluto e o que é comercialmente relativo. Entre o que questiona a essência do que é justo socialmente e o que se revela tão-só comercialmente lucrativo. Trata-se daquele mecanismo que identifico como ilusão e inversão ideológica: onde a causa deve ser um fim de si própria surge como simples manto ou cobertura moral de um banal produto comercial que é absolutamente estranho às causas a que alude. A causa moral surge como mero instrumento de promoção comercial de produtos moralmente neutros. Assim funcionam os mecanismos publicitários em geral, independentemente dos conteúdos.
A crítica que vale para a pós-publicidade vale, pois, para a publicidade televisiva, mais laica, mais relativa, mais comezinha, mas nem por isso menos eficaz e menos «subversiva». A primeira, mais crítico-conceptual, a segunda, mais sentimental e romântica. É que a pós-publicidade dota-se de uma armadura de combate ideológico pronta a reunir todos aqueles que se vestem de forma cromaticamente correcta. Uma lógica que funciona de forma plenamente invertida, já que é a força das causas que funciona como factor de coesão de todos os que acabam por se reconhecer no cromatismo moral e anti-sentimental da Benetton, sendo que, afinal, é essa mesma Benetton que patrocina as causas propulsoras desse cromatismo moralmente correcto. Não é a Benetton que leva às causas, mas as causas que promovem a Benetton.
A publicidade televisiva funciona de forma mais laica, mais trivial, induz analogias sentimentais, de sucesso e de eficiência. É uma publicidade mais pragmática, sem deixar de aludir a valores sociais, existenciais e instrumentais, operando sempre de acordo com o mecanismo da inversão ideológica: lembro a publicidade televisiva a um pão de longa conservação que é distribuído, regularmente, todos os dias, de manhã cedo, à hora do pequeno-almoço, como se fosse pão fresco. Uma incongruência.
CINCO TEMAS
Toscani terá dito que foi a Guerra do Golfo que o levou a formular o novo quadro em que passaria a formular a publicidade do futuro. A publicidade social e historicamente empenhada. Logo, um momento histórico único como fonte de inspiração e de responsabilidade planetária acrescida. Ele passou a querer mostrar «o que une e separa as pessoas», através da exibição intensiva dos grandes cinco temas da existência: o sexo, a religião, a raça, a vida e a morte. Sem mediações. Com uma técnica intencional de brutalização da comunicação. Provocando emoções fortes sobre o cidadão consumidor da publicidade de larga escala, para que esse mesmo consumidor se transformasse em consumidor dos produtos Benetton, os que patrocinam as grandes e boas causas.
APOLOGIA DA MARCA, NÃO DO PRODUTO
A filosofia de Toscani revela-se, através da estética da comunicação publicitária mediante fotografia, fortemente criativa, competitiva e esteticamente revolucionária. Volta a dar à fotografia algo que ela estava a perder em face de poderosos adversários. Em particular, do adversário televisivo, assumido aqui, implicitamente, como simples extensão subalterna e residual da operação pós-publicitária, isto é, como simples sistema difusor subalterno da mensagem cromaticamente correcta de que todos falam, dentro e fora da televisão. E a verdade é que este publicitário, com a sua mágica fórmula fotográfica, tão discutida e posta em causa em todo o mundo, conseguiu ser talvez a peça fundamental do enorme empório Benetton. Uma empresa que fascinava não tanto pelas formas e pelas cores que produzia quanto pela imagem que de si mesma conseguiu criar. Como que a demonstrar que, hoje, a marca e a imagem são tudo e o produto nada. Ainda que alguns, aplicando a lógica do boomerang, tenham começado a falar, com razão ou sem ela, de crise. Uma crise que se fundaria mais na derrocada de uma determinada fórmula publicitária do que na necessidade, bem mais prosaica, de agasalho e de culto da arte de bem-vestir. Boomerang que dá bem conta deste efeito de inversão que cada vez mais assalta o nosso quotidiano: consumimos não segundo a lógica do uso, mas segundo a lógica da troca e, finalmente, a lógica das comoções induzidas pela força matricial da fotografia ou pela força trivial da televisão.
PÓS-PUBLICIDADE
Toscani opera com uma distinção fundamental entre a publicidade convencional e aquilo a que chamo pós-publicidade: aquela idealiza e absolutiza as virtuais qualidades do produto; esta limita-se a associar, não o produto, mas a própria marca (United Colors of Benetton) às grandes causas, tal como nos são propostas pelo artista-publicitário, em suporte fotográfico e sob o pressuposto de que a fotografia se mantém como o núcleo de partida da imagem moderna. Não se comunica, pois, o produto ou os produtos, mas a marca. O que já constitui uma revolução em relação à publicidade convencional. Mas, depois, a própria comunicação publicitária é proposta de forma somente alusiva, onde a mensagem fundamental é uma grande causa social, totalmente autónoma em relação ao produto e à própria marca. Esta limita-se a aparecer associada, na medida em que se revela como simples patrocinadora. “Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és”. Toscani diz que o novo modo de fazer arte no mundo tecnológico de hoje é precisamente aquele que não recusa a contaminação com a cultura de massas, da qual a publicidade é uma das expressões mais visíveis. O conceito nem parece ser muito original: lembremo-nos, por exemplo, da obra de um Andy Warhol, com quem, de resto, Toscani conviveu. Mas que a caminhada de Toscani tem um sentido profundo foi reconhecido pelo Pier Paolo Pasolini dos Scritti Corsari quando analisou o famoso slogan dos «Jeans Jesus» e o considerou como algo surpreendentemente inovador: «o seu espírito», disse então Pasolini, «é o novo espírito (muito antecipado) da segunda revolução industrial e da consequente mutação dos valores» (Pasolini, P. P., Scritti Corsari, Milano, Garzanti, 1975 1975: 17). E estávamos em 1973, em plena era do slogan, quando Toscani ainda não se tinha desprendido completamente da lógica publicitária convencional. Mas, agora, que esta comunicação publicitária se reduz à forma do patrocínio e se fixa em temas ou causas de profundo significado social, como o beijo entre um padre e uma freira, uma mulher negra que amamenta uma criança branca, uma recém-nascida (Giusy) com o cordão umbilical, um moribundo (David Kirby) de SIDA, uma nuvem de preservativos, as cruzes de um cemitério, a farda do soldado, conhecido como Marinko Gagro, ensanguentada, agora, dizia, a inovação é radical, sendo certo que Pasolini poderia ver confirmado o seu diagnóstico de então.
ALGUMAS PERGUNTAS
Num registo hiper-realista, um pouco cínico e sem pretensões de carácter conceptual, as questões que poderíamos pôr a Toscani são as seguintes:
- vocês fazem este tipo de publicidade porque querem limpar a consciência? Porque têm uma moral dupla? Porque querem redimir o mundo? Ou, simplesmente, porque o que pretendem é, tão-só, fazer com que falem da Benetton, para mais e melhor vender?
- O que vocês fazem não é pura e simples ideologia instrumental? Mas se, antes, a ideologia sempre surgia associada à nobre política, assim, não fica despudorada e directamente ao serviço de mesquinhos interesses comerciais que nada têm a ver com as causas que apregoam?
- Não estão vocês a instrumentalizar causas de grande valor moral? E, assim fazendo, a dignidade da vossa pós-publicidade não resvala para o cinismo?
Benetton não é um santo e a sua empresa não é uma agência de causas morais. O crítico também não é parvo. Mas o facto é que a publicidade de Toscani assume esta forma diferente. Não fala de si nem dos seus produtos. Fala de grandes causas (de resto, já em circulação nos media), provocando grandes escândalos, porque a sua linguagem em vez de estilizar e idealizar a sensibilidade comum, agride-a e fere-a, provocando reacções de carácter interactivo, isto é, acabando por transformar o destinatário num sujeito (re)activo. Reactivo, sensível à mensagem, logo potencial aderente a esse clube patrocinador de causas morais que, por acaso, se chama Benetton e que, também por acaso, vende produtos de vestuário e afins.
O CORPO
No meu entendimento, também não é por mera coincidência que Toscani trabalha com corpos (ou com objectos simbólicos que para eles remetem, preservativos que esvoaçam ou cruzes de um cemitério), procurando reconduzi-los a uma pureza originária e dando, assim, relevo a uma intimidade partilhada em comum, a do corpo. Reduz as diferenças ao mínimo, ao detalhe, fazendo sobressair aquilo que é comum, provocando uma «relação física» anterior aos hábitos, às crenças, ao vestuário. Como diz Thévenaz: «para dar consistência à ideia das Cores Unidas, era necessário inserir o corpo humano». «Os personagens de Toscani são seres humanos idealizados (…) que não têm outra individualidade senão algumas diferenças formais: o penteado, a pele, a forma ou a cor dos olhos, as linhas de um rosto ou de um seio. E, em homenagem, uma camisola vermelha ou amarela da Benetton…» (Thévenaz, 1995). Não é, pois, inocente esta opção pelo corpo, já que ele é o destinatário dominante da actividade produtiva da Benetton, independentemente de qualquer diferença formal que se verifique nesse corpo, já que a Benetton possui uma linguagem universal por todos compreensível: a linguagem da cor.
A fase em que Toscani pretende não só mostrar o que une as gentes, mas também o que as separa, recorrente depois da Guerra do Golfo, esbate um pouco este afunilamento em direcção ao corpo que veste Benneton e suscita sentimentos de compaixão e intensidades dramáticas. Com diz Thévenaz, Toscani, neste registo, vê-se ultrapassado pela necessidade de um registo que não seja tão publicitariamente correcto, tão estilizado, tão formal. Por isso, tem de recorrer a trabalhos de outros autores, por exemplo, a reportagens fotográficas, que o impedem de praticar um estilo esteticamente tão depurado. Mas, mesmo assim, a intensidade dramática que envolve esta mensagem de Toscani é uma mensagem dramaticamente correcta, universal, por todos compreensível e com profundo significado moral. Sempre se trata de corpos, mas em situação-limite. A Benetton pode assim aproximar as gentes pelo sofrimento-limite, pelo drama de fronteira e exercer essa sua função de promotora universal de causas morais, de consciência crítica, de exemplo. Um exemplo que, como todos os exemplos, deve ser seguido… comprando.
FINALMENTE
Com esta incursão pela pós-publicidade de Toscani, na hora da sua partida, pretendo, além de o homenagear pela sua genialidade, evidenciar, com a análise de um caso concreto, a lógica ideológica da publicidade, a compreensão do mecanismo da inversão ideológica e os efeitos desejados que ela procura provocar nos sujeitos… a ela. Todos nós.
NOTA
Este texto retoma o capítulo do meu livro Homo Zappiens (Lisboa, Editorial Notícias, 2000; Lisboa, Parsifal, 2019, 2.ª Edição, pág.s 100-114) dedicado a Oliviero Toscani. JAS@01-2025

POR QUE RAZÃO NÃO ADIRO À MANIFESTAÇÃO
“NÃO NOS ENCOSTEM À PAREDE”
Por João de Almeida Santos

“A Linha do Horizonte”. JAS 2025
1.
EM PRIMEIRO LUGAR, a ter em consideração o mote da manifestação (“Não nos encostem à parede”), o que logo surge como seu alvo é a Polícia de Segurança Pública. Em segundo lugar ficam aqueles que, de facto, foram objecto daquela rusga policial, um pouco aparatosa, reconheço. Portanto, uma manifestação sobretudo contra a polícia de um Estado democrático, não contra a polícia de uma ditadura. Isto deveria ser suficiente para o PS se distanciar da manifestação em vez de a ela se associar, ainda que indirecta ou informalmente, deixando a iniciativa àqueles que sempre viram na polícia a mão repressiva do capitalismo e do Estado de classe. O PS não faz parte, julgo eu, deste radicalismo nem partilha desta visão. Mas mesmo que este mote se aplicasse ao governo, mesmo assim, não creio que o PSD constitua, atendendo ao seu histórico, uma perigosa ameaça às liberdades públicas. De qualquer modo, a alusão é, efectivamente, à polícia. Foi essa que encostou pessoas à parede, durante uma rusga. Dizer que, no fundo, não é, é pura dissimulação.
2.
É preciso olhar para a natureza das funções desempenhadas pela polícia. Trata-se de funções extremamente delicadas porque envolvem o exercício da força institucional perante situações de violação da ordem pública ou de prevenção de práticas de ilícito ou da própria violência. Prevenir as infracções à lei e à ordem pública, em largo espectro, e agir para impedir que prossigam não é tarefa simples e fácil, porque ocorre sempre numa linha de fronteira entre uso da força institucional, legal e legítima, e a preservação de direitos. O uso da força institucional é sempre um fenómeno delicado, perigoso e difícil até porque tende a colidir com os direitos, as liberdades e as garantias, vindo de um agente, o Estado, que detém o monopólio do uso legítimo da força, esse que foi inventado pelos contratualistas precisamente para garantir a segurança de pessoas singulares ou colectivas – o Estado moderno. E, por isso, podem ocorrer facilmente erros (que serão sempre graves) cometidos por aqueles que estão incumbidos de a usar em nome da lei e da segurança, em nome do Estado. Por exemplo, agir em ambiente de manifesta violência é condição propícia a desvios imprevistos, não intencionais e muito menos programáveis. Isto é de senso comum e tem de ser levado devidamente em conta, antes de gritar ao vento a pureza dos princípios perante a dura realidade. A “ética da convicção” deve ser temperada pela “ética da responsabilidade”.
3.
O PS tem um histórico que deve ser tomado na devida conta, precisamente a propósito desta questão. Foi durante o primeiro governo de António Guterres que foi criada a IGAI, Inspecção-Geral da Administração Interna, tendo como desígnio controlar institucionalmente a actividade das polícias, e por acção do Ministro Alberto Costa, que nomeou o primeiro Inspector-Geral, Rodrigues Maximiano. Um meio legítimo e inteligente de manter dentro das boas práticas o exercício de uma missão difícil, delicada, complexa e perigosa, como é a actividade policial. A que acresceu ainda a introdução de uma lógica de força civil na polícia, transformando o Comando-Geral de Polícia, de inspiração militar, em Direcção Nacional de Polícia, de natureza civil, tendo pela primeira vez um civil à sua frente. Deixou de ser obrigatória a nomeação de um general para o comando da PSP. Foi nessa ocasião desenvolvida a filosofia do “policiamento de proximidade”, que se traduziu, por exemplo, na criação das iniciativas “Escola Segura” e “Idosos em Segurança”, hoje reconhecidamente consideradas iniciativas de grande sucesso. E um forte investimento na formação policial. Obra de um governo socialista chefiado pelo actual Secretário-Geral da ONU, António Guterres, dando, assim, corpo, no plano da segurança, à visão inovadora do PS para esta tão sensível área.
4.
Por isso, o PS (de que sou militante há umas décadas) não deveria transformar essa sua vocação reformadora com forte pendor institucional num agit-prop de inspiração woke cada vez mais agressivo e presente na nossa sociedade, em vez de lutar pela melhoria das condições de eficácia e de responsabilidade das forças de segurança. Não é combatendo-as na rua com manifestações nacionais, com intervenção da sua máquina partidária, que contribuirá para melhorar as condições de segurança no nosso país. Pelo contrário, o que, assim, conseguirá é promover o bloqueio da acção da polícia, tornando-a cada vez mais difícil, complexa e delicada. Mais do que já é. Há uma tendência dominante, talvez por ainda estar presente a imagem da polícia da ditadura, meio século depois, para apontar sistematicamente o dedo em riste à polícia, não só pela esquerda radical, mas também pelo mainstream jornalístico que ainda vive sob influência da sua matriz liberal, onde o Estado surge sempre como o invasor do terreno privado de exercício da liberdade. Alguns até acham, erradamente, que a função do jornalismo é ser contrapoder. É ver a Resolução 1003 do Conselho da Europa sobre Ética do Jornalismo (de 1993), onde essa ideia é explicitamente recusada. Mas é coisa antiga e também actual, facilmente comprovável por quem ainda vê televisão e a forma como é noticiada a relação entre a polícia e os cidadãos a propósito de um qualquer incidente. O facto é que, esta, não é uma polícia de ditadura. É uma polícia de um Estado democrático, que deve ser respeitada, mesmo em situações em que possam ocorrer erros.
5.
Admitamos que a polícia tenha cometido um erro, por excesso no uso de coerção sobre cidadãos portugueses ou imigrantes que nem sequer se encontravam em situação de eventual prática de ilícito, violando, assim, o princípio da proporcionalidade (a que está obrigada) na organização da referida rusga. Mesmo assim, o que o PS deveria fazer era desencadear uma acção parlamentar com vista ao apuramento institucional da situação e de eventuais responsabilidades (políticas ou operacionais), mas nunca participar numa batalha cívica nacional contra a instituição que tem por dever zelar pela segurança dos cidadãos sejam eles nacionais ou estrangeiros. A situação chegou ao ridículo de uma deputada do PS (a crer no relato dos jornais, também dois ex-ministros de António Costa o terão feito) assinar uma queixa junto da Provedoria da Justiça contra a PSP em vez de usar as suas prerrogativas institucionais para intervir, através do Parlamento, na situação. Mas não admira, visto o habitual pendor wokista das suas intervenções. Talvez seja um modo de sobrevivência política, quando não se tem real inserção orgânica no território partidário. O que é legítimo, sem dúvida, embora não seja aceitável que a sua acção, enquanto deputada, comprometa o partido no seu todo. Sim, porque o PS, no meu modesto entendimento, nunca deverá ser confundido com qualquer agenda woke que vagueie por aí na luta política pessoal ou de grupo.
6.
Eu creio que em Portugal a agenda woke está em perigosa ascensão mesmo junto dos partidos que, mais do que assumi-la, a deveriam combater, não deixando que acabe por colonizar as suas agendas políticas e dando, assim, pretexto à direita radical para identificar esta agenda com o próprio sistema, com o establishment ou com o centro-esquerda e o centro-direita, que nos têm governado. Este é, de resto, assunto que eu trato detalhada e longamente, de forma muito crítica, no meu recente livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024). Quando vemos a direita radical tomar conta, através de eleições, da política internacional é confrangedor ver estes puristas da convicção e de um wokismo de importação insistirem em dar-lhes argumentos para comodamente irem conquistando consensos junto dos eleitores.
7.
O PS faz, pois, mal em alinhar nesta iniciativa pelo que ela facialmente parece representar. E nem sequer precisa de demonstrar aquilo que sempre foi: um defensor da liberdade e da democracia contra os que sempre a elas se opuseram. E já demonstrou que sabe como gerir a sua intervenção no plano da segurança sem desvirtuar a doutrina que sempre o inspirou. E por isso também não precisa de fazer da polícia democrática o seu inimigo, qual perigosa ameaça às liberdades, aos direitos e às garantias. O PS já foi governo muitas vezes e sabe bem que a polícia de um Estado democrático tem um efectivo papel a desempenhar justamente para garantir as liberdades, os direitos e a segurança daqueles que hoje a estão a combater, como se fosse ela a inimiga central de uma sã convivência democrática. Só que não é, mesmo quando possa cometer erros. Erros que, de qualquer modo, nunca será deste modo que se corrigem. Mas se o combate é contra este governo e as suas políticas para a segurança, então, o mote desta manifestação está errado. O combate deve ser político, com manifestações, no parlamento e na opinião pública e publicada… mas não contra a polícia. Se algo correr muito mal, o governo dispõe de poderes para o corrigir. E deve ser instado a fazê-lo. De resto, quem tutela a PSP é o próprio governo, através da Ministra da Administração Interna, que foi, ela própria, Inspectora-Geral, ou seja, garante de que a actividade da PSP segue as melhores práticas no exercício das suas competências. Bem se poderia lembrar-lhe essa sua antiga condição.
8.
A carta que umas tantas personalidades de esquerda (muitas do PS, incluída a sua líder parlamentar) escreveram ao PM é, por isso, legítima e é um modo de intervenção política que, todavia, não deveria ser associada a esta manifestação e aos termos em que ocorre, tornando-se uma espécie de sua moldura conceptual, porque, se o for, então, fica criada uma “frente popular” onde só já faltará um Mélenchon para a teleguiar rumo à utopia de uma sociedade sem polícia. Mas sabemos muito bem onde levaram estas utopias. JAS@01-2025

NOVOS FRAGMENTOS (VIII)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos
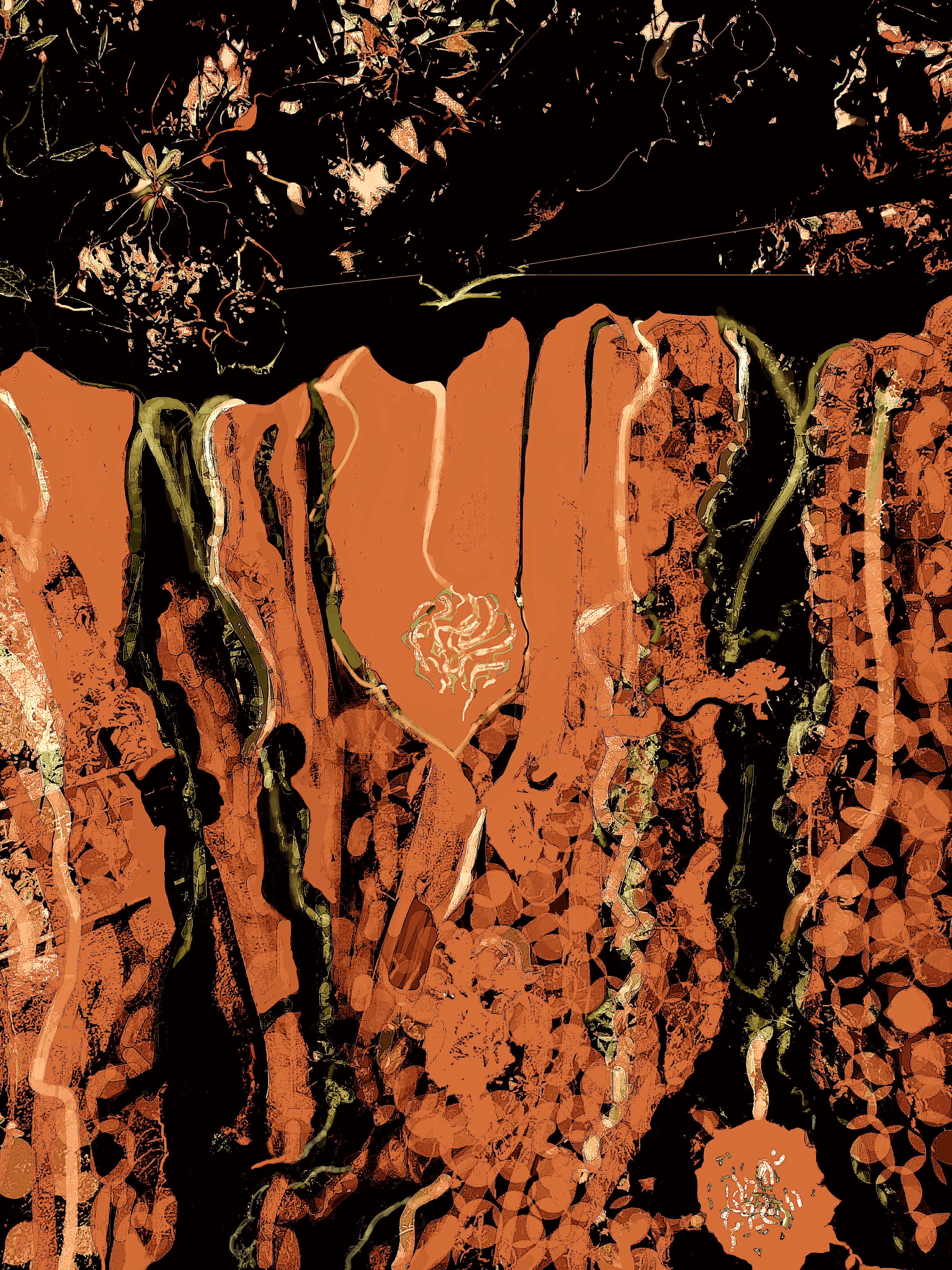
"Cascata". JAS 2025
EXACTIDÃO
A QUESTÃO de alinhar (esta é mesmo a palavra) a poesia com a geometria, com a exactidão da geometria, é interessante. A exactidão é uma das seis categorias que Italo Calvino, nos anos oitenta do século passado, nas Lezioni Americane (Milano, Garzanti, 1988), propôs para a arte deste milénio em que já nos encontramos. E verifica-se que o terreno comum é precisamente o das linhas. É com elas que se formam as letras, as palavras, os versos, as estrofes e, finalmente, os poemas. Como uma partitura, uma notação semântica. Mas elas formam também as figuras geométricas: rectas, triângulos, quadrados, rectângulos, círculos. O chão é, pois, comum. A teia que suporta a formação de sentido e de som. Sinestesia matricial que facilita o alinhamento entre a poesia e a geometria. E daqui nasceu um poema (“Linhas”) e a procura, nele, da exactidão que encontramos num círculo ou num triângulo equilátero. Claro, sabendo bem que, como na vida, também há linhas tortas e sincopadas. Mas a beleza reside na evolução do que é imperfeito, logo, humano, para essa perfeição que só o espírito (ajudado por Apolo) nos pode dar. A vida, que é imperfeita, aspira à perfeição. É neste movimento ascensional que se inscreve a poesia, sem solução de continuidade. E pode gerar um autêntico poder de resgate pela força sensitiva ou sensorial que acompanha, na poesia, sobretudo através da sua componente melódica, a conversão estética. Rigor geométrico com força sensorial. No poema fala-se de milagre. E talvez seja. O poder da palavra, cifrada, mas exacta e musical. Uma espécie de confissão poética do fascinante pecado de viver. Quando se lhe acrescenta, na dinâmica sinestésica, linhas e figuras geométricas em perfeita simetria o resultado é verdadeiramente superior.
O VAGO E A EXACTIDÃO
Sobre a exactidão, cito, então, o que diz Italo Calvino, nas “Lezioni Americane”, sobre o poeta Paul Valéry, precisamente a propósito dela (a “esattezza”):
“Paul Valéry è la personalità del nostro secolo che meglio ha definito la poesia come una tensione verso l’esattezza” (1988: 66).
Ou, então, referindo-se a Giacomo Leopardi:
“il poeta del vago può essere solo il poeta della precisione” (1988: 61).
É preciso muita precisão no uso das palavras para aludir a estados de alma que são vagos e imprecisos. A sensação de uma doce melancolia, por exemplo. Depois, o geometrismo que evolui por dentro das letras a caminho das palavras, dos versos, das estrofes para que a produção de sentido seja universalmente partilhável. Desenhar rigorosamente estados de alma com letras que são compostas de linhas e de figuras geométricas. Depois, a exactidão melódica através de uma espécie de notação poética, que é feita com palavras – “melólogos”. Na verdade, a poesia exige um enorme rigor de composição. Às vezes pode parecer um amontoado de palavras, mas é exactamente o oposto. A poesia, não os exercícios de mera libertinagem linguística, de pura logorreia ou de exibicionismo linguístico e narcísico. Sentir é uma coisa, convertê-lo esteticamente é outra. Para a conversão é necessário sentir. E rigor, precisão. Trata-se de uma passagem da alma, que é vaga e imprecisa, ao espírito, que aspira à perfeição e à precisão. Alma e espírito não são a mesma coisa. E é por isso mesmo que até têm dois deuses inspiradores diferentes (Diónysos e Apólon) e que Nietzsche distingue com rigor entre “espírito dionisíaco” e “espírito apolíneo”. Referindo-se a Valéry, Calvino fala de “combater o sofrimento físico através de um exercício de abstracção geométrica”. É disto que o poema “Linhas” também fala.
POESIA E MELODIA
Um amigo que comentava um poema, citou uma interessante frase de Ludwig van Beethoven. Ela tinha sido dita por ele a Bettina Brentano, para que fosse referida a Goethe e tem a ver com as relações entre ambos os génios da poesia e da música. Ela refere-a numa carta a Goethe, de 28 de Maio de 1810. Beethoven queria compor sobre poesia de Goethe: “As poesias de Goethe têm sempre um grande poder sobre mim, não só pelo seu conteúdo, mas também pelo ritmo. Sinto-me induzido e estimulado a compor a partir desta língua que, como por obra de espíritos, se eleva a uma ordem superior e contém já em si o segredo da harmonia” (Braun, F. – a cura di -, Incontri con Beethoven, Milano, Il Saggiattore, 2020, pág. 34). Eles encontraram-se em Teplitz. Na carta, Bettina diz textualmente o que lhe foi referido por Beethoven:
“Sim, a música é precisamente a mediação entre a vida do espírito e a dos sentidos. Gostaria de discorrer com Goethe sobre isto” (...) “a melodia é a vida sensível da poesia. E o conteúdo espiritual de uma composição poética não se torna, talvez, sentimento palpável através da melodia?” (2020: 34-35).
Interessante, a relação da música com a poesia e com os sentidos, através do que dela diz Beethoven. A música confere poder sensorial à poesia, a melodia converte o conteúdo espiritual em sentimento palpável. Atinge os sentidos e gera efeitos físicos, corpóreos, em quem ouve. Ou a música (de Beethoven) como “uma nova base sensível para a vida do espírito” (2020: 32). Na visão de Beethoven, a música parece entrelaçar-se com a poesia, num efeito sinestésico, exactamente como acontece com a pintura, dando-lhe fisicidade melódica tal como a pintura o faz com a cor e a representação, tornando-se próteses para que outros sentidos a captem como totalidade expressiva. Sem dúvida, uma cooperação que dá poder sensorial ou sensitivo à poesia.
A SEMÂNTICA E A MELODIA
Pois bem, é isto mesmo que eu penso e tento concretizar na minha poesia, sem dúvida, mas não acoplando, do exterior, a música, antes incorporando-a no interior do próprio poema. Algo um pouco diferente do que acontece com a pintura, que uso sobretudo no interior de um processo sinestésico, embora também procure incorporar a cor no interior do poema, usando as palavras. Com a música é diferente pois ela percorre todo o poema como um manto acústico interno que a faz vibrar, a electriza. É a melodia inscrita num poema que lhe confere o poder de atingir directa e autonomamente a sensibilidade de quem o lê, o sente e o ouve. O poder sensitivo da poesia deve-se sobretudo à incorporação da melodia (e do ritmo) no seu interior. Afinal, o que dizia Aristóteles, na sua Poética?
“Há algumas artes que se servem de todos os meios mencionados, a saber, o ritmo, a melodia e o metro, tal como a poesia dos ditirambos e nomos” (Lisboa, FCG, 2018: 39).
Não é, pois, coisa recente esta ideia de incorporar a musica no interior da poesia.
UMA OPÇÃO INCONTORNÁVEL
No meu exercício poético, a componente melódica é sempre trabalhada especialmente na fase final do poema e se uma palavra, semanticamente perfeita, não é melodicamente tão adequada como outra que seja, todavia, semanticamente menos pregnante, adopto sem hesitação esta última devido precisamente à exigência melódica, que para mim é incontornável. A força de um poema deve-se em grande parte à sua melodia e ao seu ritmo sonoro, à sua toada. Depois, se a poesia é levitação, porque retira peso à existência, é leveza, como a dança, com os seus momentos “ballon”, a verdade é que a melodia lhe confere corporeidade, fisicidade, pois fala directamente à sensibilidade, aos sentidos de quem a lê, a sente e a ouve. Melodia que percorre todo o poema, do primeiro ao último verso. Na minha concepção, a relação entre a poesia e a melodia dá-se sobretudo internamente, o que confere grande autonomia e poder sensorial directo à poesia. Falando com um amigo sobre este assunto, ele dizia-me que sem melodia a poesia fica diminuída ou até desaparece. Concordei. Numa palavra, a poesia não é somente semântica, ela é, e talvez no mesmo grau, também melodia.
HIPPOCRENE
Pode ser “Voz em Silêncio” o título que um amigo me propôs para uma pintura ilustrativa de um poema a que dera o título “S/Título”. E até poderia ser “Grito em Silêncio” se só tomássemos em consideração a pintura e a criança que emerge do ventre de sua mãe. Na verdade, o que eu pretendi com o poema “As Fontes de Tivoli” foi fazer a passagem das Cem Fontes de Tivoli para a água da Fonte da Poesia, a de Hippocrene. O sujeito poético, Gianni della Rovere, saía de Roma e subia até Tivoli para dar voz ao seu desejo de libertação do amor, pela magia da água pura, de que ficara cativo. Sim, lá, na Villa D’Este, há uma escultura de Pégaso que, naturalmente, alude a Hippocrene, à sua água, às musas e à poesia. E ao desígnio dos deuses. A paixão de Gianni por Paola Valenzi exigia cura e talvez na água das Cem Fontes estivesse, por analogia com a de Hippocrene, a solução. Conjugadas, a primeira estrofe e a última são a chave do poema “As Fontes de Tivoli”. Em Roma, ficara a perdição. De resto, o Tibre, a que o poema também alude, é objecto de algumas canções dramáticas. “Er Barcarolo”, por exemplo, com o fim trágico de Ninetta… por amor. Uma vez mais, a poesia, associada à água pura das fontes e ao desígnio dos deuses, como resgate.
A fonte original é, pois, a de Hippocrene, a da inspiração poética, no Monte Hélicon, na Grécia. A inquietação do poeta leva-o até lá, onde vivem as musas e onde jorra água pura. Água pura que pode transformar a tristeza em doce melancolia. Claro, desde que seja água desta Fonte. Os poetas vão sempre bebê-la lá, no lugar onde habitam as musas. Para isso, devem levitar com a fantasia e voar até lá com a imaginação. Mas, para que a poesia aconteça, é preciso que se conjuguem algumas variáveis num súbito e preciso instante: Eksaíphnes.
A FONTE, O POETA E AS MUSAS
Viajar com os poetas em torno das raízes da sua inspiração pode ajudar a compreendê-los melhor. Durante anos, todos os dias, à hora de jantar, eu passava em frente da Fontana di Trevi, um privilégio, mas foram as fontes de Tivoli que mais me inspiraram. Claro, fontes, em Roma, há tantas quanto igrejas. Centenas. E há as que definem Roma. A “Fontana dei Quattro Fiumi”, do Bernini, na Piazza Navona, a sala de visitas de Roma, por exemplo. Aqui vivi dez anos, mesmo ali ao lado. Mas a água, ali, em Tivoli, é diferente e convoca-nos a poetar, sobretudo se levarmos connosco, na subida ao monte, a dor original do poeta, o desencontro, o fracasso amoroso, o silêncio, a ausência. Lá, nas Cem Fontes, acederemos à origem da poesia, porque esse é o seu ambiente de culto, desde as origens da Grécia antiga. Está lá a água, abundante e pura, e a escultura de Pégaso que nos lembra a origem de tudo: Hippocrene, a fonte que inspira os poetas e dá de beber às musas. Um poeta procura resolver, com a poesia, as dores de uma sensibilidade extrema, como é a sua, afinada que foi pela dor que o estimulou. E é junto da água abençoada pelos deuses e pelas musas que ele se realiza. Aqui, nestes jardins, vivem muitas musas. E é nos jardins que, por vontade dos deuses, acontece a poesia, como, creio, se diz no “Symposion” de Platão. De resto, sempre me inspirei na mitologia grega. Ela diz tudo. E ajuda a evoluir poeticamente até chegar à fonte mágica da poesia, que faz milagres na sensibilidade de quem nela bebe. E os poetas bebem nela. E povoam, desde sempre, a mitologia. Neste poema, “As Fontes de Tivoli”, evoco, muito superficialmente, uma história de amor contada no meu romance “Via dei Portoghesi”. Roma, Tivoli e a Grécia antiga, com a sua mitologia entrelaçada.
A CAMINHO DE TIVOLI
Sim, claro, compreendo que na subida de Roma para Tivoli alguém acabe por ficar ali, já perto de Tivoli, na Villa Adriana. A grande Yourcenar revigorou, com esse extraordinário romance, “Memórias de Adriano”, o interesse desta famosa Villa do Imperador Adriano. Mas Villa D’Este, com as suas Cem Fontes, é fascinante, não só pela beleza da avenida das fontes, mas também pelas obras de engenharia que lhe estiveram na base. Eu subi várias vezes de bicicleta (de corrida) de Roma até Tivoli. E sempre me fascinaram aquelas fontes. E lá está o Pégaso. E, por isso, a mitologia grega, onde gosto de me inspirar. Não sei, mas talvez seja devido à minha velha paixão pelo grego clássico, que, de certo modo, condicionou a minha vida profissional (comecei como monitor de filosofia antiga, ainda estudante devido ao domínio do grego). Aqui, neste poema um pouco introspectivo, interessou-me a ligação a Roma e à mitologia grega sobre a poesia, através das fontes de Tivoli e da presença alusiva de uma escultura de Pégaso que faz a ligação com a Fonte de Hippocrene, a fonte dos poetas e das musas. Depois, a alusão à história de amor entre Gianni e Paola no romance “Via dei Portoghesi”. Uma autêntica teia de relações num poema sobre a poesia. JAS@01-01-2025
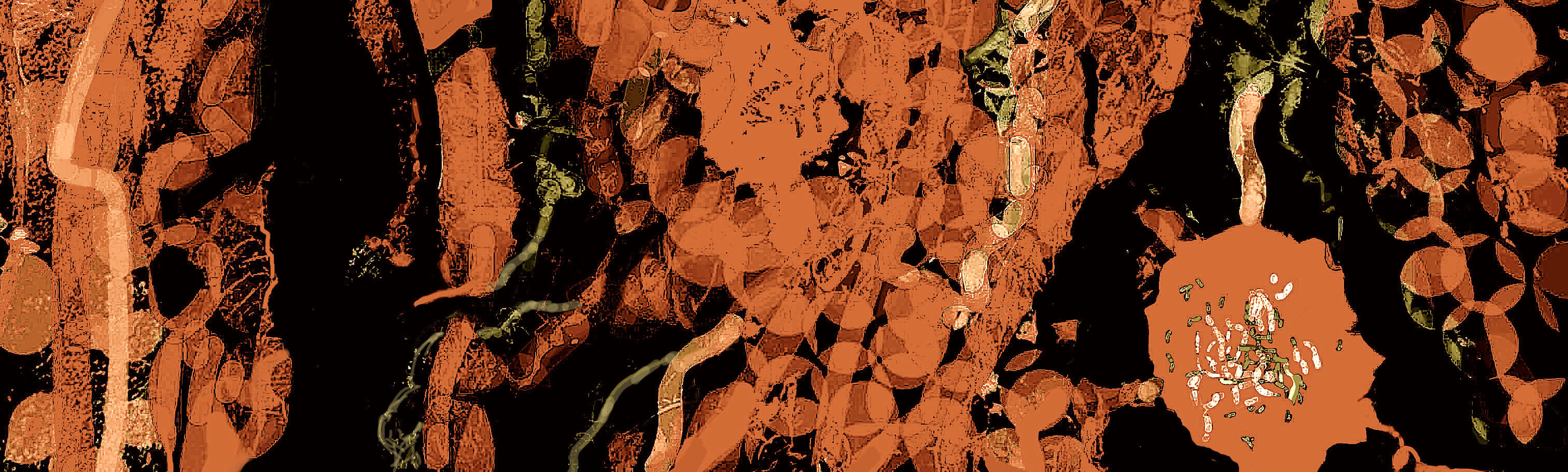
NOVOS FRAGMENTOS (VII)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos
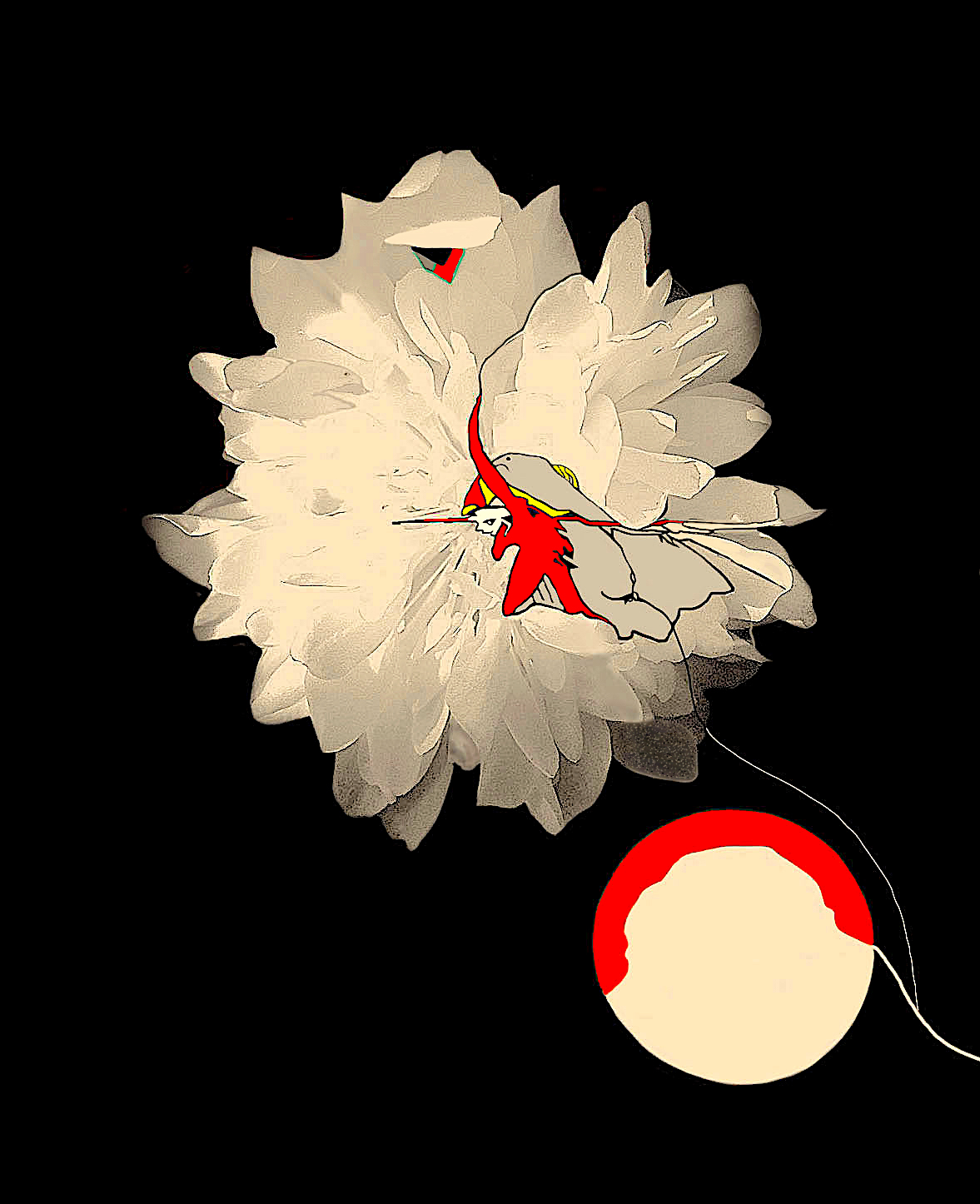
“Magia”. JAS 2022, 77×90, em papel de algodão, 310gr, e verniz Hahnemuehle, Arglass AR70 em mold. de madeira (Colecção privada).
ABALOS TELÚRICOS
Abalos telúricos. O poder da paixão – treme a terra, treme o corpo, estremece o poeta. Assim nasce a poesia: abalos telúricos. O estremecimento original, potente como aquele clarão que quase cega e incendeia, permanece inscrito na alma. E as réplicas não param. E a poesia também não.
"QUE ME IMPORTA, SEI CANTAR!"
Ah, esta mulher, com este perfil tão belo, mas austero, faz mesmo tremer o chão do poeta. Ao vê-la, o chão foge-lhe dos pés e ele estremece. Este perfil (o de “Perfil de Mulher”) acompanha-o sempre (perguntei-lhe e, excepcionalmente, ele confirmou). Não me disse, confesso, se foi ela própria a causa do estremecimento original. Isso não disse. Mas até podia ter sido. Se é verdade – e parece ser – que é na ausência que a posse se dá pela arte tudo fica explicado. Junta-se um poema a um perfil e a tristeza pode mesmo dar lugar à doce melancolia, num melódico poema. A vida também tem destas coisas: a uma perda, o poeta responde com a posse da alma através da arte. Ele aguenta o embate da única forma que pode: cantando (e animando o canto com a pintura). Dizia o Liolà (personagem central da “commedia campestre in tre atti”, Liolà, considerada por Gramsci a “obra-prima” de Pirandello,) para o tio Simone:
“Io, questa notte, ho dormito al sereno;/ Solo le stelle m’han fatto riparo; (…)/ Angustie, fame, sete, crepacuore?/ Non m’importa di nulla: so cantare!”.
Ecco. Sei cantar, dirá. É assim que o poeta se salva do silêncio da musa e acalma o espirito e a alma. E assim impede que o edifício possa ruir pela violência do abalo telúrico. O poeta como arquitecto de edifícios contra os tremores… de alma. Crepacuore? Que me importa! Felizmente, sei cantar e sei pintar. Por isso, digo (em nome do poeta): “sofrer por amor é poético e sadio”.
OLHAR
“Tensão erótica de um desejo insatisfeito” em forma de poema, como não poderia deixar de ser. E até poderia acrescentar: tensão erótica perfeita. Olhar a musa da janela sem lhe poder tocar. Mas o simples olhar tem força física e, assim, ele capta-a no poema, convertendo o olhar em palavras. Não importa se é um olhar interior ou um olhar exterior. O que tem de ser é um olhar da alma. Dádiva do céu. Eu penso que o amor, quando é autêntico, é uma dádiva (do céu) que nem todos recebem. Predestinação? Não sei. Ele permite ver coisas no real que outros olhares não captam. E nem falo do seu poder criativo. Só de a ver passar ele fica enredado num círculo de fios e de fogo que o aprisionam e do qual só a poesia o pode libertar. Eu acho que a poesia nasce do estremecimento: treme a terra para ele e treme ele perante ela. Eu acho que é por isso que o poeta é mesmo um arquitecto que constrói casas preparadas para os terramotos da alma, para os abalos telúricos. As palavras são as estacas que resistem aos abalos existenciais. Ele não desiste. Um poeta, de resto, nunca desiste por maior que seja a dor. Melhor, quanto maior for a dor mais ele é convidado a resistir. Ou seja, a poetar.
O “CHIP” DO AFECTO
Uma dádiva do céu é ter o “chip” do sentimento e usá-lo. Não há poetas sem este “chip”. Mas há quem não o possua. Às vezes – aqui está – a carga eléctrica é tão forte que o poeta estremece. E tem de poetar para aliviar a tensão. Ele tem uma sensibilidade muito apurada. A sua força, mas também a sua fraqueza.
SÓ PERDEMOS O QUE NUNCA TIVEMOS
Ritualizar e densificar os diálogos em torno da poesia e do que ela representa é tarefa gratificante para quem gosta de poesia. O poeta vai construindo o poema ao longo da semana para o oferecer à musa e aos amigos, ao domingo, muitas vezes com pinturas executadas com esse fim, outras, já existentes, mas que funcionam como sinestésica ilustração.
O José Régio, sobre perder o que nunca se teve, foi-me lembrado por um Amigo que comentava um poema meu. Sim, mas também o Bernardo Soares falava de intensa saudade do que nunca aconteceu. Ter ou não ter, esta é a questão, que se segue à de ser ou não ser do grande Shakespeare. O Régio falava de amigos. Tê-los, perdê-los?
“Nós julgamos perder Mal se nos abre a mão;/ Mal a fechamos que julgamos ter./ Somos bem débil gente! Dificilmente / Podemos encarar a nossa solidão,/ Ou ver que só perdemos O que jamais tivemos.”
Os amigos não se têm, logo, não se perdem. Eles são, não se possuem, não se têm e, por isso, a perda é outra coisa. Perdê-los porque partiram, por exemplo. A perda de amigos não corresponde à perda de coisas. Será isso? Talvez, porque os amigos estão cá dentro. Verdadeiramente nunca se perdem. Há mudança de estado, isso pode haver. Os amigos são. É como amar. Pertence à esfera do ser, não do ter. Ou à esfera do acontecer. Acontece por obra do destino ou por alinhamento dos astros. A posse não é coisa de amizade nem de amor. Ela só é possível pela arte. “Só perdemos o que jamais tivemos”. Partir é outra coisa. Partir é deixar de caminhar juntos, de um modo ou de outro. Perde-se, com a partida. Mas também é verdade que é a partida que move o poeta a conservar em si aquele que partiu, cantando-o e elevando-o ao sublime. Só assim se pode possuir. Mas há muitas formas de partir. Por exemplo, partir antes de chegarmos, juntos, a um determinado ponto do percurso que iniciámos. Caminhada interrompida. “Só perdemos o que jamais tivemos”. Outra versão: saudades do que não aconteceu, nem podia acontecer. Mas, muitas vezes, podia ter acontecido. E muitas vezes desejávamos intensamente que acontecesse. Chegar juntos a uma meta, por exemplo. E festejar a chegada. Por vezes, é a própria intensidade do desejo que nos inibe e nos impede de chegar juntos. Um estremecimento inibidor. E assim fica apenas como desejo. E é por isso que dói. Os desejos intensos não concretizados doem muito. E por isso há que encontrar uma cura para essa dor: a poesia. Saudade do que ficou por viver. Um vazio pleno e, por isso, doloroso. A saudade é como uma moinha que fica ali a moer sem poder ser removida, ou melhor, que nem sequer se deseja remover na esperança de que aconteça um milagre que a transforme em luz que ilumine o passado em direcção ao futuro. Os poetas não a removem porque ela, tal como a melancolia, inspira e ajuda a reviver de forma luminosa esse passado não vivido e sofrido por ausência. É por isso que a poesia faz bem, é remédio para o amor, como diria o Ovídio. É a única forma possível de posse. E ilumina o caminho do futuro, acende a tocha do tempo.
GOSTO AMARGO DE ACERBO ESPINHO
“Saudade! Gosto amargo de infelizes. / Delicioso pungir de acerbo espinho”. Como gosto desta forma de a traduzir, a saudade. Gosto amargo, sim. E acerbo espinho. Coisa de infelizes. Pois foi isso que o poeta sentiu quando se cruzou com ela num dia cinzento, característica própria da saudade, que é sempre um pouco cinzenta e amarga. Regressar ao passado e à interrupção da caminhada que haveria de conduzir à meta e à festa de júbilo que se seguiria. Regressa, pois, poderosa, a saudade. E logo se tem de a cantar para a afagar, a acarinhar e dulcificar o seu gosto amargo. Vem-me à mente a imagem do chocolate negro (é o chocolate de que mais gosto), que é um pouco amargo, mas não é de acerbo espinho, porque já pertence ao universo do gosto, como a poesia. “Dor que tem prazeres”. Ele é mais rijo do que os outros. Resiste melhor do que os outros, talvez também porque é amargo. Como a saudade no tempo, que é seu cúmplice. A saudade como o chocolate negro? Talvez só para os poetas, que vivem em ambiente sempre amargo e prisioneiros do tempo, mas sempre com sabor agridoce, acre e doce. O tempo é como uma estufa: ajuda a maturar os sentimentos. O tempo é cúmplice dos sentimentos que, no passado, não chegaram a maturar suficientemente. Depois, devolve-os ao futuro e ao poeta, que vagueia por aí. Neste vaguear acaba sempre por se cruzar com eles. Estremece e dá-se o início do processo criativo. É assim. Um qualquer sinal é suficiente para o pôr em estado de estremecimento visto que ele tem a sensibilidade à flor da pele, melhor, da alma.
A MUSA
“Põe-a com dono. Só te faz sofrer”, poeta! Ah, mas os poetas não controlam as musas. São elas que os encantam, os põem a cantar. Elas são como as sereias e não há quem possa tapar os ouvidos aos navegadores de palavras para que não fiquem enfeitiçados pelo seu (en)canto. Os deuses são seus cúmplices e os poetas, mortais, são seus súbditos. Nada a fazer. Sofrer: mas haveria poesia sem sofrimento, sem dor? E a dor é manipulável? Há remédios para esta dor, esta “maladie”, a não ser o poético? Bem insisto em ler o Ovídio, mas não funciona. Se calhar nem o poeta quer sair deste estado, dizendo ao passarinho “some daqui!”, já não há poeta nem poesia porque sou feliz (o poeta era o Vinicius). Não é possível pôr as musas com dono, simplesmente porque elas não são capturáveis. Bem sei que é uma “frase idiomática”, mas o poeta nem sequer consegue resistir-lhes. Aliás, quando esvoaçam para outros lugares, o poeta sofre e fica com dolorosos ciúmes. Não, ele nunca quererá “pô-la com dono”. Não pode nem quer. Elas são leves e rápidas como as fadas e só obedecem à sua própria fantasia. Estão sempre alinhadas com os deuses e com o vento que passa. E voltam a seduzir sempre que querem. JAS@12-2024.

NOVOS FRAGMENTOS (VI)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS 2024
LUZ
UM CERTO POEMA, não importa qual, poderia chamar-se “Sonho”. Chamei-lhe “Luz” porque, afinal, no sonho sempre se acende uma luz (ele acontece sempre no escuro do sono). Ou o sonho é ele próprio essa luz. Talvez. O sonho é uma luz no escuro do sono. Qualquer que ele seja. É uma brecha que se abre. Sonho também está por poesia, que é sonho de olhos abertos, de palavras cifradas e de melodia que embala – uma luz que nos guia no caminho luminoso dos afectos. Da saudade ou da melancolia. Ou do amor. E o jardim é pista de onde o poeta descola em direcção ao paraíso, onde a luz é tão forte que há sempre o risco de encandeamento. E, neste caso, de queda. Os olhos do poeta são faróis cuja luz se reflecte no espelho mágico da poesia e, por reflexo, pode mesmo encandear e provocar uma queda no real. Sim, uma queda no real. Mas a queda acabará sempre por ser no jardim, de onde partiu, onde uma densa nuvem aromática e acre de jasmim atenuará o seu impacto. Das libações se parte, às libações se regressa. Vias oníricas para o desejo. Poéticas, porque a poesia é sonho. Sem remorsos. O poeta sonha e não é culpado disso. Acontece-lhe sonhar. Felizardo, mesmo quando o sonho é parecido com um pesadelo. Parecido, digo, porque o sonho poético acrescenta beleza e leveza ao que pode parecer pesadelo pela intensidade da dor que lhe esteve (está) na origem. O poeta desabafa esteticamente e não lhe pode ser imputada culpa por dizer o que talvez não devesse. Mesmo em forma cifrada. Acontece-lhe. E ainda bem, dirão alguns, os que se revêem no espelho mágico da poesia.
MUSA
Também a musa é uma luz que se acende à medida do desejo do poeta. Reacende-se na fantasia. Quando ele a procura porque entra em nostalgia ou em sofrida melancolia. Começa o canto e ela vai-se acendendo lentamente até atingir luminosidade máxima. A musa. No fim do poema. E há um ambiente especial onde tudo acontece mais naturalmente. O do jardim. No Symposion do Platão um dos intervenientes dizia que o Eros, que concede o dom da poesia, só se instala onde houver flores e perfumes. E é para lá que os poetas tendem a ir, porque é lá que acontecem as libações com os perfumes mais intensos, abrindo caminho à inspiração. Faz pensar, a poesia? Sim, mas ela realiza-se melhor se se fizer sentir na alma ou até no corpo.
ZÉFIRO
“Eu acho que Zéfiro passou por ti” – disse eu a um Amigo que comentava um poema meu – “como leve brisa que deu asas ao desejo em forma de poético comentário”. Pelo menos, digo eu, levou-o lá para dentro do poema e pô-lo a navegar nele, como habitualmente lhe acontece. Deixar-se ir ao sabor das ondas e da maresia poética. Sem Zéfiro não sei se isso poderia acontecer. Claro, as palavras têm vida própria e muitas vezes vão por ali sem pedir licença ao condutor que as pôs a caminho. Mas a verdade é que a via já está traçada e elas bailam nas rectas e nas curvas do caminho ou nas ondas de mar encrespado. Sem se desviarem. Por isso, qual perdão, qual quê! – respondi-lhe. O que, mais uma vez, ele fez foi uma viagem por dentro do poema, só que, desta vez, caminhando, ia, poeticamente, dizendo que não, que não estava a caminhar como gostaria de o fazer, que o Zéfiro propulsor não o impulsionava com suficiente energia. E, assim, caminhando com palavras pelos sendeiros abertos pelo poema, ia timidamente invocando a divindade para que soprasse com um pouco mais de energia. “Mas” – disse-lhe eu – “sabes por que razão ela não o faz? Para te obrigar a caminhar lentamente ao sabor da brisa poética que já te sopra na alma, em partilha com o poeta que te chamou ao habitual ritual”. Cumplicidade benéfica. Só isso. Entre o poema e o comentário sopra a brisa da inspiração, que faz feliz o poeta e, espero, o comentador.
A DIALÉCTICA DO SONHO
Oh, mas essa, a dialéctica do sonho, é própria da poesia – exclamei, quando alguém me falou dela. O poeta, depois de declarar o seu fascínio pela musa, termina dizendo que lhe basta o sonho. Pois. Mas o que ele está a dizer é que ela lhe falta e que só por isso é que a sonha. Se a tivesse não a sonharia? Talvez. Ao dizer que o sonho lhe basta, o que está a dizer é que não lhe basta. E que é por isso que tem de continuar a cantá-la (a sonhá-la) para que ela o ouça. Essa é que é essa. Para que ela o ouça. É para isso que ele canta para o vento que passa. Aqui ele não é como o Pessoa, que só sabe amar em poesia, apesar dos beijos apaixonados que, pelo menos uma vez, deu à Ofélia num vão de escada. A verdade é que o poeta tem sempre uma referência. E, se não a tiver, inventa-a. De carne e osso. Há sempre uma Ofélia, mesmo que não haja um vão de escada. Bem sei que ele, o poeta, compõe a poesia partindo do princípio de que a musa o está a ver e a ouvir. É por isso que a sedução faz parte do seu poetar. E só por isso é que ele pode dizer que cantá-la lhe basta. Pudera! Assim é fácil. Digo eu (mas não é). Porque é uma ficção, por mais poder performativo que tenha. E tem (e atenua a dor). Mas a dor continua lá, obrigando-o a continuar poeta e a compor sem parar.
DESEJO
A linguagem do sonho é a linguagem própria do poeta. Para ele, “la vida es sueño” e “el sueño vida es”. Calderón de la Barca. E o sonho comanda a vida, como dizia o nosso Gedeão na “Pedra Filosofal”. E a vida é um longo desejo que se vai cumprindo à medida da ambição de cada um. Do sonho de cada um. Cumpre-se mesmo quando o desejo não se cumpre. A negação também faz parte da vida. E o modo como se reage a ela, à vida, determina o próprio percurso vital. É nesta encruzilhada que se situa o caminhar do poeta.
ESPELHO MÁGICO
Na verdade, o poema funciona como um espelho onde é possível encontrar os nossos próprios sentimentos. Um espelho mágico. Quanto mais isso acontecer maior valor tem um poema. Por isso, é verdade que o leitor pode sentir o poema de forma diferente da do próprio poeta. Quanto mais a construção de um poema lhe der forma de espelho mais possibilidades há de nele sentir o que vivemos ou sofremos. Um poema tenderá sempre a ir ao fundo do sentimento e assim poder ser sentido a partir de experiências diferentes. Mas terá de funcionar como um espelho que devolve a imagem já transfigurada. Um espelho mágico.
A PORTA
Na verdade, o jardim (o meu jardim) existe, mas o jardim poético, esse, é fruto da fantasia. A porta, essa, a da pintura (“Paraíso”), também existe, como acesso ao jardim encantado, não como acesso directo ao cintilante céu onde a fantasia do poeta navega. É sempre necessário descolar com a fantasia a partir do jardim. Digamos que aqui se aplica a natureza híbrida da poesia (como é a do Eros), entre os homens e os deuses, entre o finito e o infinito, entre o jardim terreno e o Éden. Neste sentido, essa porta é a entrada para este espaço intermédio, para esta pista de descolagem da fantasia.
ROUQUIDÃO DA ALMA
Rouquidão da alma, dizia, de si, uma Amiga que comentava um poema meu. É verdade que podemos ficar roucos, por exemplo, quando usamos em excesso as cordas vocais. Dado físico. E podemos ficar roucos de espírito – não de alma, que é diferente – quando usamos em excesso as cordas mentais? Há simetria? Sim, há, e por isso há que moderar o seu uso? No aspecto físico, temos de falar pouco e baixinho para não agredir as cordas vocais. No caso do espírito, mais do que de rouquidão, talvez se deva dizer cansaço, fadiga, havendo pois que moderar a actividade mental. Mas também há espíritos roucos. A rouquidão da alma é estrutural, embora haja quem nunca esteja rouco de alma, por escassez de sensibilidade. No caso da rouquidão do espírito o que é preciso é verbalizar menos, até porque a rouquidão do espírito torna baça e de difícil compreensão a própria expressão. Os que são roucos de espírito são sempre um pouco confusos, sentimentalmente turvos e escuros de alma. O problema é que se não verbalizarmos, não dermos forma às “intensities”, podemos “explodir”, como uma panela de pressão. É por isso que a “rouquidão” da alma é mais perigosa. Os poetas estão sempre em risco e por isso estão sempre em modo poético, não vá a pressão explodir. A poesia de certo modo nasce de uma permanente rouquidão de alma. E é por isso que a sua linguagem é tão minimalista, suave e delicada. Para conter a rouquidão e não “arranhar” as almas, a do poeta e a dos outros.
LIBAÇÕES
Reflecti sobre se uma pintura que ilustrava um poema devia ter título ou não ter. Optei por não ter, porque o título seria o próprio título do poema. Redundância. Mas, pensando no que me disse um Amigo, poderia encontrar uma solução de compromisso, “Rosto para um Poema”, que era “Poema para um Rosto”. E assim decidi mesmo alterar a publicação. Já sobre o nariz do rosto que pintei, ele não é objecto das palavras do poeta, embora o olfacto seja central para a pulsão poética, para as libações aromáticas. Mas está lá. A embriaguez de perfumes do jardim (por exemplo, o do jasmim) é decisiva no seu poetar e ela acontece sensorialmente através do olfacto. Que é, neste caso, tão importante como a boca o é para o beijo, a “poesia dos sentidos”. O poeta, todavia, sente-o como esteticamente pregnante e motivador. Trata-se de libações aromáticas.
Mas ainda há uma outra razão para me ter decidido por não titular a ilustração, nesta “aguarela de palavras”: a sinestesia é intensa e, por isso, deixar a titulação confiada somente ao poema pareceu-me adequado. Mas a solução motivada pela observação pareceu-me que preservaria ou aumentaria mesmo essa intensidade sinestésica daquela “aguarela de palavras”. Por isso, decidi-me pelo título. Não é coisa de somenos, porque do que se trata é da dialéctica da sinestesia.
ROSTO
Comentando uma pintura (“Rosto para um Poema”) que ilustrava o poema (“Poema para um Rosto”), um Amigo dizia-me que havia ali algumas “parecenças”, como se diz entre nós, com a Amália. “Mas não é ela, a Amália”, respondi-lhe. Essa senhora que também dizia que o canto lhe acontecia. Não é. Aliás, no fado, eu só gosto de alguns poemas cantados e de algumas vozes extraordinárias. Como a dela. Este rosto, disse, é o que eu canto e procura dar forma à alma que seduz ou seduziu o poeta deste poema. O rosto é uma projecção do poema e vice-versa. Há um referente? Não sei. O poema e o rosto valem por si. JAS@12-2024


GRAMSCI E OS INTELECTUAIS
Por João de Almeida Santos

“Gramsci”. JAS 2024
HOJE, dia 11.12, terei o gosto de participar, na Associação José Afonso, em Lisboa (Rua de S. Bento), na apresentação do livro de Antonio Gramsci, Os Intelectuais e a Organização da Cultura (Lisboa, Relógio d’Água, 2024), juntamente com a tradutora, Prof.ra Rita Ciotta Neves, a Prof.ra Raquel Varela e o Prof. Roberto della Santa. Trata-se de uma parte dos Cadernos do Cárcere, na edição originária da Einaudi em seis volumes, que ocorreu entre 1948 e 1951 (as Cartas do Cárcere são de 1947), organizada por Felice Platone e Palmiro Togliatti. Foi assim que começou a enorme expansão dos escritos de António Gramsci, com uma reorganização temática dos aparentemente fragmentários Cadernos do Cárcere (escritos entre 1929 e 1935). Digo aparentemente porque sob essa forma existe uma unidade e uma coerência conceptuais verdadeiramente impressionantes, como veremos. Esta forma de organização temática permitiu um mais fácil acesso e uma melhor divulgação da obra (veja Bobbio, 1990: 116-124). A edição crítica dos Cadernos, publicados por ordem cronológica, só aconteceria em 1975, pelo Instituto Gramsci e sob a responsabilidade de Valentino Gerratana (Gramsci, 1975).
Este livro que hoje apresentamos é o segundo livro de Gramsci que a Prof.ra Rita Ciotta Neves traduz para português, depois de, em 2012, ter traduzido (e com uma excelente introdução) uma selecção de escritos a que deu o título de Gramsci, a Cultura e os Subalternos (Gramsci, 2012), em cuja apresentação, de resto, também tive o gosto de participar. Aplaudo esta nova edição num país em que Gramsci pouco tem sido estudado, traduzido e divulgado, apesar da sua reconhecida importância no panorama mundial.
1.
Três dados, meramente quantitativos, bastariam para mostrar a importância do pensamento de Gramsci (são cerca de seis mil páginas) a nível mundial: 1) são mais de 20.000 os textos sobre o pensamento de Gramsci; 2) são 1544 os livros publicados sobre o político e pensador sardo; 3) são cerca de 40 as línguas em que o pensamento de Gramsci é tratado. Estes dados constam da Bibliografia Gramsciana, fundada por John Cammett, da responsabilidade da Fundação Instituto Gramsci, e agora ao cuidado, em particular, de Maria Luisa Righi. Mas uma visão mais completa da presença de Gramsci no mundo pode ser consultada no riquíssimo volume Gramsci nel Mondo, com textos de 27 importantes autores e sobre os países de língua inglesa e de língua alemã; sobre a África do Sul, Argentina, Brasil, China, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Japão, México; sobre Gramsci no mundo árabe; sobre Gramsci na cultura soviética; e outros temas relacionados com a presença de Gramsci no mundo. O Brasil consta, através de um artigo de Carlos Nelson Coutinho, mas Portugal não consta deste livro da FIG, com organização de Maria Luisa Righi (Righi, 1995).
2.
Mas os dados quantitativos, que são impressionantes, podem ser um sinal de que algo mais importante está em causa na obra de Gramsci. E está. E não falo da exemplaridade da sua curta vida (morreu com 46 anos na sequência de cerca de 10 anos na prisão, onde as suas já precárias e congénitas condições de saúde se agravaram até à morte), da disciplina interior, do rigor e da verticalidade moral de um homem que em condições verdadeiramente desastrosas consegue produzir uma obra imorredoura, “fuer ewig”, como ele dizia, os Cadernos do Cárcere, contrariando as palavras assassinas do Procurador Michele Isgrò que, durante o “processone” de 1928, afirmara que teriam de impedir que o cérebro de António Gramsci funcionasse durante vinte anos, o tempo de prisão a que foi efectivamente condenado. Ele ficou, sem dúvida, como um dos mais importantes membros do chamado marxismo ocidental, muito mais sofisticado e complexo do que o marxismo ortodoxo, oficial ou institucional, ao lado dos intelectuais da Escola de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse ou Habermas) do estruturalismo francês ou da italiana escola de Della Volpe; ele inspirou os Cultural Studies, de Stuart Hall; a esquerda latino-americana tem nele um dos mais importantes e divulgados inspiradores; e até a direita o estuda com o objectivo de tentar consolidar uma hegemonia conservadora nas democracias representativas; uma jornalista do New York Times, Flora Lewis, atribuiu-lhe, em 1989, a introdução do conceito de sociedade civil na política moderna; no mesmo ano, Michael Novak, um ex-embaixador e membro do conservador American Enterprise Institut, escrevia um artigo na revista Forbs com o título “The gramscists are coming” e até o ditador Pinochet afirmaria, em 1992, numa entrevista à Konsomolskaya Pravda que “a doutrina do comunista Antonio Gramsci é o marxismo com fato novo” e que ele “é perigoso porque penetra na consciência das pessoas e, em primeiro lugar, na dos intelectuais” (Santos, 2006: 98); foi notória a influência de Gramsci no pensamento de Louis Althusser (veja-se Lire le Capital e sobretudo o ensaio “Idéologie et appareils Idéologiques d’Etat”), ainda que mediado pelo seu estruturalismo e anti-historicismo e por uma clara distanciação crítica; a famosa obra de Edward Said, Orientalismo, foi escrita sob influência do pensamento de Gramsci, sendo Said confessadamente gramsciano e tendo a ideia central do livro certamente encontrado nos escritos de Gramsci sobre a questão meridional, nas suas relações com o norte industrializado, a sua própria matriz (1); como sublinha, e bem, a Prof.ra Rita Ciotta Neves no livro sobre Gramsci e os subalternos, também os estudos subalternos, designadamente de Ranajit Guha e de Gayatri Spivak, devem a sua inspiração a Gramsci (Neves, 2012: 29-38); isto para não falar da sua poderosa influência na cultura e na política italiana ou do que sobre dele disse, Peter Glotz, que foi director executivo federal do SPD, governante e deputado ao Bundestag durante dezoito anos: “este homem (…) era dotado de uma visão realista superior à da maior parte dos dirigentes políticos da esquerda de hoje”, tendo ainda formulado a proposta de passar, na esquerda alemã, do “Kautsky que está em nós” para um Gramsci mais moderno e eficaz, metabolizando politicamente conceitos tão originais como “moderno príncipe” (o partido), “intelectual orgânico”, “bloco histórico” ou “hegemonia”; estes dois últimos “conceitos capazes de assumir significado determinante nos conflitos sociais dos anos oitenta” e de “importância vital para a esquerda europeia” (Glotz; 1987: 24-25). E a lista poderia continuar, mas creio que para o meu objectivo isto chegue.
3.
Gramsci foi, sem dúvida, um marxista original e é necessário sublinhar que o seu pensamento, sobretudo o dos Cadernos, não se identifica com o marxismo oficial ou ortodoxo. Sabemos que este marxismo só viria a ser codificado em 1938, no n.º 2 do capítulo IV da História do Partido Comunista (Bolchevique) da URSS, dois anos depois da primeira e decisiva Constituição da URSS, de 1936: o DIAMAT e o ISTMAT, o materialismo dialéctico e o materialismo histórico (que se tornaria a bíblia marxista-leninista, divulgada em todo o mundo). Gramsci morrera um ano antes, a 27 de Abril de 1937, na clínica Quisisana, de Roma. Por isso, a sua posição sobre este marxismo pode definir-se não a partir deste texto oficial (atribuído a Stalin), mas, sim, a partir da sua crítica a uma obra muito mais sofisticada da autoria de um importante intelectual e político soviético, Nikolai Bukárine: Teoria do Materialismo Histórico. Ensaio popular de sociologia marxista, de 1921, e que também conheceria uma grande divulgação, inclusivamente em Portugal (Bucharin, 1977; e Santos, 1986: 40-61). A crítica de Gramsci é simples: trata-se de uma visão centrada num materialismo positivista e metafísico inspirado mais em Engels (na Dialéctica da Natureza e no Anti-Dühring) do que em Marx. Há uma passagem muito elucidativa a este respeito no Q., 4, § 11, 433: “Di questa espressione ‘materialismo storico’ si è dato il maggior peso al primo membro, mentre dovrebbe essere dato al secondo. Marx è essenzialmente uno ‘storicista’ “. Fica tudo dito. Daqui o historicismo de Gramsci, mas não o que do assunto pensa Althusser, em Lire le Capital (2). Uma análise aprofundada da crítica de Gramsci a Bukárine fi-la no meu livro O Princípio da Hegemonia em Gramsci (Santos, 1986: 40-61). Não se trata, todavia, de uma mera divergência filosófica, mas estrutural, centrada numa rede conceptual inovadora e muito diferente da de Bukárine. De resto, poderíamos recuar até 24 de Novembro de 1917 para vermos como Gramsci se apercebera de imediato das características da revolução russa e da sua diferença relativamente às teses de Marx, ao escrever um famoso artigo no “Avanti!” sobre a Revolução de Outubro: “La rivoluzione contro il ‘Capitale’ ” – de Marx, entenda-se (Gramsci,1958: 149-153). Uma exaltação da vontade colectiva contra um certo determinismo de inspiração positivista. Mais tarde, explicará que a revolução russa foi desencadeada como “guerra de movimento”, que, pela natureza da sociedade civil russa, podia ser desencadeada sem que fosse atingido o grau de desenvolvimento previsto por Marx para acontecer. Diria também que nas sociedades onde a sociedade civil é mais robusta já não é possível uma “guerra de movimento”, mas, sim, uma “guerra de posição”, aquela que deve estar virada para a conquista da hegemonia e para a formação de um sólido e compacto bloco-histórico. E é aqui que ele verdadeiramente centra o processo político nas sociedades mais desenvolvidas.
4.
Não é, pois, difícil perceber que Gramsci via mais longe e isso poderá ser confirmado quando na famosa carta do PCd’I ao Comité Central do PCUS, de outubro de 1926, pede que seja superada a grave divisão interna entre a maioria e a minoria chefiada por Trotsky, Zinoviev e Kamenev e sobretudo que “Il Comitato centrale dell’URSS non intenda stravincere nella lotta e sia disposta ad evitare le misure eccessive” (Spriano, 1988: 133; e Gramsci, 1978: 124-137 ). Todos viriam a morrer por ordem de Stalin, incluído, depois, o próprio Bukárine. Quem ler as duas cartas trocadas entre Gramsci e Togliatti poderá verificar a diferença radical de posições dos dois líderes a propósito da famosa carta. Embora Paolo Spriano, o historiador oficial do PCI, autor dos 5 volumes da História do PCI (Spriano, 1970), no livro acima citado, procure demonstrar o alinhamento entre Gramsci e o partido, e designadamente com Togliatti, a verdade é que a divergência com o futuro líder do PCI já era efectiva. Togliatti era um homem completamente alinhado com Moscovo e até viria a ser autor do relatório que levou à expulsão, em 1948, da Liga dos Comunistas da Jugoslávia do Kominform, tendo sido convidado por Stalin, em 1951, para presidir ao Kominform e aceitado a intervenção soviética na Hungria em 1956. Stalin diria, por ocasião do seu 70.º aniversário, que Togliatti viria a ocupar “um lugar que, até agora, poucos ocuparam na história da humanidade” (Santos, 2003: 171). Diga-se, todavia, e em abono da verdade, que esse mesmo Togliatti, já líder incontestado e reconhecido do PCI, haveria de promover activamente a obra de Gramsci logo a seguir ao fim da guerra. Mas é verdade que as diferenças do pensamento de Gramsci em relação ao marxismo oficial são claras e profundas e podem ser compreendidas a partir dos conceitos de ideologia, guerra de movimento, guerra de posição, hegemonia, bloco histórico, partido como “moderno príncipe”, intelectual orgânico, nacional-popular, Estado, bloco intelectual, revolução passiva, materialismo histórico.
5.
Não é o caso de aqui esmiuçar todos estes conceitos, mas é possível assinalar alguns aspectos, para além do que já referi acerca do conceito de materialismo ou de guerra de movimento e guerra de posição. Evidencio, todavia, os conceitos de ideologia, de hegemonia e de intelectual, na sua profunda articulação. O conceito de hegemonia difere do conceito leniniano porque é mais amplo, tratando-se de uma realidade ético-política e cultural e não somente de supremacia política. Só uma ideia de ideologia como vasta esfera onde os indivíduos reconhecem e identificam a realidade, desde os níveis mais elementares (como, por exemplo, o do folclore ou o do dialecto) até aos níveis mais elevados da filosofia pode articular um conceito de hegemonia como ele a concebe. Em A Ideologia Alemã, a ideologia era considerada como falsa consciência, ilusão, inversão do real na consciência dos indivíduos e, de qualquer modo, imputável aos “ideólogos activos” como seus agentes. Não é esta a concepção de Gramsci, uma vez que lhe atribui uma tripla dimensão: cognitiva (o reconhecimento do real por seu intermédio), ontológica (esfera real que tem como expressão orgânica as ideias, a filosofia, os valores, as crenças, as religiões, as atitudes, as tradições, a língua, os dialectos, etc., etc,) e normativa (poder de levar à acção). Estas dimensões positivas da ideologia, como um vasto e diferenciado campo significante com dimensão ontológica, e não como realidade simulacral, é que constituirão o universo onde ocorre o processo hegemónico, a dimensão ético-política da história, e é nelas que intervêm os intelectuais enquanto mediadores entre a sociedade civil e a superestrutura política e jurídica, capazes, pois, de conquistar a hegemonia e de promover um sólido bloco histórico. Ele difere também daqueles – e são muitos; por exemplo, Althusser – que consideram que o seu uso do conceito de sociedade civil é impróprio do marxismo, apesar de ele o ter ido buscar ao pequeno volume Zur Judenfrage, de Marx (Santos, 1986: 129-152). Mas é precisamente na sociedade civil, nos organismos da sociedade civil (e não aparelhos ideológicos de Estado, como quer Althusser, que considerava a sociedade civil como um conceito próprio dos escritos de juventude de Marx), enquanto esfera privada, que se produz e reproduz a ideologia e que intervêm os intelectuais tendo como objectivo conquistar a hegemonia, num processo que pode ser definido como guerra de posição. Também poderia ainda acrescentar que há um autor, Franco Lo Piparo, que radica o conceito de hegemonia no conceito linguístico de prestígio (Ascoli), constituindo uma sua reelaboração e enriquecimento (Lo Piparo,1979, pág. 145; mas veja-se pág.s 103-151). Em O Princípio da Hegemonia em Gramsci desenvolvo uma longa informação e argumentação sobre este assunto (Santos, 1986: 111-152; especialmente 140-152).
6.
Interessante, a este respeito, o que Gramsci escreve sobre o taylorismo, o americanismo e o fordismo e como estas considerações podem explicar a sua ideia sobre a sociedade regulada. Em poucas palavras, o processo produtivo nos Estado Unidos levou a uma racionalização global da sociedade americana, até porque esta não era condicionada por “um resíduo passivo de todas as formas sociais ultrapassadas na história” (Q., III, 2168, § 11), como acontecia na Europa, que impedisse o processo de racionalização das condições elementares de desenvolvimento histórico e, assim, a própria possibilidade de racionalização da produção e do trabalho (Santos, 1986: 69-79). Este processo, ao generalizar-se, implicava toda a sociedade pelo que implicava também a sua gestão política, replicando-se deste modo, no plano superstrutural do Estado, a separação entre programação e execução taylorística do trabalho produtivo. Ou seja, a dissociação entre proprietários/managers e operários/produtores encontraria uma equivalência na dissociação entre governantes e governados. Por isso, ao Estado eram requeridas poucas funções e até os intelectuais pouco contribuíam para uma hegemonia que nascia da fábrica, que assentava na generalização da racionalização produtiva, com todos os dispositivos normativos correspondentes a determinarem a vida dos produtores directos (fordismo). Portanto, de um lado, a programação económica e política centralizadas e, do outro, a execução técnica pelos produtores atomizados e confinados no processo produtivo. O que diz Gramsci? Que a solução seria a da organização não corporativa dos produtores directos (sindicatos e partido ou partidos) de modo a reabsorverem as duas realidades separadas: a da programação económica e a da programação política. Esta reabsorção, neste universo racionalizado permitiria evoluir para a chamada sociedade regulada, onde não se já não verificaria esse fosso entre programação e execução. Cito do meu livro sobre o princípio da hegemonia: “a crítica de Gramsci há-de centrar-se, portanto, no facto de, pelas exigências internas do processo de racionalização, a sociedade civil, por um lado, se generalizar, reproduzindo-se como sociedade política, à custa do aprofundamento do controlo privado do destino social da produção através da programação alargada e, por outro, se atomizar, individualizar e particularizar sempre de modo crescente pelo aprofundamento da separação da esfera da produção directa e parcelar em relação à do controlo global desta esfera. Se, por um lado, uma parte da sociedade civil se reproduz sempre mais como género através da esfera política a outra reproduz-se simetricamente e de modo crescente como natureza individualizada (o “gorila domesticado”), na medida em que crescem as exigências de especialização”, ao mesmo tempo que o controlo social sobre a produção só pode funcionar como poder político (Santos, 1986: 76-77). Esta situação só poderá ser superada pela emergência do trabalhador colectivo organizado e hegemónico e pela reabsorção da sociedade política na sociedade civil. É evidente aqui a influência da Questão Hebraica, de Marx. Como é evidente a crítica da concepção hegeliana de Estado. O que, de resto, já acontecera na Kritik des Hegelschen Staatsrechts. É claro que aqui reside um núcleo crítico da teoria gramsciana: o organicismo que se opõe à teoria da representação. Mas não é o caso de aqui discutir os fundamentos da sua utopia da sociedade regulada.
7.
Neste contexto, o partido teria uma função essencial, desempenhada pelos seus “intelectuais orgânicos”. Gramsci fala, sim, do partido como o “novo príncipe” (Q., 5, 662, §127). Moderno Príncipe: “formazione di uma volontà colettiva nazional-popolare di cui il moderno Principe è appunto espressione attiva e operante, e riforma intellettuale e morale”. “Egli prende il posto, nelle coscienze, della divinità e del imperativo categórico, egli è la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume” (Q, 8, §21, 953). Por um lado, alternativa ao fundamento divino do poder, por outro assunção partidária do princípio moral expresso na imperativo categórico. Na verdade, podemos pensar num contraponto ao monarca que encarna o Estado (ou, então, como diz Gramsci, no “condottiero ideale”), por exemplo, como em Hegel, mas que deriva da aristocracia reinante; o “príncipe moderno” – o partido – que interpreta a vontade colectiva nacional-popular e que deriva dela, aspirando a gerir o Estado para promover uma reforma intelectual e moral. De laicização se trata, pois, lá onde o povo-nação emerge, por analogia com a aristocracia, com pretensões de se elevar à chefia do Estado e de, assim, promover uma profunda reforma intelectual e moral. Nada de estranho, pois.
8.
Gramsci tem um conceito alargado de intelectual tal como já acontecia com a ideologia: vai dos “simples administradores” até aos grandes filósofos, como, por exemplo, Benedetto Croce, que ele chega a apelidar de “papa laico”, porque conseguiu ligar os intelectuais meridionais que compactam as massas camponesas, promovendo um bloco histórico que integra o bloco agrário do mezzogiorno e a burguesia industrial do norte. Croce projectava, assim, os intelectuais meridionais a um plano nacional e mesmo europeu, construindo deste modo um sólido “bloco intelectual” capaz de recobrir, de compactar e dar coerência ao “bloco histórico” formado pela aristocracia agrária do mezzogiorno e a burguesia industrial do Norte. O “bloco intelectual” faz a mediação entre a sociedade civil e a superestrutura política e jurídica, dando-lhe coesão no plano ético-político. É daqui, da actividade propulsora e integradora da filosofia de Croce, que nasce a sua condição de “papa laico”.
Como se vê, a importância funcional dos intelectuais é em Gramsci enorme pois eles funcionam como promotores da ligação orgânica entre a sociedade civil e a superestrutura político-jurídica. E esta função deve-se também à ideia que Gramsci tinha da ideologia como vasto campo significante com densidade ontológica onde acontece o reconhecimento e a identificação da realidade social e onde se processa a hegemonia. Nisto, Gramsci reconhece-se na célebre passagem do Prefácio à Contribuição para a Crítica da Economia Política, de 1859 (3). O consenso como cimento ideológico e político de uma solução histórica e política. Trata-se de intelectuais orgânicos e não de marketeers; de uma narrativa ético-política com profundidade temporal e não de fórmulas publicitárias dirigidas ao mercado eleitoral para vencer as próximas eleições; de guerra de posição e não de uma guerra de movimento.
9.
Com efeito, muitas vezes se coloca a questão de saber acerca da compatibilidade do pensamento de Gramsci com a democracia representativa. Sim, mas uma coisa é certa: a sua resposta não será igual à do marxismo ortodoxo. A esta questão já respondera nos escritos de juventude dizendo que só seria possível superar a democracia parlamentar, vivendo-a. Depois, o primado da teoria do consenso e a necessidade de travar uma guerra de posição em sociedades com uma sociedade civil robusta, rejeitando, nelas, a guerra de movimento; depois, ainda, a ideia de um “novo príncipe”, fundado no nacional-popular e numa política totalmente laicizada. Sobre o conceito de nacional-popular, julgo útil citar uma passagem do meu livro Os Intelectuais e o Poder, porque permite ver como ele resolve a velha dicotomia nação-povo: “o conceito gramsciano de nacional-popular, operando em conjunto com a teoria dos intelectuais orgânicos e a teoria da hegemonia, visa exactamente resolver essa questão da separação entre nação e povo, sem dissolver um conceito no outro: nem essa totalidade concreta que é o povo na universalidade mais formal e funcional da nação, para não retirar a esta (nação) a legitimidade substancial de que carece, nem esta naquele, para que o povo não se reduza a um mero agregado orgânico e contingente de indivíduos fisicamente determinados” (Santos, 1999: 107-108). Como se vê, a chave desta relação reside na mediação dos intelectuais orgânicos e do “moderno príncipe” ou partido, que aspira à hegemonia.
Se a democracia é compatível com monarquias constitucionais, mais fácil será admitir que ela pode coexistir com a hegemonia do “moderno príncipe”. A diferença reside na génese e, consequentemente, na legitimidade. Claro, Gramsci tinha uma utopia: a sociedade regulada. A sociedade onde o consenso fosse dominante em relação às formas de governo burocráticas e dotadas de mecanismos coercitivos e impositivos. A sociedade regulada como uma forma de organização superior onde a legitimidade derivava da hegemonia entendida como triunfo do consenso, da cultura e de uma vontade colectiva verdadeiramente representativa do espírito nacional-popular. Gramsci era marxista e talvez o seu pensamento até se destaque com mais actualidade do que o dos outros e ilustres representantes do marxismo ocidental porque, no essencial, ele densifica, laiciza e enobrece a política ancorando-a, através da ideologia, nas formas culturais difusas que exprimem essa dimensão nacional-popular. Num tempo em que a política parece cada vez mais simulacral e uma via para o exercício do poder pelo poder, a densificação da política que se reconhece no pensamento de Gramsci é decisivamente cada vez mais necessária. O papel que ele atribui aos intelectuais orgânicos e o modo como os define é indicativo do papel que ele atribui à consciência e, por isso mesmo, à cultura e ao reconhecimento do real através das diferentes formas culturais, das mais elaboradas às mais simples. Este papel dos intelectuais orgânicos, a sua centralidade, não é do mesmo modo reconhecido pelo marxismo ortodoxo. Talvez também por isso Gramsci se destaque dos outros expoentes e brilhantes intelectuais do marxismo ocidental.
NOTAS
(1) Veja o interessante ensaio de Gramsci “Alcuni Temi della Quistione Meridionale”, de 1926. In Gramsci, 1978: 137-158.
(2) Paris, Maspero, 1973, I, V: “Le marxisme n’est pas un historicisme”, pp. 150-184, especialmente pp.174-175.
(3) Veja o meu ensaio “A Questão da Ideologia: de ‘A Ideologia Alemã’ aos ‘Cadernos do Cárcere’. In Biblos, LIII, 1977, 207-268.
REFERÊNCIAS
BOBBIO, N. (1990). Saggi su Gramsci. Milano: Feltrinelli.
BUCHARIN, N. (1977). Teoria del materialismo storico . Saggio popolare di sociologia marxista. Firenze: La Nuova Italia.
GLOTZ, P. (1987). “Il ‘Moderno Principe’ nella società dei due terzi”. In Rinascita, Roma, n.º 8.
GRAMSCI, A. (1958). Scritti giovanili. Torino: Einaudi.
GRAMSCI, A. (1978). La Costruzione del Partido Comunista (1923-1926). Torino: Einaudi.
GRAMSCI, A. (1975). Quaderni del Carcere. Torino: Einaudi (I-IV).
GRAMSCI, A. (2012). Gramsci, a Cultura e os Subalternos. Lisboa: Colibri.
LO PIPARO, F, (1979). Lingua, intellettuali, hegemonia in Gramsci, Roma-Bari, Laterza, 1979, pág. 145; mas veja-se 103-151.
NEVES, R. C. (2012). “Introdução” a Gramsci, a Cultura e os Subalternos. Lisboa: Colibri.
RIGHI, M. L. (Org.). 1995. Gramsci nel Mondo. Roma: Fondazione Istituto Gramsci.
SANTOS, J. A. (2006). “Hegemonia: O primado do consenso na teoria política de Gramsci”. In Neves, José (Org.), 2006. Da Gaveta para Fora. Ensaios sobre Marxistas. Porto: Afrontamento (pp. 79-107).
SANTOS, J. A. (2003). “Novas formas de comunismo e radicalismo de esquerda”. In Reis, A. (Org.). 2003). As grandes correntes políticas e culturais do século XX. Lisboa: Colibri/IHC da FCSH da Univ. Nova de Lisboa.
SANTOS, J. A. (1999). Os Intelectuais e o Poder. Lisboa: Fenda.
SANTOS, J. A. (1986). O princípio da hegemonia em Gramsci. Lisboa: Vega.
SPRIANO, P. (1970). Storia del Partito Comunista Italiano. Torino: Einaudi.
SPRIANO, P. (1988). Gramsci in Carcere e il Partito. Roma: L’Unità.
JAS@12-2024

NOVOS FRAGMENTOS (V)
PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA
Por João de Almeida Santos
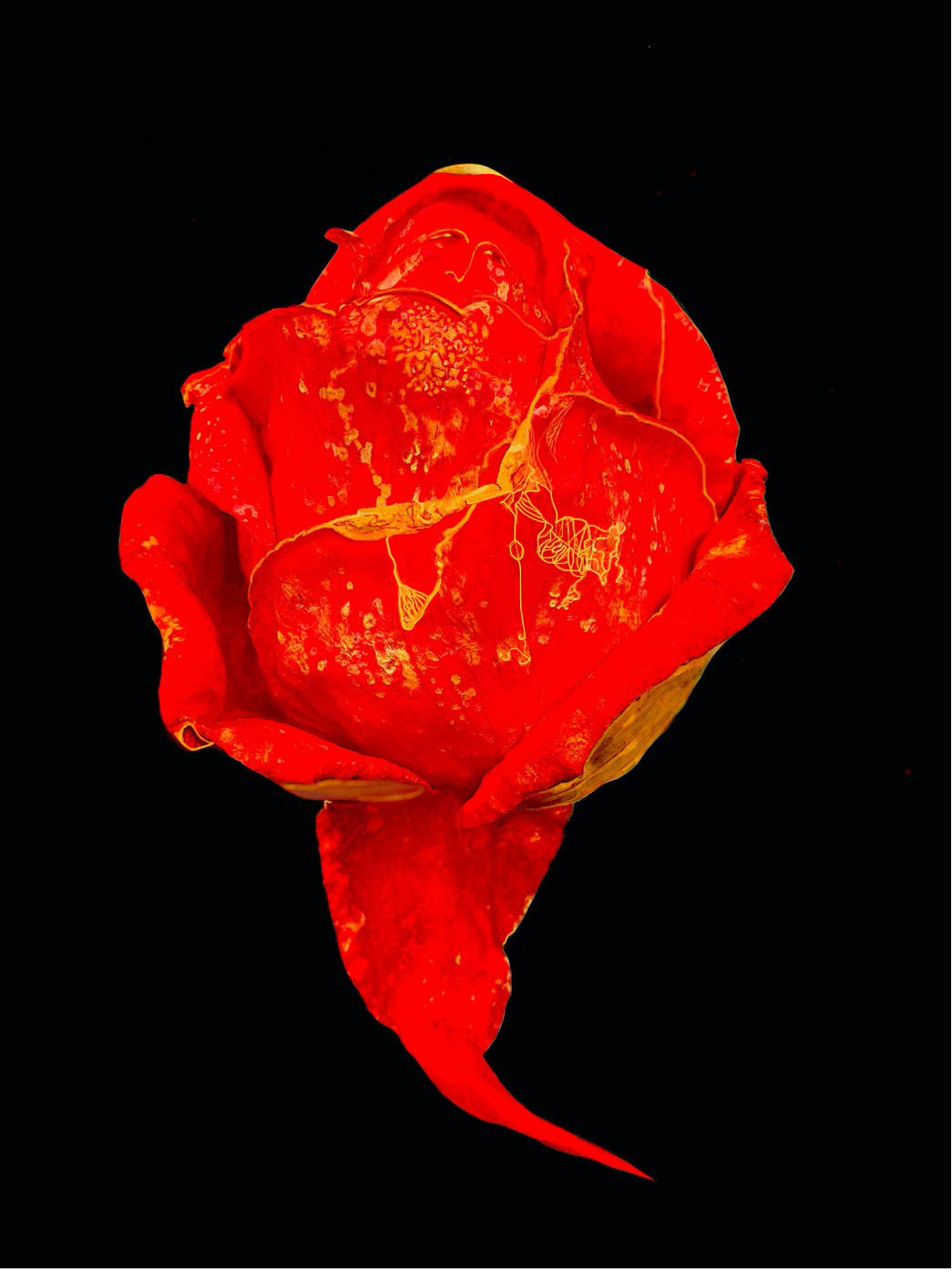
“Transfiguração”, JAS 2024
SONHO COM OLHOS ABERTOS
A poesia é sonho com olhos abertos, com os sentidos em alerta e a fantasia em movimento.
RITUAIS
Os rituais, mesmo os que acontecem no universo digital, têm poder, dão forma, solenidade e regularidade a acontecimentos relevantes. Neste caso, a intensities. O ritual poético dá forma, sentido e solenidade à relação do poeta com a musa e com os amantes da poesia. Uma forma especial de partilha. Nos rituais há evocações, sim, mas também invocações que chamam a musa à presença. E o lugar deputado é um templo porque nele o silêncio, a refracção da luz pelos vitrais e a penumbra dão solenidade ao chamamento poético. Algo de que a poesia sempre precisa para acontecer em plenitude.
POESIA NÃO É MONÓLOGO
Transformar a perda em criação, vestir o passado de palavras e dar voz ao silêncio. É verdade. É esta a missão do poeta. Por imperativo existencial. E se o fizer bem fala de si e de todos. O poeta sente isso como missão. A poesia não é monólogo, ela deve falar por todos e para todos, sem deixar de ser a fala de um poeta singular.
A SINA DO POETA
Sina de poeta. Concordo. Até considero que poeta sem sina não é poeta. Ele é escolhido pelo destino ou pelos deuses. E é daí que lhe advém a responsabilidade e o desejo de universalidade. E a humildade de alguém que foi escolhido, a quem foi concedido um dom e a responsabilidade de o honrar. Mas também a necessidade de, nessa medida, que o ultrapassa, recriar o seu tempo de vida, para além daquele com que o destino o marcou. Para ser um pouco mais livre, porque é no intervalo entre a necessidade e a liberdade que se inscreve o discurso poético.
VER COM A ALMA
A poesia dá conta do que a alma vê. O sublime só pode ser visto e atingido com a alma. Os sentidos não chegam. A técnica também não, mesmo quando é virtuosa. É por isso que a sinestesia ajuda a ver melhor.
ASSALTO PULSIONAL
Que seria dos poetas sem as musas? Elas inspiram, provocam, muitas vezes com silêncio teimosamente reiterado e como castigo, e agitam-se nas profundezas da memória afectiva. Tudo isto se converte em imperativo existencial a exigir resposta. E o pobre poeta tem mesmo de obedecer. Mas, no fim, acaba por ficar feliz, porque deu forma a este assalto pulsional que o fez (o faz sempre) estremecer e o pôs (põe sempre) em sobressalto. A pintura ajuda a pacificar porque nela intervém o olhar. É a versão sensorial do que ocorre na alma, lá mais profundamente, daquilo de que a poesia dá conta. Na pintura “Perfil de Musa” o perfil sereno, mas severo, da musa, o negro dos seus cabelos e o vermelho dos lábios fazem a ponte para o poema (“Confissão”).
NEBLINA
O pintor-poeta sentiu alguma dificuldade na execução de um certo retrato (e foi por isso que teve de estilizar o rosto com um perfil, “Perfil de Musa”, deixando apenas algumas marcas, acenadas no poema) porque a nitidez da memória visual (do referente, que às vezes existe) com o tempo diminuíra. Interpusera-se uma leve neblina que não deixava ver o rosto com essa desejada nitidez, apesar de a visão interior, a da alma, se manter fresca e, com essa, sim, poder desenhar-lhe poeticamente o rosto, à perfeição. Claro, a perfeição seria a da poesia e os riscos seriam as palavras. A estilização plástica seria quase obrigatória, mas somente com algumas marcas identificáveis no poema.
RESISTÊNCIA
A poesia está protegida pela blindagem do sentimento, que se conserva dentro, na alma, e não sofre a mesma erosão que afecta os sentidos físicos. A resistência dos sentimentos (a força das pulsões) é tão forte que até exige fugas para não provocar danos (como as panelas de pressão). Aqui entra a verbalização poética, com toda a sua riqueza plástica e musical, dando asas ao sentimento, pondo o poeta em levitação e libertando-o dessa poderosa pulsão que tende a oprimir se não for libertada – a tristeza que se converte em doce melancolia.
RELAÇÃO ESPECULAR
O que fica do que aconteceu ou do que não aconteceu é o que ele significou. O que foi até pode ter sido pobre ou mesmo pura ilusão. A relação amorosa ser, por exemplo, unilateral, ou seja, não ter sido verdadeiramente uma relação, por falta de correspondência. As saudades do que não aconteceu são mais fortes do que as do que aconteceu, dizia o Pessoa (o Bernardo Soares). Portanto, o que conta é o que significou, o que foi sentido, não o modo como isso aconteceu ou não, ficando como saudade. E não é solipsismo. O Aristófanes (o crítico de Sócrates, por exemplo, nas “Nuvens”) no “Symposion”, de Platão, dizia que o amor é a busca da nossa outra parte de que os deuses, por castigo, nos privaram. Ou seja, no amor sou mais eu do que o outro que amo. Ou, pelo menos, o outro tem de ser como que a outra parte que nos falta, o nosso complemento. Uma relação de tipo especular. No espelho reflecte-se o que, de nós, parece permanecer ainda oculto. O espelho, neste caso, é o outro. E nele vemos o que de nós ainda não encontráramos. Por isso, não se trata propriamente de uma relação. Algo parecido é o que também dizia o Bernardo Soares: “Nunca amamos alguém. Amamos, tão-somente, a ideia que fazemos de alguém. (…) “em suma, é a nós mesmos – que amamos”. Por outro lado, ou do mesmo lado, é provável a ideia de que a memória visual se esbata no tempo, enquanto a memória afectiva persiste, às vezes até de forma excessiva, a ponto de doer, doer muito, e de representar mais o próprio do que o outro. Os poetas sofrem desta dor, desta “maladie d’amour”. O amor encontra-se no amante, não no ser amado, lê-se também no “Symposion”. Não há simetria perfeita no amor. Depois, se passarmos para o amor cantado em poesia, o crescimento subjectivo do amor (ao nível daquilo que o Kant designava por “universal-subjectivo”, na “Crítica do Juizo”) é sem limites.
O PRESENTE E O PASSADO
O presente como sobrevivência do passado. É verdade, mas o presente é mais do que sobrevivência do passado porque também é antecipação do futuro. O presente é intersecção do futuro com o passado. Mas há passado e passado. Há, sim, o que resiste porque significou muito… e até pelo que não aconteceu e poderia ter acontecido. E quando a poesia o assume ele já é mais futuro do que passado, podendo mesmo identificar-se com a eternidade. A poesia vai lá para o trazer de volta e, dando-lhe forma, colocá-lo no futuro. Aqui está o que eu penso do passado que sobrevive. JAS@12-2024


REFLEXÕES EM TORNO DO SYMPOSION, DE PLATÃO
Por João de Almeida Santos

“Aphrodite”. JAS 2024, baseada numa cópia romana da deusa (Museu Arqueológico de Nápoles)
REGRESSEI recentemente à filosofia grega, desenvolvendo uma reflexão em torno do Symposion, de Platão, uma obra do século IV a.C., num evento promovido pela prestigiada empresa vitivinícola Quinta dos Termos (Carvalhal Formoso, Belmonte), de certo modo inspirado no modelo grego. Symposion é o nome em grego do que nós designamos por Banquete, mas verdadeiramente ele refere-se mais ao momento da bebida (vinho) do que ao repasto propriamente dito, o deípnon, pois a palavra Symposion designa em grego precisamente bebida com, de syn + pósis, -eôs. Beber acompanhado, portanto.
1.
Naturalmente que, como é óbvio, algumas das características que estavam presentes naqueles banquetes gregos não são transponíveis para os dias de hoje – por exemplo, comiam deitados, em leitos, e os escravos lavavam os pés dos convidados. Mas, como veremos, há neste Symposion de Platão, muito de intemporal: por exemplo, a celebração da vitória do poeta Ágaton numa exigente competição literária entre tragédias. O sucesso muitas vezes é celebrado com banquetes. Mas nem sempre eles incluem, como este, o de Platão, momentos de cultura.
2.
A ideia de celebrar num banquete a vitória numa qualquer actividade humana é, pois, antiga e remonta não só à Grécia do século IV a. C, mas também à Florença do século XV, ao tempo dos Medici, como reposição integral e ao vivo do Symposion. Este género literário, o da tragédia grega, em que Ágaton, o protagonista, se destacou, é considerado por Nietzsche, em “A Origem da Tragédia”, o maior da arte grega por conseguir estabelecer uma harmonia perfeita entre o “espírito dionisíaco” e o “espírito apolíneo”, ou seja, entre o sentimento e a razão, entre as pulsões da alma e a sua estilização espiritual. E foi por Ágaton ter recebido este prémio que o Symposion foi realizado.
3.
Os banquetes eram uma prática institucionalizada na Grécia Antiga e este, o de Platão, viria a conhecer revisitações ao longo dos séculos, na literatura, na pintura, na música, na arte, em geral. Referências é possível encontrá-las no historiador e filósofo Plutarco, nos escritores Ateneu e Petrónio (séc.s I e II, d. C.); mas também na Florença renascentista e na iniciativa de Lorenzo de’ Medici de passar a celebrar o nascimento e a morte de Platão com um banquete, com a leitura integral deste texto e com representações vivas das intervenções dos participantes no Banquete; no humanista italiano Marsilio Ficino; nas inúmeras edições que conheceu em toda a Europa, no século XVI; na pintura de Botticelli, Rubens ou Canova; na filosofia de Kierkegaard; no romance; em Thomas Mann, como veremos, ou em André Gide; na música e até mesmo em televisão. Tudo isto apenas para sinalizar a importância do Symposion e a sua influência na cultura ocidental (2018: 35-39) *.
4.
Este Symposion ficou também famoso e celebrado porque nele entravam personagens de grande importância na vida cultural ateniense, logo a começar pelo famoso filósofo Sócrates, mas incluindo também o seu admirador Alcibíades e o comediógrafo e seu crítico Aristófanes (por exemplo, na comédia “As Nuvens”) ou Ágaton, o vencedor do prémio, entre outros, como Fedro ou Pausânias. E, claro, pela influência do seu autor, o grande Platão, além dos relatores Apolodoro e Aristodemo com os quais começa a obra.
5.
Os banquetes tinham uma estrutura bem definida (as mulheres não era admitidas, a não ser, por exemplo, na qualidade de músicas ou noutras ocasiões muito especiais): o jantar propriamente dito, chamado deípnon, a que se seguiam as abluções (purificação), os cânticos aos deuses, as libações (a fase da bebida, o symposion propriamente dito) e a componente cultural, o debate acerca de temas de cultura.
6.
Neste caso, a tradição cumpriu-se, mas de forma moderada, na fase das libações, pois todos os intervenientes já tinham usado e abusado delas no dia anterior, e sempre na celebração da vitória de Ágaton, encontrando-se, por isso, fisicamente diminuídos, isto é, com ressaca, o que levou a que fosse aconselhado a todos os intervenientes beberem somente de acordo com o apetite, mas moderadamente, pois iria ser privilegiado o debate cultural sob um tema proposto por Fedro, um dos convivas.
7.
Qual foi, pois, o tema proposto por Fedro (nome que dá título a um dos diálogos de Platão, precisamente sobre o amor) e quem eram os intervenientes no debate? O tema proposto, que foi imediatamente acolhido por todos, foi o elogio do amor, sendo os participantes no debate, por ordem das intervenções, Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes, Ágaton e Sócrates, este ajudado pelo relato que fez do que a sábia Diotima um dia lhe relatara acerca do amor. A última intervenção, já tardia, foi a do célebre Alcibíades (considerado como o amante de Sócrates), já um pouco embriagado, mas ainda lúcido, que se centrou exclusivamente no elogio sem limites, não do amor em si, mas de Sócrates, ou, se quisermos, do amor que ele próprio professava por ele, um amor incondicionado e de certo modo não correspondido na dimensão também física em que ele o desejava, como veremos. Este tipo de relação era muito comum e aceite entre os gregos, a chamada relação homoerótica, incluindo a própria pederastia, vista como relação de integração e de educação para os valores superiores dos jovens – desde que já maduros e conscientes, e não sujeita a impulsos menos nobres ou por pura lascívia – pelos adultos para que pudessem alcançar a virtude e a sabedoria.
8.
O Symposion termina com os últimos três resistentes: Agatón, Aristófanes e o próprio Sócrates, que foi o último a abandonar o Symposion, já pela manhã. Ele era, segundo Alcibíades, sempre e em tudo, o mais resistente.
9.
Qual é o interesse desta obra de Platão? A reflexão sobre o amor, algo que foi ao longo da história da cultura ocidental um dos temas mais tratados pelos maiores artistas da cultura ocidental, muitas das obras, como vimos, por influência desta obra de Platão. E, digamos, tema que tem dominado em absoluto a poesia ao longo dos séculos, não só devido à delicadeza, à centralidade, ao poder e à universalidade do amor, mas também por ter sido, et pour cause, sempre sujeito a um forte condicionamento social, precisamente devido à influência daquelas suas características na vida das sociedades, desde o plano público até ao plano da mais íntima relação. Se é verdade que a relação homem-mulher traduz ao longo dos séculos o nível de desenvolvimento civilizacional das sociedades (Marx, nos Manuscritos de 1844 assim a considera), também é verdade que os desvios à norma dominante, nesta relação, foram sempre objecto de sancionamento social e moral, de repressão, e, por isso, objecto de conversão estética, de fuga, de sublimação por parte dos que, sendo agentes de cultura, sofriam mais directamente na carne essa repressão. A história da poesia e a da pintura e as biografias dos seus maiores têm muito a dizer sobre isto, com poetas e pintores a encontrarem na arte uma forma de superior resolução das suas próprias vidas e de libertação das amarras sociais à sua orientação amorosa ou sentimental. A arte como salvação, sublimação dos infortúnios existenciais, sobretudo amorosos. Alguns nomes: Leonardo da Vinci (por exemplo, o seu amor pelo famoso “Salai”), Michelangelo Buonarroti (o seu colaborador Gherardo Perini), Caravaggio (os jovens de Roma), Óscar Wilde (que, por isso, foi preso), Walt Whitman, Paul Valéry, Verlaine, Rimbaud, Mário de Sá Carneiro ou até, talvez, Fernando Pessoa (embora no caso do seu eventual homoerotismo se verifique uma certa nebulosidade, não sendo sequer a monumental biografia de Richard Zenith sobre Pessoa muito clara e definitiva sobre o assunto). E tantos outros. Génios da pintura e da poesia O mesmo se poderá dizer de Thomas S. Eliot, prémio Nobel da Literatura (1948), cuja orientação sexual (o homoerotismo) é ainda objecto de debate e de incerteza. E até se discute também a orientação sexual de Shakespeare (de novo o seu homoerotismo), encontrando-se nos seus Sonetos o elogio do amor por um jovem, “Fair Youth” (por exemplo, no CXVI Soneto). A que se poderia ainda juntar os amores heterosexuais frustrados ou inconsequentes, como, por exemplo, o de Stendhal ou o da nossa grande, mas tão infeliz, Florbela Espanca. Ou seja, a grandeza artística como superação das fracturas, das cicatrizes existenciais e sociais dos artistas. Através de um salto na eternidade. Em geral, na sociedade e na cultura gregas, o tema da pederastia e do homoerotismo era um topos habitual no debate, pela razão que já referi. E também aqui, no “Banquete”, com Alcibíades a contar, perante os convivas, os seus avanços falhados para com o amado mestre Sócrates.
10.
É claro que o elogio do amor tem em Platão uma clara dominante que tem a ver com a sua própria filosofia, pondo a visão de Sócrates, pela voz de Diotima (2018: 103) – chamada por ele ao discurso -, como a mais próxima da sua própria visão. Há uma passagem no Banquete, precisamente na fala de Diotima, muito elucidativa a este propósito, e que refiro textualmente. Cito:
“E aqui tens o recto caminho pelo qual se chega ou se é conduzido por outrem aos mistérios do amor: partindo da beleza sensível em direcção a esse Belo é sempre ascender, como que por degraus, da beleza de um único corpo à de dois, da beleza de dois à de todos os corpos, dos corpos belos às belas ocupações e, destas, à beleza dos conhecimentos, até que a partir destes alcance esse tal conhecimento, que não é senão o do Belo em si, e fique a conhecer, ao chegar ao termo, a realidade do Belo” (2018: 122).
Belo em si e por si – a finalidade do amor superior, aquele que está alinhado com o Bem e com a Verdade, com a Aphrodite celeste, como diria Pausânias, e que não se reduz à beleza corporal, nem sequer à imortalidade que, por via do amor e do prazer que lhe está associado, pela procriação, garante a reprodução da própria espécie. Aliás, Thomas Mann (que também poderia ser incluído na lista de nomes que já citei), em “Lotte em Weimar – O Regresso da Bem-Amada” (de 1939), identifica a procriação como luxúria, enquanto o amor expresso no beijo, diz, é alegria, é a “poesia do amor”. Ou então, como diria Honoré de Balzac, o amor é mesmo a poesia dos sentidos. Algo, que está, pois, para além do princípio do prazer. O livro de Thomas Mann “Morte em Veneza” tem muito daquilo que se encontra em Platão: a relação estilizada e homoerótica entre o aclamado escritor Gustav von Aschenbach e o jovem e belíssimo Tadzio. O belo em si e por si encarnado no corpo divino de um jovem polaco contemplado por um Aschenbach literalmente possuído por essa irresistível beleza que acabará por conduzi-lo à morte, nessa também bela Veneza, infestada com a peste (e que ele podia ter abandonado a tempo). O filme, com o mesmo nome, de Luchino Visconti (para mim um dos maiores realizadores de sempre, também ele integrando a fileira do homoerotismo) é absolutamente expressivo e belíssimo sobre esta relação homoerótica. “Ecos do Banquete platônico ressoam na escrita de Mann”, em “Morte em Veneza”, diz um autor brasileiro, Daniel Barbo (2014: 59) **. E diz mais: “Além do fundo comum classicista, Goethe, Nietzsche, Freud e Mahler integram a polifonia de Morte em Veneza. A obra simboliza paixão e degradação, Eros e Thánatos. Aschenbach é hipnotizado por Tadzio. Hýpnos, o irmão gêmeo de Thánatos, anda de mãos dadas com Eros” (2014: 61). O amor e a morte. Palavras certeiras, estas, pois a paixão de Aschenbach acaba por se situar numa esfera tão elevada que as circunstâncias terrenas (por exemplo a devastadora peste que assolava Veneza) já pouco importam…
11.
No Symposion, e em geral na filosofia de Platão, estamos perante uma dialéctica ascendente que, por intermédio de Eros, que não é mortal nem imortal, eleva até ao ideal supremo – ao Tò Agathón, o Bem. O amor que visa a imortalidade, não só pela descendência, mas também pelas obras e, destas, sobretudo, pelas obras do espírito, pela elevação espiritual. Uma dialéctica ascendente que não prescinde do mundo sensível (o Eros tem uma dupla condição, terrena e divina), mas que se eleva sobre ele até a um plano ideal, o que garante a imortalidade. E o Eros é, neste processo, o grande mediador entre deuses e homens, pela sua natureza híbrida, filho como é da Pobreza-Penía e do Engenho-Poros, mas que por isso mesmo pode conduzir, nesta dialéctica ascendente, ao ideal supremo – o Belo em si e por si (Tò Kalón), ou o Bem (Tò Agathón), valores que, de resto, em Platão são indissociáveis. O Eros tem uma natureza híbrida, sim, mas, no fim, por seu intermédio, a alma vence sobre o corpo e o espírito vence sobre a alma, a caminho da Beleza em si. Como exemplo prático e humano poderia referir a história contada por Alcibíades acerca de um encontro com o amado Sócrates, que, amando também ele, nunca se deixa, todavia, capturar pelos avanços sexuais de Alcibíades. Vejamos, por exemplo este passo muito significativo, no Symposion, do elogio de Sócrates por Alcibíades:
“Pois certifico-vos, pelos deuses e pelas deusas, que, depois de passar a noite com Sócrates, nada mais tinha acontecido, ao levantar-me, do que se tivesse dormido com o meu pai ou com um irmão mais velho” (2018: 140)
O que aqui temos é uma valorização da esfera ética o sobre o corpo, personalizada em Sócrates, visão que esteve também presente nas intervenções dos outros convivas, e que espelha a própria visão de Platão. Visão quen poderá ser melhor compreendida através da famosa “Alegoria da Caverna”, no início do Livro 7 da obra maior de Platão A República (Politeía): a realidade, para os confinados na caverna, confunde-se com imagens do que se passa fora da caverna onde estão os prisioneiros, imagens essas projectadas como sombras na parede do fundo da caverna, provocando um efeito de ilusão sobre a realidade. Como os que estão na caverna nunca de lá saíram, julgam, pois, que a realidade se identifica com as sombras que vêem projectadas na parede. E se algum deles sair verá como é difícil adaptar-se à luz do sol, acontecendo, com alguns, acabarem por preferir o reino das sombras, identificado, esse sim, com a realidade. Transpondo para o amor: o amor carnal como ilusão do verdadeiro amor para os que nunca se libertaram das amarras do mundo sensível, do culto físico do corpo, do mero prazer como seu fim último.
12.
Esta dimensão ideal do amor encontra-se, pois, enquadrada de diversas formas nas intervenções dos participantes no Banquete. Vejamos.
- na inspiração divina e virtuosa do amante em relação ao amado e o heroísmo provocado pelo amor, o mais antigo dos deuses (Fedro);
- o amor celeste, inspirado na Afrodite celeste (a deusa do amor) – e não na Afrodite popular (o amor vulgar) -, centrado na alma (masculina, não feminina), e não no corpo. Amor que visa exclusivamente a virtude e a sabedoria e que permanece durante toda a vida (Pausânias);
- na dialéctica entre opostos visando, no amor, a harmonia entre eles, desde os corpos singulares até à própria natureza em geral (Erixímaco, médico);
- o amor que visa restaurar a nossa primitiva natureza como seres duplos (todos têm tudo em duplicado) masculinos, femininos e andróginos (metade homem, metade mulher), ao reencontrarmos a nossa outra metade, perdida por castigo dos deuses, e ao voltarmos a unir-nos a ela, depois de a procurarmos movidos pela saudade e pelo amor, como busca dessa parte da nossa identidade que perdemos (2018: 85; Aristófanes); Freud cita esta fala de Aristófanes no seu livro Além do Princípio do Prazer;
- o amor, o mais feliz dos deuses (e o mais jovem), dotado de todas as qualidades que o tornam sofisticado e delicado, é impulsionador da beleza e da concórdia e anima no prazer e consola no sofrimento (Ágaton).
Portanto, visões ideais do amor que sobrelevam a sua dimensão puramente orgânica, circular e passageira, confundida simplesmente com o prazer. No fundo, a luxúria, como diria Thomas Mann.
13.
Diotima-Sócrates sublinha o desejo de imortalidade no accionamento do amor, seja ele físico e reprodutivo, seja ele espiritual e fautor de perpetuação do criador. O amor é, sim, filho da Pobreza e do Engenho e é desta sua dupla condição que resulta a sua qualidade de mediador (daímon, divindade que exerce influência sobre o destino dos homens) entre os homens e os deuses e a sua capacidade de nos impulsionar em direcção ao Belo em si, ao Bem, mas também à Verdade (Alêtheia, no sentido de desvelamento, não oculto), como vimos na passagem que já transcrevi.
14.
Este aspecto merece algumas considerações, um curto excursus elucidativo em relação à arte, às suas razões mais profundas. Muito se tem dito quando se fala do idealismo em filosofia, por exemplo, de Platão ou do próprio “amor platónico”, da sua aparente irrealidade, do seu carácter onírico. Não é o que eu penso e creio mesmo que não o pensam de igual modo os artistas, os poetas, os pintores, os romancistas, os compositores. Todos os que trabalham com a imaginação, a fantasia, com símbolos, com matéria intangível, com ideias e formas, todos os que criam, com desejo de eternidade ou com desejo de resolver a própria vida com a arte, com a poesia, com a pintura, com a música, movidos pela dinâmica da sua própria relação com a vida – todos eles encaixam plenamente neste chamado idealismo que, frequentemente, também assume a forma do chamado “amor platónico”, o amor impossível, mas real, como teria sido o de Aschenbach. A um certo momento da sua vida, Beethoven ficou surdo, não ouvia o que compunha, perdeu capacidade sensorial, orgânica, mas continuou a compor e a “ouvir” com os sentidos interiores (a memória auditiva) o que compunha na pauta. Produzia arte com os sentidos interiores e com o espírito, através da notação musical. Por exemplo, a nona sinfonia. Estamos no domínio do imaterial, do intangível, sim, mas que faz parte da vida, talvez do seu lado mais belo. Um poeta que, carregando a dor do seu maior fracasso amoroso, homoerótico ou heteroerótico, decide transpô-lo para a poesia como forma de o resolver superiormente. Resolvê-lo, elevando-o. E são tantos os poetas nessas condições. A nossa fantástica Florbela Espanca, por exemplo, com os seus sonetos. O grande escritor francês Stendhal, que se apaixonou desesperadamente pela senhora Matilde Viscontini, carbonária e divorciada de um general polaco, até escreveu um livro sobre o amor “De l’Amour” (1822), inspirado nela, sendo também certo que ela está presente nos seus romances, designadamente em “Le Rouge et Le Noir” (Mathilde ou, sobretudo, Madame de Rênal). É a resolução da vida pela escrita, como viria a dizer Robert Musil. E talvez não tivesse sido sequer o mesmo Stendhal se não se tivesse cruzado com a senhora Matilde Viscontini e com o fracasso que daí resultou (para ela Stendhal era eroticamente frívolo). A atenuação da sua infelicidade foi obtida certamente pela arte. Pois bem, na verdade, é possível reconhecer que o amor é o principal propulsor da poesia, como, de resto, diz Ágaton de Eros, o deus do Amor, no Symposion:
“e para que também eu preste as honras à minha arte (a poesia, a tragédia), tal como Erixímaco (médico) prestou à sua, começo por falar na sabedoria do deus como poeta: um poeta tão hábil que sabe, inclusive, transmitir a outros a sua arte! Certo é que todo o homem bafejado pelo Amor, ‘mesmo antes avesso às Musas’, adquire o dom da poesia… E eis o testemunho ideal para mostrar a excelência do Amor em todo o género de criação ligado às artes” (2018: 92).
Mais palavras para quê? O amor, homoerótico ou heteroerótico, concede o dom da poesia, diz Platão pela boca do anfitrião do Symposion.
15.
No Symposion encontramos, sim, esta tensão, presente no amor, que visa a superação do estado de facto daquele que ama, uma tensão que tende para a imortalidade, em diversas dimensões, desde a gestação para a reprodução da espécie até ao trabalho que produz obra que persiste para além da vida do seu criador, ao conhecimento, ao Belo, esse, sim, imorredouro e universal e que, por isso, torna imortal o seu criador. Trata-se, aqui, de um importante deus do Olimpo, Eros, deus todo-poderoso, que, segundo Fedro, o poeta grego Hesíodo e o filósofo pré-socrático Parménides consideravam primordial filho do Caos e contemporâneo da Terra (2018: 37), “o mais antigo e venerável dos deuses como o que tem mais poder para levar os homens a alcançar o mérito e a felicidade”, na vida e no além (2018: 61). Em todas as intervenções dos participantes no Banquete a dimensão espiritual sobreleva, domina, ficando a dimensão física, corpórea, sexual num plano inferior, mesmo aquela que supostamente leva à eternidade através da procriação e da reprodução da espécie. Mesmo essa que, afinal, era considerada por Thomas Mann (mas num romance, entenda-se) como Luxúria. Gustav von Aschenbach via em Tadzio, não a luxúria, mas a imagem ideal da Beleza no corpo divino do jovem Tadzio, pelo qual se apaixonou perdidamente até à morte. O amor superlativo (neste caso, homoerótico), o Eros, e a morte, Thánatos, que sobreveio, em Aschenbach, na fascinante cidade de Veneza. Palavras que poderiam ser subscritas por Freud. O belíssimo filme de Visconti permite uma extraordinária visualização de tudo isto.
16.
Eu creio que uma parte muito importante da filosofia só pode ser entendida com as categorias da arte porque é a arte que melhor interpreta a força existencial das ideias, nos leva a acreditar não só na sua existência como parte importante da vida, mas também no seu poder sobre ela, na sua capacidade de fascínio, de sedução e de mover o mundo numa direcção muito melhor do que aquela a que o puro pragmatismo nos conduz. O sonho comanda a vida, dizia o poeta. E basta pensar no poder da música. Mas esta dimensão pode estar presente na mais simples das actividades práticas: num quadro, num vinho, num livro, num objecto. Sim, mas como algo que transcende a sua mera função prática: o valor monetário; o mero prazer físico da bebida; as instruções práticas contidas num livro; o valor instrumental de um objecto. Não, algo que transcende estes valores meramente instrumentais, quando quem os executa põe neles algo a alma e a transcendência temporal.
17.
Um exemplo da relação entre a filosofia e a arte: a filosofia do grande Nietzsche que, no meu entendimento, só pode ser entendida com as categorias da arte. Ou a de Platão, que também era poeta. A filosofia tem na arte a sua mais potente aliada, aquela que lhe pode conferir realismo e poder de sedução. O Nietzsche quando falava, em “A Origem da Tragédia”, na exigência de equilíbrio entre o “espírito apolíneo” e o “espírito dionisíaco”, o que estava a dizer é que o espírito é vazio se não tiver dentro de si as pulsões magmáticas da alma, o eros, porque é na alma que se localizam os sentimentos imprescindíveis para que a obra de arte, por exemplo, a poesia, já formalmente trabalhada pelo espírito, tenha sentido, não seja pura retórica, pura forma, puro virtuosismo de palavras e de ritmo. Puro exibicionismo. Mas isto é o que defende também o nosso famoso neurocientista António Damásio, por exemplo no livro Sentir e Saber (de 2020). Sim, o deus Dionísio, que é o deus do teatro, mas também o deus do vinho, as libações, os cânticos, o perfume inebriante da vida (ou do jasmim), o estremecimento da alma perante um clarão que quase cega (de amor), como no poema de Baudelaire “À une Passante”, em “Les Fleurs du Mal”, esse deus e essas pulsões têm de estar lá a estimular a vida que, depois, Apolo há-de sofisticar com a maquinaria poética, com o duro trabalho do espírito. No fundo, poder dar asas ao desejo, à vontade, ao sentimento, para além dos fins meramente pragmáticos, imediatos. Estes dois deuses, tal como a alma e o espírito, estão condenados a conviver e a cooperar para gerarem obras de arte que resolvam a vida, a imortalizem: como dizia a Marguerite Yourcenar, em Le Temps ce Grand Sculpteur, pela boca de Michelangelo Buonarroti, dirigindo-se ao seu amante: “Gherardo, maintenant tu es plus beau que toi-même”. A minha obra de arte imortalizar-te-á naquilo que só eu pude ver em ti, porque te amei. E porque partes… Mas, assim, com a arte, na partida, eu não te perderei, pois (só) pela arte é possível possuir (isto dizia também o Pessoa do Livro do Desassossego) e só pela arte é possível ver aquilo que mais ninguém consegue ver, sobretudo quando o motor cognitivo é o amor. A arte ajuda-nos a ver o que, de outro modo, ficará oculto ao nosso olhar. E o tempo, esse grande escultor, torna-se assim cúmplice da arte e ambos retiram da vida passada e vivida o seu núcleo aurífero, aquele que resiste ao natural efeito de erosão, projectando-o na imortalidade, eternizando-o. A arte, por isso, é alquímica e o seu principal motor é o amor, a energia propulsora que projecta os seres humanos para um tempo e um espaço que já se situam para além deles próprios. É disto que, afinal, fala o Symposion, em diversas formas e discursos a que o pensamento de Platão dá unidade estratégica, que é esta que tenho vindo a referir. De resto, e para finalizar, sempre poderia recorrer à psicanálise, a Sigmund Freud, e referir as duas pulsões vitais que dominam a dialéctica da nossa existência: o thánatos, a pulsão da morte, e a pulsão representada pelo Eros, pelo amor, a pulsão da vida, que, felizmente, tende sempre a levar vantagem sobre aquela outra pulsão, mantendo-nos vivos, no presente e no futuro, através da procriação que, no meu entendimento, é mais do que luxúria, porque se inscreve na própria dialéctica da natureza. Esta relação está vitalmente muito bem retratada em “Morte em Veneza”: Aschenbach que, permanecendo em Veneza, pois é incapaz de renunciar à visão/paixão de e por Tadzio, o divino num corpo, acaba por morrer nesta cidade única no mundo. Thomas Mann e, depois, Luchino Visconti. Uma obra deste enorme romancista, Thomas Mann, que muito deve ao classicismo grego, designadamente a Platão. Também a psicanálise coloca o Eros no centro da nossa dinâmica vital. E, que mais não fosse, só esta conclusão de uma teoria que está reconhecida como uma importante especialidade médica bastaria para evidenciar a pregnância e o realismo da teoria que subjaz ao Banquete de Platão.
NOTAS
* Veja a introdução a Platão, O Banquete, Lisboa, Relógio d’Água, 2018, pág.s 35-39, de Maria Teresa Schiappa de Azevedo, que também o traduziu do grego e completou com um rico acervo de notas. Mas veja também a excelente edição da Garnier-Flammarion (Paris, 1964, com tradução, introdução e notas de Emile Chambry, pág.s 5-29).
** Barbo, Daniel (2014). “Homosexualidade e Paiderastía em Thomas Mann”. In Calíope: Presença Clássica, 2014.2. Ano XXXI. Número 28. JAS@11-2024

“POLÍTICA E IDEOLOGIA NA ERA DO ALGORITMO”
UM NOVO LIVRO (Apresentação no Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã, 27 de Novembro, pelas 18:00)
De João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS 2024, inspirado numa imagem do documentário “The Social Dilemma”, da NETFLIX
De hoje a oito dias, 27.11, às 18:00, será apresentado este meu novo livro (Política e Ideologia na Era do Algoritmo, S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, 262 pág.s) no Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã, em sessão presidida pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Vítor Pereira. Apresentarão o livro o Dr. Alberto Costa, ex-Ministro da Justiça e da Administração Interna, e o Dr. José Conde Rodrigues, Presidente do Movimento Europeu (Portugal) e ex-Secretário de Estado da Cultura, da Justiça e da Administração Interna.
1.
É um livro sobre política e ideologia. Por que razão decidi publicá-lo? Porque as profundas mudanças que estão a ocorrer em todos os sectores da sociedade contemporânea não têm conhecido uma correspondente resposta no plano da política, a não ser nos seus aspectos mais instrumentais, ou seja, nas técnicas de captação do consenso, ficando, pois, confinada na mera ideia de poder. Por isso, o que está verdadeiramente a acontecer é uma autêntica regressão da política: a conquista e o uso do poder pelo poder. O assalto à cadeira do poder. O grau zero da política. O triunfo do poder como fim de si próprio. Exemplo? O plutopopulismo declarado e triunfante da dupla Donald Trump/Elon Musk, nos Estados Unidos, que não é um país qualquer.
2.
A ideia de autogoverno dos povos como eixo central dos regimes democráticos está a ser cada vez mais reduzida à de exercício do poder, não pelo povo, mas pelo mais forte, por aquele que dispõe de mais meios instrumentais para obter a delegação do poder. O que está a acontecer é um efectivo embrutecimento da política, onde já nem sequer parece ser necessário fingir. A própria brutalidade compensa porque apela aos sentimentos mais básicos e viscerais do ser humano. A política desligada da ética pública, dos valores sociais, de uma visão estratégica para o desenvolvimento económico e civilizacional, onde os cidadãos são vistos como mera massa de manobra para fins puramente utilitários de poder e não como fim expresso da própria política. Plutocracia, não democracia. Guerras de conquista territorial na era da globalização. Uso e abuso da mentira e da força como eficazes meios para chegar ao poder. Instrumentalização do medo para fins políticos. Nacionalismo retrógrado sob forma de soberanismo.
3.
O que é muito estranho é que, dispondo, hoje, a cidadania de meios extraordinários para se informar e para condicionar, por essa via, a vida pública, o que, afinal, se está a verificar é que essa possibilidade se está a converter em regressão, dando razão a Giambattista Vico e aos seus “corsi e ricorsi”, com prevalência dos “ricorsi”. Ou seja, todas essas plataformas de comunicação hoje disponíveis parece terem sido convertidas em instrumentos de opressão simbólica, em vez de tecnologias de libertação, como no início eram conhecidas. Ainda está por fazer o estudo da sua utilização na recente campanha presidencial americana, mas já sabemos que a plataforma “X” foi usada despudoradamente pelo seu proprietário ao serviço da campanha de Donald Trump (tem cerca de 100 milhões de utilizadores nos Estados Unidos), sendo duplamente recompensado por isso: pela enorme subida do valor das acções da Tesla e pelo cargo para que irá ser nomeado pelo novo presidente (Departamento de Eficiência Governamental, DOGE). O que aconteceu em 2016 repetiu-se agora, mas em dose reforçada. O novo Steve Bannon, o da Cambridge Analytica, é agora o plutocapitalista Elon Musk e a sua plataforma Twitter/”X”. O poder económico já dispensa mediadores – assume ele próprio directamente o poder. Já tínhamos visto isto em Itália, com Berlusconi (modelo muito apreciado por Trump). Vêmo-lo agora, agora, outra vez, e sem disfarce, nos Estados Unidos.
4.
A verdade é que estamos a assistir a uma segunda fase de evolução das novas tecnologias, com a sua utilização massiva ao serviço de estratégias estranhas ao interesse dos seus utilizadores por parte das respectivas administrações, designadamente naquele processo nevrálgico que legitima o poder nos regimes democráticos: as eleições e os comportamentos eleitorais. O exemplo de “X” basta para ilustrar esta afirmação. E há uma diferença substancial relativamente às plataformas tradicionais (imprensa, radio, televisão): estas são directamente imputáveis pelas acções que praticam; aqui, só as administrações das grandes plataformas podem ser responsabilizadas genericamente pelo seu uso ilegal e ilegítimo, mas somente no plano comercial e concorrencial, não nos processos de condicionamento do comportamento eleitoral (e em tempo útil). A “mass self-communication” permite uma intrusão no comportamento individual de natureza subliminar, sem visibilidade pública e eventual imputabilidade, sendo também certo que os seus accionistas dominantes alinham politicamente muito à direita. Por exemplo, Elon Musk e Mark Zuckerberg.
5.
E é esta a razão pela qual dedico, no livro, muitas páginas ao chamado “constitucionalismo digital” como modo de superior regulação do comportamento das grandes plataformas digitais. Não me incluo nos apocalípticos, os que vêem nestas plataformas exclusivamente uma nova forma de opressão, de capitalismo ou de imperialismo (a que Shoshana Zuboff, no seu livro A Era do Capitalismo da Vigilância, chama precisamente “Capitalismo da Vigilância”), porque elas vieram dar voz a todos os que não mereciam qualquer atenção por parte do establishment mediático, dos famosos guardiões do espaço público (gatekeepers), quer no plano da informação quer no plano da produção de conteúdos, tendo sido, por isso, conhecidas originariamente como “tecnologias da libertação. Reconheço, todavia, que estamos perante uma realidade altamente sensível e perigosa se as plataformas não estiverem enquadradas por normas rigorosas que delimitem e possam punir a sua acção, em caso de graves desvios, e em especial na área política. É neste sentido que falo em “constitucionalismo digital”. Sabemos que a Cambridge Analytica foi desmantelada, na sequência do escândalo que também viu envolvido o Facebook por ocasião do Brexit e da primeira eleição de Donald Trump. Mas agora também vemos o homem mais rico do mundo e dono do “X” (mas também da Tesla, de SpaceX, de xAI e de Neuralink) pôr ao serviço de Trump, e sem limites na forma como foi usada, a sua rede social. Depois de Steve Bannon, o estratega de 2016, veio Elon Musk, muito mais poderoso e perigoso. O poder do dinheiro e dos meios de condicionamento do comportamento eleitoral e o perfume do poder.
6.
Até agora, e ao que parece cada vez mais, estas plataformas têm sido usadas com mais eficácia pela direita radical (que analiso em três capítulos do livro), não só pela proximidade ideológica dos seus dirigentes, mas também porque as formas de actuação são mais adequadas à linguagem e às suas práticas do que às das formações políticas mais moderadas, designadamente do centro-esquerda. Isto para não falar do desejo de reproduzir o dinheiro e o poder. Algo muito diferente, certamente, mas equivalente ao tabloidismo que tem vindo a colonizar os meios de informação, em especial o audiovisual – o apelo ao negativo como processo mobilizador (de audiências). Um negativo que, no caso das redes sociais, já tem nomes próprios: “fake news” e “pós-verdade”. Disto falo abundantemente no livro, mas falo também, e pela positiva (na III Parte), de um processo em curso que pode ajudar a resolver a velha crise de representação, especialmente porque ele dá voz à cidadania num plano diferente e superior ao que se verifica precisamente no velho tabloidismo mediático. Falo da política deliberativa, que visa uma maior e mais esclarecida intervenção da cidadania nos processos decisionais, logo a começar nos processos eleitorais. Na verdade, já existem poderosas plataformas (ou mesmo partidos-plataforma) cujo objectivo é dar voz organizada à cidadania nos processos públicos, resolvendo o problema da hiperfragmentação e da comercialização da cidadania. Mas muito há a fazer para reorientar a política no perigoso caminho que está a percorrer nos nossos dias.
7.
O que certamente não ajuda a uma evolução em direcção à democracia deliberativa é a nova e avassaladora onda ideológica promovida por aquela que eu designo por “esquerda identitária dos novos direitos” (wokismo, politicamente correcto, revisionismo histórico, etc.) e a que dedico criticamente cerca de 60 páginas (na parte IV do livro). De resto, esta onda ideológica multifacetada e em expansão tem constituído um alimento muito nutritivo e eficaz da direita radical para se afirmar perante uma cidadania que claramente não embarca no radicalismo e nas absurdas reivindicações e princípios desta doutrina identitária. E o que também não ajuda é a tendência do centro-esquerda e do próprio centro-direita a deixarem-se generosamente infiltrar por esta ideologia na ilusão de estarem a colmatar o seu evidente défice ou vazio doutrinário por um enganador progresso civilizacional e por um construtivismo social completamente absurdo. Um exemplo. Um site falso da campanha de Harris, criado e financiado por ordem de Musk, e muito divulgado, procurando enganar o eleitorado democrata e deslocar eleitores para Trump, dava a entender que a campanha democrata estava a promover comportamentos enquadrados nesta ideologia, ou seja a encorajar “a transição sexual nos menores da LGBTQIA” (veja o artigo do matemático David Chavalarias, do CNRS francês, no Libération, de 18.11, pág. 20). É um mero exemplo, mas muito elucidativo. Esperemos que estudos sejam feitos sobre esta campanha porque o assunto é mesmo muito sério.
8.
A conversa sobre a inteligência artificial está a ocupar muito do debate acerca do futuro das sociedades contemporâneas, estando a ser sublinhada a intervenção dos processos automatizados de decisão, independentes da vontade e do processamento humano. O recente livro de Yuval Harari, Nexus, é disso que fala, alertando para os seus perigos. A distribuição e a reprodução digital alargada dos conteúdos pelos algoritmos segundo lógicas que radicam nos comportamentos dos utilizadores, mas que são finalizadas estrategicamente a critérios de programação predefinidos e orientados a objectivos exógenos à comunicação dos utilizadores é já uma constante que pode ser observada por quem se move na rede. Foi isto que aconteceu com os algoritmos da “X” de Musk nesta campanha. É aqui que, de resto, reside, por um lado, o imenso poder das plataformas e, por outro, a impotência do cidadão-utilizador, dedicando o livro muitas páginas a explicar este processo e as suas consequências, designadamente políticas. E todavia, não se trata, como já disse, de uma visão apocalíptica das redes sociais e das grandes plataformas digitais, como infelizmente – mas com alguma razão, pelo que se está a ver nesta segunda fase da evolução das TIC – parece já ser a tendência dominante no mainstream. No livro, procuro não só mostrar os riscos que ameaçam a democracia, mas também as enormes potencialidades que a rede apresenta para um futuro progressivo e amigo da cidadania e da democracia. Mas, como tudo na vida, isto não acontecerá se não lutarmos por um uso decente e positivo das possibilidades que a rede nos oferece, designadamente na política. JAS@11-2024
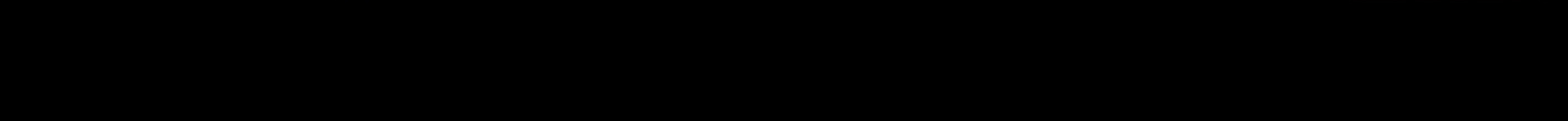
O QUE PARECE É?
A Política e os Apóstolos do Humanismo Socialista
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS 2024
LI, COM ESTUPEFACÇÃO, um artigo de António Costa, Pedro Silva Pereira e José Leitão, no “Público” (de 6 de Novembro), “Em defesa da honra do PS”, partido supostamente desonrado pelo recentemente eleito Presidente da Federação Distrital de Lisboa do PS (cargo do qual, entretanto, se demitiu) e Presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão. Em causa uma Recomendação, proposta pelo Vereador do CHEGA (e as duras palavras de Leão), para alteração do Regulamento Municipal de Habitação que permite resolver o contrato de arrendamento dos que (sejam eles quem forem), dispondo de habitação municipal, sejam condenados, nos termos da lei, por infracção grave à ordem pública, à segurança e às regras da boa convivência. António Costa não desiste de subir permanentemente ao palco da política nacional, apesar de já designado Presidente do Conselho Europeu e de não desempenhar funções políticas institucionais, nem no PS nem no Estado, vindo agora lembrar a Ricardo Leão o longo património humanista do PS, como se este, militante e presidente da maior federação do PS, o desconhecesse e a transformar este seu camarada no grande polarizador da atenção social, depois da morte de Odair, causada por um jovem polícia, e dos graves tumultos que se lhe seguiram em toda a Área Metropolitana de Lisboa. A coisa não é de somenos, pela gravidade dos factos, mas também porque o artigo acaba por atingir o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e o próprio PS que dizem defender.
1.
Aconteceram, de facto, coisas muito graves que polarizaram a atenção social e mediática: morte e destruição. Algo que, felizmente, não é habitual entre nós. Eu teria gostado de ver neste artigo da honra ferida também uma palavra sobre as forças de segurança, sobre a morte do cidadão e sobre a fúria destruidora que assolou a área Metropolitana de Lisboa, designadamente no Município de Loures. Mas nada. O artigo é uma proclamação das políticas humanistas do PS sobre migrações e integração e sobre o Estado de direito. Como se não soubéssemos qual é a identidade do PS, que ninguém põe em causa, sequer os seus adversários. Mas ele é sobretudo um ataque violento a uma decisão da Câmara de Loures, aprovada pelo PS, pelo PSD e pelo CHEGA, com a única oposição do campeão dos direitos, liberdades e garantias, o PCP, relativamente a um Regulamento sobre habitação nas casas de propriedade da Câmara, visando pessoas condenadas por graves distúrbios cometidos naquele território.
2.
Fui ler a Recomendação em causa, tão vituperada neste estranhíssimo artigo. Fossem os três subscritores responsáveis autárquicos em Loures e, paladinos do humanismo socialista, teriam votado ao lado do PCP contra essa horda de anti-humanistas e racistas que ousaram aprovar a iníqua Recomendação. Vejamos, pois, o que ela diz (publico-a na íntegra no final deste artigo): no essencial, o proprietário (o Município de Loures), ao fazer uma alteração ao Regulamento Municipal de Habitação que visa regular a possibilidade de despejo dos arrendatários que comprovadamente sejam promotores de violência e destruição no território concelhio, comprometendo a segurança, “a convivência pacífica e a qualidade de vida das comunidades”, visa, no essencial, e respeitando a lei, contribuir para a prevenção de futuros comportamentos violentos no território concelhio por parte de quem usufrua de habitação municipal. Isto como resposta (preventiva) ao que recentemente aconteceu em toda a área metropolitana de Lisboa, mas, como é óbvio, somente aplicável no futuro, a partir do momento em que seja aprovada a alteração ao Regulamento. Uma norma aplicável quer a imigrantes quer a nacionais. É claro que a introdução de uma alteração deste tipo só é aplicável no futuro, em homenagem à não retroactividade da lei, sendo, por isso, a sua aplicabilidade essencialmente um factor de prevenção, uma forma de dissuasão de futuros comportamentos violentos e destruidores. De resto, o regulamento em vigor é um regulamento aberto e sem cláusulas discriminatórias de qualquer tipo. Por outro lado, também é verdade que o Código Civil dispõe no seu artigo 1083, n.º 2, alínea a ) que “a violação das regras de higiene, de sossego, de boa vizinhança ou de normas constantes do regulamento de condóminos” (ao qual é aplicável este Regulamento Municipal, enquanto o proprietário é o Município) pode constituir fundamento para a resolução do contrato. Tendo lido a recomendação, eu próprio não hesitaria em subscrevê-la, ainda que soubesse que iria ser severamente verberado pelos apóstolos do humanismo deste partido, que é também o meu. A estes eu responderia que sei interpretar textos e que uma mensagem não pode ser interpretada a partir da qualidade daquele que a enuncia (neste caso, o vereador do CHEGA), mas sim pelo que ela é e significa efectivamente. Mas o que parece é que é isto mesmo que se verifica quer no artigo (na parte final) quer no imenso arraial, ou mesmo lamaçal, montado sobre uma Recomendação que provavelmente muitos dos seus críticos nem sequer leram. A cartilha politicamente correcta, ainda que sob forma de um proclamado humanismo socialista, vale sempre muito mais e é com ela que devemos interpretar a realidade. Assim seja.
3.
Do que se trata, efectivamente, é de matéria diferente da do processo penal, aplicável noutra sede, não constituindo, por isso, qualquer tipo de pena acessória. Até porque o arrendatário terá, doravante, conhecimento das condições em que poderá ver o seu contrato resolvido pelo Município. Por outro lado, o argumento de que a medida atinge inaceitavelmente a família do arrendatário, não culpada, ele é simplesmente absurdo. Imagine-se que um qualquer arrendatário, a viver com a respectiva família numa habitação, deixa pura e simplesmente de pagar a renda – o que acontece é que ele terá de deixar livre a casa por incumprimento dos termos do contrato. Mas se o argumento da família fosse legítimo e legal o que aconteceria é que passaríamos a viver num país onde, ao abrigo do princípio moral de protecção da família, quase ninguém poderia ser desalojado de uma habitação, ainda que não cumprisse os termos do contrato de forma reiterada. De norte a sul do país era o que aconteceria. E muito especialmente em habitações de propriedade pública. Se a moda pegasse o já grave problema do arrendamento ficaria muito pior porque não haveria quem se dispusesse a pôr no mercado casas para arrendar. Bom, o Estado-Caritas de António Costa sempre podia construir casas para oferecer à cidadania, matando o problema logo na raiz.
4.
O tão invocado argumento da pena acessória é, pois, pura e simplesmente instrumental, errado e pouco convincente porque o direito a pôr termo ao contrato está previsto na lei e está abrangido por um ramo do direito diferente, o direito civil, aplicável subsidiariamente, no caso dos municípios, por via da remissão do direito administrativo, no âmbito do qual são resolvidos os contratos, e não o penal, aplicável aos desacatos públicos. O mesmo acontece, como já disse, para quem deixar de pagar a renda. Esta acção é, pois, completamente independente do julgamento por actos de vandalismo em geral e está prevista nos contratos. É uma acção totalmente autónoma, que nada tem a ver com o processo judicial instaurado por desacatos públicos. E a conclusão subsequente, de que, assim, a família também é atingida, e não só o titular do arrendamento, infelizmente é correcta, porque será isso que acontecerá. Mas isso é o que também acontece em qualquer parte do território nacional quando um arrendatário, por exemplo, deixa de pagar a renda e tem de libertar o imóvel. Também aqui, infelizmente, a família será atingida. Mas nada há a fazer, caso contrário, um dia destes, nenhum arrendatário pagará a renda sem que possa ser despejado… porque vive lá com a família. Uma bela maneira de resolver a falta de habitação para arrendamento em nome do humanismo. Quem o faria nestas condições?
5.
Estes três socialistas, com este artigo, estão a cavalgar deliberadamente a onda avassaladora do politicamente correcto e do wokismo, cujos estragos acabam de ser bem visíveis nos Estados Unidos, ao vermos eleito o mais anti-wokista que é possível imaginar. Mas, sobretudo, parece que estão a combater mais o PS, este PS, do que a defender o seu humanismo; que estão a alinhar numa onda, recentemente interpretada por Vieira da Silva e por quantos apontaram o dedo em riste ao SG do PS a propósito das suas declarações em torno do orçamento; que se está a formar uma corrente para lançar uma alternativa à liderança de Pedro Nuno Santos, apeando-o da liderança. Isto para não falar da preciosa ajuda (talvez seja isso) que estão a dar ao seu próprio partido para as próximas eleições autárquicas de Loures. Mas verdadeiramente não sei se têm algum candidato alternativo que queira deslocar-se de Ferrari para a Presidência da Câmara insatisfeitos com o burro em que, nas próximas eleições, certamente se deslocará o candidato Ricardo Leão, depois de se ter demitido da distrital de Lisboa, para, mais uma vez, e ao contrário de Costa, ganhar a Câmara de Loures para o PS.
6.
António Costa faria melhor se se concentrasse nos dossiers da União Europeia e se tudo fizesse para ver esclarecida a sua situação no famoso inquérito em que continua envolvido. Até pela delicadeza da situação, inclusive no plano ético. O anúncio público do inquérito levou-o a entregar de imediato a maioria absoluta do PS nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa (e talvez a decisão tenha sido errada), mas já não fez o mesmo ao não entregar o convite para Presidente do Conselho Europeu nas mãos da senhora Ursula von der Leyen, apesar de se manter sob suspeita judicial (e também talvez a decisão tenha sido, de novo, errada). A verdade é que se trata de uma questão com relevo nacional e internacional e, ao contrário do que diz o novo Procurador-Geral, os responsáveis pela justiça têm o dever de se pronunciar rápida e definitivamente sobre o assunto, vista a relevância do cargo para que António Costa foi designado. Mas não, logo aceitou rapidamente o cargo ainda que o mesmo inquérito se mantivesse plenamente activo (como está). A ética que o moveu em Portugal para abandonar o cargo de PM deveria tê-lo movido também no caso da União Europeia. A ética do PS, que deve ser só uma, seria, assim, melhor defendida se António Costa não revelasse ter duas, de acordo com as suas conveniências pessoais: uma aqui e outra na Europa.
7.
Esta sua intervenção é verdadeiramente infeliz a todos os títulos pois constitui um grave ataque ao seu partido de sempre e uma bênção a um governo em graves dificuldades perante o que aconteceu na Área Metropolitana de Lisboa e, agora, ao que parece, com o socorro de emergência do SNS. Não me admiraria que, feitas bem as contas, no fim, o culpado disto tudo ainda acabe por vir a ser o Presidente da Câmara da Loures, Ricardo Leão. Luís Montenegro deverá estar radiante com esta generosa dádiva de António Costa. E, mais uma vez, Pedro Nuno Santos se sentirá visado com esta infeliz e inoportuna intervenção do antigo líder. E, com ele, o PS.
8.
Têm sido cometido erros, certamente, mas, quanto a mim, o maior deles foi o de António Costa ao entregar inopinadamente a maioria absoluta do PS nas mãos de MRS para que, assim, se abrisse, e sem obstáculos simbólicos, e até na condição de vítima inocente, uma clareira para a sua caminhada rumo a Bruxelas. Agora acrescentou-lhe mais este. Como disse, e bem, Duarte Cordeiro: tratou-se de um acto arrogante e desnecessário.
9.
Depois, eu, que sou militrante do PS há várias décadas, confesso que não me revejo minimamente na defesa da minha honra política por esse arauto do socialismo mundial chamado Silva Pereira, porque de nada me lembro que possa fazer dele um autorizado apóstolo de uma qualquer fé socialista, a não ser da sua.
10.
Não sei, mas esta iniciativa mais me parece um teste à liderança de PNS e à consistência dos seus apoios no interior do próprio partido e até da sua própria maioria. Se pensarmos no modo como, ainda recentemente, certos socialistas encartados se referiram à sua liderança a propósito da questão do orçamento não parece ser desadequada esta leitura, reforçada agora pelas divisões internas que o assunto já está a provocar, inclusivamente na área da própria maioria do secretário-geral, onde infelizmente pululam muitos defensores acirrados do politicamente correcto, do wokismo e da ideologia de género. E esta é uma matéria que deveria merecer a mais atenta das reflexões. No que me toca, a ela me dedico detalhada e criticamente na obra que apresentarei no Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã, no dia 27 de Novembro, pelas 18.00 (em particular na parte IV): “Política e Ideologia na Era do Algoritmo” (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, 262 pág.s). Se se quiser assim entender, este meu livro poderá ser considerado como um humilde contributo para os novos Estados Gerais do PS.
NOTA
O texto integral da Recomendação, proposta pelo CHEGA, aprovada em sessão de Câmara com os votos favoráveis do PS, do PSD e do CHEGA e com o voto contra do PCP. Texto:
76.ª Reunião Ordinária 30/10/2024 N° 696/2024 Recomendação
Alteração do Regulamento Municipal de Habitação.
“Nos últimos dias, temos assistido a um aumento preocupante de atos de vandalismo e desacatos em diversos bairros municipais de Loures e não só, perpetrados alegadamente por indivíduos que habitam estas áreas. Os distúrbios em vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa acontecem após a morte de um homem baleado pela PSP, no bairro do Zambujal, no concelho da Amadora. Segundo a PSP, o homem pôs-se “em fuga” de automóvel depois de ver uma viatura policial e “entrou em despiste” na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, terá resistido à detenção. É imperativo que a gestão da habitação municipal leve em consideração a responsabilidade cívica dos inquilinos. A manutenção da ordem e da tranquilidade nas nossas comunidades deve ser uma prioridade. Esses comportamentos não apenas comprometem a segurança dos moradores, mas também prejudicam a convivência pacífica e a qualidade de vida nas comunidades. Na madrugada da passada quinta-feira, dia 24 de outubro, um autocarro foi incendiado em Santo António dos Cavaleiros, após o arremesso de diversos cocktails molotov, tendo o motorista da Caris Metropolitana sofrido ferimentos graves no tórax eno rosto, e está agora na unidade de queimados do Hospital de Santa Maria. Neste episódio para além deste autocarro, foram incendiados mais dois carros. Na noite anterior já tinham sido registados desacatos em várias localidades do concelho;
Considerando que a habitação municipal deve ser um direito acessível a todos, é fundamental garantir que os recursos habitacionais sejam destinados a cidadãos que repeitam as normas sociais e legais. A presença de indivíduos que cometem actos ilícitos pode comprometer a segurança e a qualidade de vida de todos os lourenses. Assim, considera o vereador do partido CHEGA, e como forma de dissuadir a prática de quaisquer tipos de ilícitos, por parte dos arrendatérios das habitações municipais que, ao ser provada a participação e/ou incentivo nestes ilícitos, que seja dada imediata ordem de despejo, recomendando para isso ao executivo municipal que seja feita a segunda alteração ao Regulamento de Habitação do Município de Loures”. JAS@11–2024
NOVOS FRAGMENTOS (IV)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos

“Campainhas do Paraíso”. JAS 2022 – 94×119, papel de algodão, 310gr, e verniz Hahnemuehle, Artglass AR70, mold. de madeira
I.
A PINTURA, em registo sinestésico com a poesia, acrescenta beleza à beleza do canto poético. É projecção sensorial e ajuda a colocar o canto poético na esfera da visibilidade sem perder a sua autonomia, a sua identidade estética, propondo-se para além do poema com o qual coopera. É a missão da arte: tornar a vida mais bela do que ela já é, com todas as suas inevitáveis imperfeições e cicatrizes, acrescentando-lhe sentido e valor estético. As imperfeições e as cicatrizes que a vida deixa como marca no ser humano são na poesia reconvertidas, transfiguradas com palavras e melodia – a tristeza torna-se doce melancolia, a dor leve e elegante suspiro. Não há bagas no azevinho do Jardim? Criam-se, ainda mais belas e fartas, mais quentes e da cor do nosso sangue. Mas o real ajuda. Ver e sentir a beleza das bagas vermelhinhas ajuda a recriá-las, estimula e inspira o poeta e o pintor. Quero-as porque um dia as vi e me fascinaram. Quem nunca amou talvez não consiga cantar o amor. Não o viu, não saberá que forma tem, não o reconhecerá. Permanece como algo externo, não interior. A palavra poética tem de trazer consigo, agarrada a si, a pulsão que a motivou. Pulsão de vida, eros. E não a pode expulsar do perímetro da sua significação. Mas também é verdade que quem amou, se não for favorecido pelo sopro de Apolo, não pode eternizar o amor. Não vou tão longe como Ágaton (o festejado poeta do Symposion de Platão) dizendo que basta ser atingido pelo Eros para se tornar poeta, mesmo que antes não fosse sensível ao olhar fatal das musas. Isso não acontece, seguramente, aos que se mantiverem confinados na circularidade do prazer físico, desconhecendo as exigências de Apolo. De qualquer modo, quem o sofreu quer voltar a tê-lo, cantando-o, se for ajudado pelos deuses. Por Dionísio, por Afrodite (celeste, não popular), por Athena, por Apolo. A poesia alimenta-se da perda, da ausência, da dor, do silêncio. E recria um mundo onde estes sentimentos surgem transfigurados. Do silêncio sai o eco que se pode ouvir e sentir na poesia. Da ausência, por perda, resulta uma recriação ainda mais bela porque o poeta conservou o melhor do ausente, aquilo que outros nunca conseguirão ver nele. São estes os caminhos que a poesia percorre e é daqui que o seu poder terapêutico nasce.
II.
Bagas foi mesmo o que, um dia, senti que fazia falta no jardim da minha inspiração. Acontece-me frequentemente sentir que ali me falta ainda alguma coisa. Neste caso, bem fui tentando que os azevinhos mas oferecessem, mas a vida (e a natureza) tem destas coisas. Muitas coisas nos recusa. Mesmo quando se tenta alcançá-las com todos os recursos de que dispomos. Mas felizmente que há a poesia e a pintura. A arte. Com ela, se a inspiração não nos faltar, podemos completar e tornar mais belo o real. Ser menos infelizes. Não se trata, todavia, de construir um mundo idílico, uma utopia onde tudo seja perfeito e indolor. Não, o poeta leva a dor consigo, acarinha-a, faz dela sua companheira íntima, numa tal cumplicidade que chega a parecer impossível ou, pelo menos, contraditória. Depois verbaliza-a amigavelmente, tradu-la em palavras melodicamente compostas, dotando-a de novas qualidades ancoradas na exigência estética. Qualidades emergentes. A arte não substitui o real, não o nega nem o reproduz. Projecta-o para uma sua nova dimensão com características muito especiais – as que falam directamente à sensibilidade. A arte sofistica a realidade e atinge dimensões que não são imediatamente visíveis, a olho nu. É ela que, com a sua linguagem, as torna acessíveis à sensibilidade. De almas sensíveis, naturalmente.
III.
A virtude da poesia: eleva o que, às vezes, pode parecer somente negativo. Por defeito ou por excesso. Claro, a realidade tem todas aquelas impurezas e cicatrizes que a tornam, sim, realidade. A pureza é do foro do irreal. Vêm os pássaros e criam desordem naquilo que nós, seres humanos, queremos ordenado. Ainda bem que vêm. Mas, afinal, acabamos por construir espantalhos para que eles não roubem e desordenem aquilo que levou tempo e trabalho a criar e a ordenar. Mas é a vida, a impura vida, sempre sujeita a fenómenos disruptivos, a dinâmicas que escapam à nossa vontade de ordem, de harmonia, de paz. É essa vida que transpomos para a poesia como se se tratasse de uma logoterapia com perfil estético. Mas claro que é mais do que isso. É imperativo existencial. Resposta sentida a uma vida que parece estar a ser negada, neste caso na forma de um azevinho que não nos dá as desejadas bagas vermelhas ou, então, de um amor não correspondido. Ou de um jardim sem pássaros. Entre uma coisa e a outra, eu prefiro a desordem, o caos, os pássaros no jardim, com a desordem que possam provocar. Por exemplo, comendo as uvas da latada ou picando os pêssegos do pessegueiro. Ou fazendo ninhos no loureiro e no telheiro. O que eu prefiro, realmente, são os “espantalhos” poéticos, feitos de palavras, com carinho. Os que não afastam os pássaros, mas, antes, os atraem. Os que até atraem amores improváveis. Os outros são injustos: os pássaros só “roubam” aquilo de que precisam. Nem roubo se pode considerar porque está inscrito na ordem natural. Eles vão ao jardim, fazem ninhos no telheiro e no imenso loureiro, pois fazem. Quando o podo, o loureiro, tenho sempre muito cuidado em preservar os ninhos. E gosto de ver e ouvir as crias que já crescem nos ninhos do telheiro até partirem rumo ao céu azul. A vida, portanto. Se tivesse bagas vermelhinhas teriam vindo mais pássaros ao jardim, certamente, e isso significaria trazer-lhe mais vida. E, se calhar, satisfeito, nem teria cantado as maravilhas das bagas que o azevinho não tinha. Foi a falta delas que me levou a cantá-las e a pintá-las. Como sempre e com tudo. Mas se não houvesse pássaros (coisa impossível) haveria de os cantar O centro da questão é este: a dialéctica entre o belo e o feio, o puro e o impuro, o mortal e o eterno, o desordenado e o ordenado, a ausência e a presença, o silêncio e o som. A Diotima (o Sócrates e o Platão) dizia que o EROS estava entre uma coisa e a outra, por ser filho da Pobreza (Penía) e do Engenho (Poros). Uma dupla identidade que o torna divindidade, mas também mortal. Daimon. Também a poesia é um compromisso entre uma coisa e a outra, sendo, em parte, cada uma delas. Irmanam-se, o amor e a poesia, e é por isso que um induz o outro. Mas é verdade: o amor é um poderoso propulsor de poesia. Ele liga os elementos, o mortal e o imortal. Nisso concordo com o poeta e dramaturgo Ágaton. Até porque, a crer nas palavras de Nietzsche, nas suas (dos gregos) tragédias existe sempre uma harmonia entre o “espírito dionisíaco” e o espírito apolíneo”, entre a alma e o espírito.
IV.
Excursus ou uma introspecção literária. Nesta escrita dos fragmentos combino sempre duas coisas: o sentido dos comentários dos leitores ao poema em causa e as minhas respostas, logo no momento em que os leio. Depois, passado algum tempo, vem a livre reelaboração das respostas, autonomizando-as dos comentários e da referência directa ao poema. É nesta fase que posso avançar para a dimensão mais teórica e reflexiva, libertando-me completamente, a ponto de, por vezes, acabar, inadvertidamente, por regressar à poesia, mas em prosa, apercebendo-me disso só após a leitura do próprio fragmento. Momentos de especial inspiração. Para reflectir acerca da génese ou da matriz da poesia parto sempre da minha própria experiência, enquanto poeta (se é que já tenho esse estatuto). O que não significa que, depois, não me confronte com o que os grandes poetas disseram da sua própria arte. Com o que cada um pensa (analiticamente) do que faz. Fi-lo em “A Dor e o Sublime”. Lembro-me sempre do Edgar Allan Poe e da sua bela exposição acerca de “O Corvo” no seu texto sobre a Filosofia da Composição. Depois, regresso ao meu próprio mundo, certamente mais rico com o que aprendi. É uma dialéctica progressiva. Mas o que é decisivo é sempre o exercício poético e a causa do poetar. Escrever sobre o que faço não é certamente tão importante como o próprio poetar. É nesse acto que verdadeiramente me liberto e me realizo. E é assim porque a poesia é verdadeiramente uma arte extraordinária, sobretudo pela sua dimensão altamente performativa.
V.
“É exactamente a isso que o poema-arietta alude”, respondia assim a um comentário que falava em tornar os sonhos palpáveis e as ilusões esperança. Eu sempre sonhei ter no meu jardim azevinhos com muitas bagas vermelhinhas. E a musa está sempre lá, onde o poeta caminha com a sua fantasia. Faltam, no jardim, as tão desejadas bagas vermelhinhas da cor do seu sangue? Pede-as à musa e ela dá-lhas, sob forma de estímulo inspirador. E o pintor, também ele seduzido, ajuda. Num quadro alusivo a uma poesia há uma folha de azevinho e muitas, mesmo muitas, bagas. Um excesso, quase uma compensação pela recusa dos azevinhos, que não dão bagas. Na fantasia, a abundância cresce, tem de crescer, porque quem não é rico em fantasia fica ainda mais pobre na realidade. Ora aqui está algo que muitos não sabem, acabando por transportar para a fantasia a pobreza com que lidam no real e com que vão sobrevivendo. Acabam por não chegar lá, ao Monte Parnaso. Mas também há os que querem lá chegar com retórica em excesso, transcurando o que deve sempre estar com eles, essa alma ferida. Mas, assim, também esses não chegam lá porque tudo aquilo que transportam é simples virtuosismo, exibicionismo, puro contorcionismo verbal. Na viagem o poeta vai sempre carregado e pesado sendo necessário uma forte propulsão. Não era assim que Sísifo ia? E o poeta tem muito de Sísifo…
VI.
As bagas, afinal, são a ponte entre o real e o fantástico. Como, aliás, a poesia. A história tem um referente na realidade: procurei um novo azevinho para o meu jardim porque o outro não as tinha, as bagas. Só que o novo também as não tem. Pois bem, se as bagas não nascem faço-as eu nascer. Poeticamente. E muitas mais do que as que o novo azevinho daria, mas não deu. Assim pode ser também no amor: “Gherardo, maintenant tu es plus beau que toi-même”. A poesia pode dar-nos o que não temos, em beleza e em dimensão ainda superiores. A abundância poética recobre a escassez do real. Entre uma e outra está a fantasia. E ela pode produzir um efeito de arrastamento, levando consigo o que perdeu, o ausente e o seu silêncio, como eco, e repor a esperança onde só parece existir pobre ilusão. É este o seu poder. E é ainda maior quando se trata das coisas da alma. Ela pode curar essa “maladie de l’âme” que é o amor, elevando-o e preservando-o da erosão do tempo. Imortalizando-o, pela arte. Como dizia o Honoré de Balzac: o amor é a poesia dos sentidos. Que mais não seja do que por isso, é legítimo o que Ágaton disse da relação entre o amor e a poesia.
VII.
Se o ser humano fosse perfeito não seria humano nem haveria necessidade de arte para tornar o imperfeito suportável e até belo. A arte é resultado da imperfeição humana. Uma elegante prótese humana. Mas nem todos podem criar, sendo, todavia, certo que a fruição estética é também ela parte integrante e indissociável da arte. A arte também nasce para ser partilhada, comunicada e só quando é objecto de partilha se realiza plenamente. A partilha, de resto, é como que a sua própria certificação. Afinal, através do que outros escrevem, sempre é possível contemplar esteticamente o que nós próprios sentimos. É essa a beleza da arte. Um espelho mágico.
VIII.
Atrever-me-ia a dizer que às vezes certos comentários, muito breves, mas certeiros, são também eles “sinestéticos” porque em poucas palavras conseguem sintetizar o encontro entre a pintura e a poesia. Perfeitos. Por exemplo: A lua que desce sobre o poeta, lhe ilumina a fantasia e recria (ao luar) o que não aconteceu, mas podia ter acontecido. Doce melancolia, a que a poesia e a pintura oferecem ao poeta.
IX.
Sim, fazer da vida jardim e do jardim lugar de poesia – é essa a meta do poeta. De resto, segundo Ágaton, em “O Banquete”, de Platão, o amor (Eros) “não toma por morada o que não floresce ou já está murcho, trate-se de corpos, almas ou seja o que for… Só quando encontra um sítio adornado de flores e perfumes, então pousa e se instala” (Platão, O Banquete, Lisboa, Relógio d’Água, 2018: 90). Século IV, a.C. Tudo converge para aí. Até porque é lá que se encontram os estímulos que levam o poeta a cantar. Entre eles, o loureiro, de Apolo, e o jasmim de que Dionísio gosta. O aroma deste é tão potente que o poeta fica embriagado (as libações, neste caso de intensos aromas) e voa com palavras tão alto, tão alto que acaba por lhe acontecer o mesmo que a Ícaro. Mas sem consequências fatais. E felizmente que o jasmim volta a dar-lhe energia para voar no céu de um poema. E é assim que o poeta vai vivendo e é feliz. E note-se o que Ágaton ainda diz do poder do Amor: “e para que também eu preste as honras à minha arte (a poesia, a tragédia), tal como Erixímaco (médico) prestou à sua, começo por falar na sabedoria do deus como poeta: um poeta tão hábil que sabe, inclusive, transmitir a outros a sua arte! Certo é que todo o homem bafejado pelo Amor, ‘mesmo antes avesso às musas’, adquire o dom da poesia… E eis o testemunho ideal para mostrar a excelência do Amor em todo o género de criação ligado às artes” (2018: 92). Mas eu acho que EROS precisa da ajuda de Apolo para levar a bom porto a sua missão. Que pode terminar com uma coroa de louros concedida por Apolo, lá no Parnaso, quando a obra for merecedora. JAS@11-2024
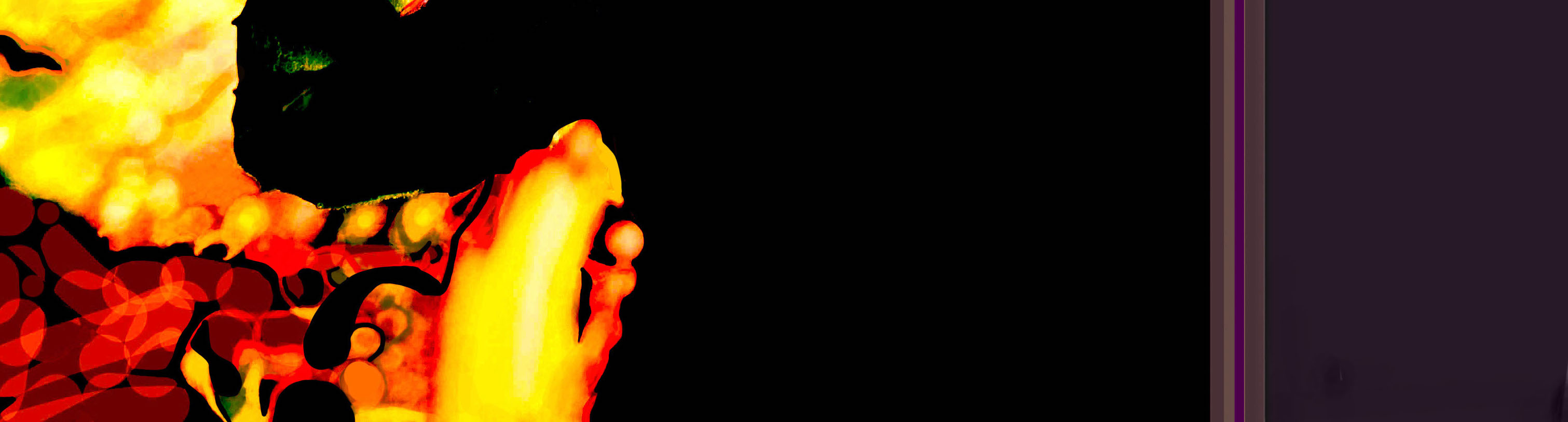
TRUMP É MESMO FASCISTA?
Por João de Almeida Santos

“S/Título”, JAS 2024
NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA vota-se nos Estados Unidos para eleger o Presidente do mais poderoso país do planeta, numa época em que se vive uma extrema instabilidade internacional e uma forte ascensão política da direita radical em todo o mundo, incluída a Europa. E também ali parece estar a jogar-se algo decisivo. Algo que até pode ser considerado como um processo onde se joga o futuro da democracia americana, tendo o candidato republicano evoluído, desde que perdeu as eleições em 2020, para uma visão cada vez mais radical, a ponto de se poder temer pela sobrevivência da própria democracia americana ou, pelo menos, para uma sua forte descaracterização. Muitos se têm interrogado sobre quais são as reais intenções de Trump e como poderá ser definida a sua visão da política e da democracia. Talvez a sua visão reduza a política ao exercício do poder, à sua conquista e preservação. E a nada mais, para além das proclamações eleitorais para obtenção do consenso. De resto, seguindo uma tendência que, infelizmente, me parece ser hoje dominante. Na verdade, do que se trata é de um autêntico plutocapitalismo. Se dúvidas houvesse, e não há, bastaria tomar em consideração a presença activa na campanha de Trump daquele que dizem ser o homem mais rico do mundo, Elon Musk.
1.
É frequente a identificação da extrema-direita ou direita radical, em que Trump se filia, e cada vez mais, com o fascismo. Ou seja, atribuir-lhe as características que tinha o velho fascismo italiano personalizado em Mussolini, “Il Duce”, também conhecido como “Er Puzzone”, alguém não recomendável. De resto, a Itália dos nossos dias até já é governada por um partido cujo antepassado é o partido fascista de Mussolini, estando também na ordem do dia saber se o partido “Fratelli d’Italia”, de Giorgia Meloni, se identifica, ou não, com esse passado. Julgo ter respondido a esta questão no meu livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, pp. 101-118), que será lançado nos finais de Novembro, na Covilhã. Não é, pois, muito estranho que a pergunta formulada no título deste artigo se aplique também ao candidato presidencial republicano. Sobretudo depois de o general Mark Milley e o seu ex-chefe de gabinete, John Kelly, assim o terem qualificado, depois de Joe Biden e Kamala Harris terem retomado essa qualificação e de vários historiadores a terem também, finalmente, considerado adequada. Sobretudo se referida aos últimos tempos.
2.
E começo por reconhecer que, sem dúvida, comparações históricas é sempre possível fazê-las. Sim, mas salvaguardando as diferenças temporais, pois parece ser verdade que, não obstante os “corsi e ricorsi” de que falava, e bem, Giambattista Vico, a história não se repete, sendo cada acontecimento histórico único, na sua singularidade temporal. Neste caso, bastaria referir dois aspectos para concluir pela inadequação desta caracterização: por um lado, estávamos no período entre guerras, com os efeitos desastrosos da primeira Guerra Mundial e a experiência da Revolução soviética a influenciar a política europeia; por outro, o fascismo aconteceu no período florescente das grandes narrativas políticas e ideológicas, hoje em claro declínio, tendo ele próprio contribuído para dar consistência ideológica, e até artística (veja-se, por exemplo, o futurismo de Marinetti), a esta orientação política. Estes dois aspectos bastariam para limitar as tentativas de classificar a política actual da extrema direita com o termo “fascista”. Mas é claro que há no discurso de Trump elementos que remetem para o fascismo: o regresso aos velhos, gloriosos e heróicos tempos do império; o inimigo externo já infiltrado internamente que ameaça a pureza étnica da nação e a necessidade de o combater com a lógica e as armas da guerra (com as forças armadas); e, finalmente, a extrema personalização da política e do partido em Trump, identificado cada vez mais como um líder carismático que tende a apresentar-se como o intérprete único dos americanos: “I am your voice” e quero tornar “America Great Again”. Fazer renascer de novo a América humilhada, que lembra uma frase que surge no início do filme de Leni Riefenstahl, “Triumph des Willens”, sobre o regresso de Hitler a Nuremberg, “dezanove meses depois do início do renascimento da Alemanha” (em 1933), humilhada em Versailles. O que não parece ser muito estranho se nos lembrarmos do que seus colaboradores próximos disseram acerca da sua opinião sobre Hitler e sobre os seus generais e, ainda, do que disse, em “Madison Square Garden”, no dia 27.10, sobre os Estados Unidos como um país “ocupado” que ele irá “libertar logo no primeiro dia”. Uma espécie de “deus ex machina” a aterrar no palco americano, no dia 5 de Novembro. Poderá ser exagero, mas que os ingredientes e o simbolismo estão lá, isso é verdade. Uma pergunta legítima: e se perder as eleições, o que acontecerá? Novo e mais violento assalto ao Capitólio?
3.
Podemos dizer que é o regresso de uma grande narrativa política e ideológica, de uma doutrina, de uma visão do mundo estruturada com força normativa, ou seja, com o poder de ritualizar a vida dos americanos? Não creio. O que estamos a ver é a exploração de um discurso sobretudo instrumental dirigido às pulsões mais básicas dos cidadãos com vista a obter consenso para uma vitória eleitoral e o acesso ao poder. Não é tecnicamente inocente a linguagem disruptiva e até chocante de Trump – ela visa no essencial polarizar a atenção social sobre si, o que é considerado determinante no discurso político (veja-se a teoria do “agenda-setting” ou a teoria da “espiral do silêncio”). Estamos a assistir a uma lenta caminhada para um regime de partido único? Também não creio. Aquilo a que estamos a assistir é à personalização extrema do partido republicano na figura carismática de Donald Trump e à evolução para o modelo populista de acção política e de governo. Nem grande narrativa nem partido único, portanto. Estamos a assistir ao triunfo da força sobre o consenso? Não creio, apesar dos passados distúrbios do Capitolio e da ameaça de deportações em massa. Sobretudo do que se trata é, por um lado, de uma linguagem truculenta centrada em temas fracturantes (como é o da imigração) e que apela aos instintos mais básicos dos eleitores e, por outro lado, a uma profunda viragem institucional própria da direita radical e que consiste na atrofia da separação dos poderes em benefício exclusivo do poder presidencial. Veja-se, a este propósito, o dossier publicado pelo New York Times (de 26.10.2024, na primeira página e nas páginas A10-A13) acerca do que aconterá se Trump ganhar as eleições. Cito um pequeno extracto “If Trump wins” – “Donald J. Trump and his associates have a broad goal to alter the balance of power by increasing the president’s authority over every part of the federal government that currently operates independently of the White House”. O NYT retoma um estudo feito por The Times. No meu livro Política e Ideologia na era do Algoritmo, já referido, explico em que consiste este modelo de concentração do poder no executivo já assumido de forma generalizada pela direita radical.
4.
Mas, mesmo assim, isto justifica que liquidemos o fenómeno Trump com a palavra fascismo? A verdade é que, fazendo isto, o que acontece é que se está a cobrir a realidade com um véu translúcido que não deixa ver com nitidez o que se está a passar na política americana. Li no “Público (de 28.10.2024) um artigo (“Sanewashing e a longa entronização de Trump”) de uma professora da Universidade de Boston, Daniela Melo, que discorre sobre uma fórmula, “sanewashing”, que exprime a lavagem linguística, pelo jornalismo, da linguagem disruptiva e desconexa de Donald Trump como inadvertido contributo para uma bonificação da imagem do famoso plutopopulista. O pudor jornalístico da melhor imprensa a impedir-se de transcrever a linguagem rude e truculenta de Trump como contributo não intencional para a sua entronização. Coisa antiga, diz a articulista. Pelo menos, desde os tempos de “The Apprentice”. Mas li também um pequeno ensaio, publicado no “Libération” (28.10.2024: 20-21), da autoria de Sylvie Laurent, professora em Sciences-Po, Paris, intitulado precisamente “Trump est-il fasciste?”, que acaba por dar uma resposta de certo modo positiva à pergunta formulada pelo título. Com efeito, ela termina o artigo da seguinte maneira: “Da primeira vez (2016), não se tratava senão daquilo a que se chamou um ‘fascismo inacabado, experimental e especulativo’. Mas, amanhã?”. Conclusão que se segue à descrição dos elementos considerados fascizantes no discurso e no projecto político de Trump: “medo eugenista de declínio moral e étnico do país, uso da violência política, racismo matricial, ódio aos movimentos sociais e à esquerda cultural e ressentimento em relação ao Estado e às instituições públicas consideradas corruptas e fracas”. Um horizonte contra-revolucionário que, de acordo com a autora, não visa somente a revolução igualitária dos direitos e liberdades dos anos ’60, mas a própria revolução liberal de 1776, que procedeu à separação dos poderes e que reconhecia o direito de voto e a soberania a cada um. A autora podia ter acrescentado a tudo isto, reforçando esta argumentação, o não reconhecimento da vitória de Joe Biden, em 2020, e o assalto violento ao Capitólio, que mais pareceu uma tentativa de golpe de Estado, ao estilo da farsa mussoliniana da “Marcha sobre Roma”.
5.
Estas características podem muito bem ser enquadradas pela ideia de um plutopopulismo centrado no carisma e na figura de Trump e, já agora, pelos compagnons de route plutocráticos de que Elon Musk é o símbolo mais visível. Mas uma coisa há que perguntar: trata-se verdadeiramente de uma doutrina, de uma ideologia, de uma mundividência sólida ou simplesmente de um processo instrumental de pura conquista do poder no quadro de uma visão de tipo absolutista, perfeitamente alinhada com a que já é hoje claramente assumida pela direita radical-populista e que, noutros países com enquadramento constitucional diferente, podemos classificar como presidencialismo do primeiro-ministro e que, em Itália, já é conhecido como “Premierato”?
6.
A clarificação desta questão não é de somenos, pois o uso e abuso de certas fórmulas (por exemplo, esta de classificar como fascista ou como comunista tudo o que esteja fora do perímetro político do catalogador) para reconhecer e explicar a realidade política e para fazer combate político parece-me dever ter duas leituras: a) este exercício discursivo não só é cognitivamente ineficaz e incorrecto, b) mas ele também esconde uma técnica que é mais própria das autocracias do que das democracias, ou seja, a identificação de um inimigo interno e/ou externo não só para tocar a rebate e unir forças para o combate, mas também para esconder a pobreza doutrinária e cognitiva das forças que usam e abusam destas fórmulas. Em suma, uma lógica de guerra que não está alinhada com a natureza da democracia. A tendência para ver tudo a preto e branco não anuncia grandes resultados intelectuais nem políticos.
7.
Sylvie Laurent, para fundamentar a sua posição, lembra, e bem, o uso de determinadas expressões de Trump: o inimigo do interior; dia da libertação para uma América ocupada (o cinco de Novembro); nós defenderemos o nosso território, as nossas famílias, as nossas comunidades, a nossa civilização; nós não seremos conquistados; não seremos invadidos; vamos recuperar a nossa soberania; recuperaremos a nossa nação – e eu devolver-vos-ei a vossa liberdade e a vossa vida; e, finalmente, algo que soaria bem em Mussolini: “nós temos entre nós pessoas nocivas, doentes, loucos radicais de esquerda… será necessário ocupar-se deles, se necessário, pela Guarda nacional e, porque não?, pelas forças armadas”. Poder-se-ia, para finalizar, acrescentar: “I am your voice!”
O que resulta de tudo isto é a ideia de que a América precisa de uma guerra de libertação porque se trata de um país ocupado (mas só nos últimos 4 anos, entendamo-nos). Trata-se de uma linguagem bélica e de uso daquela categoria que Carl Schmitt considerava ser a dicotomia central da política: a relação amigo-inimigo. Só que esta relação pertence mais à lógica da guerra do que à lógica da política democrática, onde não há inimigos, mas adversários em competição regulada por normas por todos aceites. O que, a considerar-se o que aconteceu com as últimas eleições e com o episódio do assalto ao Capitólio, parece não ser o caso de Trump. A verdade é que ele “evoluiu” muito (mas de forma regressiva) desde a sua Presidência, designadamente em relação ao próprio partido, que hoje controla totalmente. Controlo que, pelos vistos, aspira a projectar para dentro do Estado, intensificando o que já fizera na sua presidência. Ou seja, controlando as instâncias que em democracia funcionam como contra-poderes (os famosos pesos e contrapesos) e tratando como inimigos todos os que estejam fora do seu perímetro político, se preciso usando as forças armadas. Um discurso que radicaliza ainda mais aquela que foi a sua gestão entre 2017 e 2021. Por isso, também eu, tal como Sylvie Laurent, me interrogo: e amanhã? JAS@10.2024

NOVOS FRAGMENTOS (III)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos

JAS 2021
I.
Pergunto: não é o sonho que comanda a vida, como dizia o poeta? Que seria de nós se não pudéssemos sonhar? “La vida es sueño” e o sonho vida é, dizia, e bem, o Calderón de la Barca. E o poeta não é o grande intérprete, como se fosse o seu pianista, dos sonhos, bem mais eficaz do que o psicanalista? Ele interpreta e “toca” habilmente os sonhos, dando-lhes harmonia e beleza. A sua música seduz e faz vibrar a sensibilidade dos que a escutam, dando vida ao que sente. Se o segundo azevinho que tenho lá no meu jardim também não quiser, como o outro, dar bagas, recrio um novo com bagas ainda mais vermelhinhas. Sonho com bagas? Dou-lhes vida, com palavras, riscos e cores e partilho-as nos meus rituais. Assim pode ser com o amor.
II.
Na poesia o movimento é, primeiro, de fora para dentro e, depois, de dentro para fora. Começa sempre por ser sensorial, mesmo quando o estímulo já está localizado na zona quente da memória afectiva. Deste duplo movimento resulta o poema. Lá mais profundamente fervilham pulsões que só podem ser controladas e revividas através da sua conversão poética. Da sua verbalização poética, que é também musical. Elas, na origem, são accionadas por estímulos sensoriais. É assim que nasce a poesia. Arte que, pela sua performatividade, tem um elevadíssimo poder terapêutico. Em particular, sobre essa particular “maladie de l’âme” que tanto inspira e excita os poetas. Remédio da alma.
III.
Os poemas que parecem mais fáceis muitas vezes são os mais difíceis de compor. É verdade. A chegada auspiciosa da inspiração ajuda o poeta a não mais tropeçar. Ajuda, mas não resolve. Ou então a tropeçar com tal elegância que mais parece dança coreografada.
IV.
Às vezes parece mesmo que temos mais saudades do que não aconteceu do que do que aconteceu. Às vezes… ou sempre? Eu penso que, pelo menos, são mais intensas e até mais desafiadoras. Não houve? Não aconteceu e eu ainda sofro por não ter acontecido? Ah, sim? Então vou-me servir do poder performativo da poesia e vou fazer acontecer o que não aconteceu. Mãos à obra e, no fim, a obra nasce. “Às vezes” (título de um poema meu). E o poeta fica feliz e (quase) realizado. Não beijou? Envia beijos escritos à musa, na esperança de que os fantasmas não os bebam. Sim, porque há sempre fantasmas por aí. Não a vê? Canta-a. É isso: vê-a em palavras e impressa em pauta musical et plus belle qu’elle-même. Milagres da arte e da sensibilidade. De que pode, pois, queixar-se o poeta? Só se for de insuficiência da fantasia e da intensidade da pulsão… Ah, mas se fosse disso talvez não houvesse pressão suficiente para poetar. Porque não haveria dor que doesse. Poetou e pintou? Houve inspiração e tensão pulsional. Pelo menos, o suficiente para lhe baixar a tensão emocional para níveis suportáveis, pelo menos, que não provoquem danos, enfartes ou colapsos sentimentais.
V.
Fazer da fraqueza força. Pode-se dizer isso do poeta: reconhece as suas limitações na lide com o real. Tem saudades dos seus irrealizados sonhos, mas não baixa os braços. Pelo contrário. Com as palavras de que dispõe, levanta-os bem alto a ponto de poder convocar outros para o ritual de celebração da “vitória” da fantasia sobre o real, mobilizando a comunidade poética. Vitória? Não, propriamente. Porque a arte não é desforra, mas enaltecimento da realidade falhada, humana e desejada. Recriação com maior peso estético e até densidade existencial. Milagre? Quem se pode queixar deste milagre? Só quem não o compreende. Só quem não consegue aceder-lhe. De certo modo, estamos num território de “iniciados”. A identidade do poeta é a de um ser imperfeito e, por isso, muito humano, demasiado humano. Alguém que teve necessidade de se iniciar no processo de acesso ao mistério da vida, tantos foram os seus fracassos, as suas derrotas, as suas perdas e os silêncios que se lhes seguiram. A iniciação poética… que não é menos do que as outras. Ou talvez seja mesmo uma iniciação maior, superior. Sem arte, morre-se de realidade, sem dúvida, como dizia um Amigo meu. Sem arte a vida seria um aborrecimento insuportável. Viveríamos de alma perdida ou nunca encontrada. Numa vertigem de fugas para a frente, mas sem saber para onde. Uma correria sem sentido. E circular, porque nunca se sairia do mesmo sítio. Ou talvez a realidade morresse de si própria, por depressão, por incapacidade de se superar e de se dizer. Talvez seja isso. Não sei, instalado, como estou, na poesia. Mas talvez a resposta só possa ser dada num poema. E seria resposta cifrada e incompleta.
VI.
Depois das Bagas de um Azevinho, o acre aroma de um jasmim. Resultado da permanente transumância poética. Parte do azevinho e vai até ao jasmim. Tão perto e tão longe. Tão longe e tão perto. O perfume – que se desloca com grande velocidade – embriaga os sentidos e funciona como propulsor da fantasia poética para descolar do jardim rumo ao cume da montanha. O necessário para que o poema nasça… já em voo. A simplicidade, meta difícil, somente atingida em velocidade de cruzeiro, não está ali ao nosso alcance, logo no começo da viagem. É preciso viajar muito para a alcançar. O jasmim, se o tivermos, ajuda, mas também é necessário ir lá ao fundo da memória para resgatar o que por lá foi ficando, inacabado, e que, afinal, merece ser trazido à consciência e cantado. É o perfume do jasmim o combustível necessário para a viagem. Mas também é preciso olhar para a vida como um jardim (e não tanto como um inferno) onde há jasmins e loureiros, beleza a rodos, onde há cores e aromas com os quais nos podemos alimentar. Mundo estranho aos que sempre estão sempre zangados com a vida. Mas, mesmo para estes, há um remédio eficaz: a arte. Se forem seduzidos. Sobretudo com a beleza da simplicidade de um discurso poético.
VII.
A poesia é intensamente metafórica, move-se entre o dito e o não dito, é linguagem cifrada, mas fala da intimidade com a linguagem velada de quem tem que dizer, mas também de quem tem de calar, de ocultar, de silenciar. Alude, mas não cartografa, deixando a quem a visita a tarefa de interpretar e de se orientar no caminho a percorrer. Ela é mais do que um espelho, do que tradução do que vai na alma do poeta. Porque a alma poética aspira a ser universal, na intimidade, no desejo que a mobiliza. É ambiciosa, a alma poética. Só com a ambição se cura. Ela é estimulada sensorialmente, sim, mas depois eleva-se sobre a contingência do sensível. A poesia também está lá para devolver, como espelho, sentimentos do outro, que não somente os do poeta. Nos seus, ele também encontra os dos outros e só por isso consegue que eles lhe prestem atenção, como se fossem seus. A poesia é um espelho com duas faces.
VIII.
Há na poesia um certo hermetismo e uma vocação alquímica, com o poeta a ir ao centro da alma naquilo que ela tem de mais precioso e comum, daquilo que lhe permite a partilha, o intercâmbio. Processo aurífero. A poesia como o equivalente geral dos sentimentos. Por isso vai ao essencial, libertando-se do acessório. Inclusivamente do que é só seu. É claro que o jasmim, o perfume, o loureiro são metáforas de algo que é mais humano e a subida às alturas, depois de uma profunda embriaguez de perfume, só pode ser figurada com a centralidade do amor. Até do amor físico. Libações inspiradas em Dionísio. No jardim há arbustos que são musas, distantes fisicamente, mas íntimas espiritualmente. Poderosas. São elas a propulsão que permite o voo poético porque no processo de transfiguração disfarçam-se sob forma de perfume. No jasmim, há sempre musas por entre a sua densa folhagem verde. Pois há. E é por isso que o jardim representa a múltipla dimensão sensorial que estimula e anima o poeta, tornando viva a poesia. Se depois for possível, num gesto sinestésico, dar cor e perfume ao poema, através da pintura, a sensibilidade agitar-se-á mais intensamente e, então, entrarão em cena todos os sentidos, provocando uma girândola de sentimentos. Uma autêntica festa com palavras estrepitando no céu da fantasia. JAS@10-2024

NOTAS SOBRE A CONJUNTURA POLÍTICA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 10-2024
1.
O RECENTE EPISÓDIO no Parlamento Europeu, com alguns deputados da esquerda a cantarem a “Bella Ciao” depois da intervenção de Viktor Orbán, suscitou-me algumas perplexidades quando a Presidente do Parlamento interveio, durante o canto, para dizer que o PE não era a Eurovisão e que o gesto mais parecia “La Casa de Papel”, a série televisiva adquirida pela Netflix, que integra, como fundo musical, a “Bella Ciao”. Esta intervenção de Roberta Metsola suscitou-me uma dúvida que, a confirmar-se, representaria uma falha grave de quem ocupa tão alto cargo institucional na União Europeia. Saberá Metsola que a belíssima canção “Bella Ciao” era um canto da resistência italiana contra o fascismo de Mussolini? E, sabendo, faz algum sentido comparar o gesto dos deputados a “La Casa de Papel”, ultrajando dessa forma a resistência italiana e até a própria beleza da canção, designadamente a da própria letra? “La Casa de Papel” trata de assaltos a bancos, enquanto “Bella Ciao” representa a luta contra o fascismo e o invasor, a luta de um povo pela liberdade. A senhora poderia muito bem ter ouvido, ter dito que um canto tão belo, na música e no conteúdo, no PE seria sempre sinónimo de alegria e de liberdade, vista a função do Parlamento e a diversidade de valores e visões do mundo nele presente. Expressá-la através da música, ainda por cima bela, não deveria constituir motivo de desagrado presidencial. Mas não, a senhora Presidente preferiu ignorar o hino da resistência italiana, degradando-o a uma qualquer casa de papel ou a um medíocre festival da canção. Intencionalmente ou por ignorância. Não acreditando, todavia, que tenha sido intencional, resta-me ficar convencido que a senhora Roberta Metsola Tedesco Triccas julga mesmo que “Bella Ciao” é somente uma das músicas originais de “La Casa de Papel”. O que, confesso, é espantoso para uma senhora natural de Malta e que tem no seu nome as palavras italianas “Roberta” e “Tedesco”. O que é curioso é que, sem saber o que estaria para acontecer nessa quarta-feira, eu publiquei aqui, nesse mesmo dia, um artigo sobre António Gramsci na prisão fascista de Mussolini. Curiosas coincidências. Mas para que se entenda melhor a minha perplexidade, que é também estética, além de moral, aqui deixo a letra de “Bella Ciao”:
«Una mattina mi son svegliato,
oh bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato
e ho trovato l’invasor.
O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior.
E le genti che passeranno
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E le genti che passeranno
Ti diranno «Che bel fior!»
«È questo il fiore del partigiano»,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
«È questo il fiore del partigiano
morto per la libertà!»
Uma letra destas, o contexto histórico em que era cantada e o próprio gesto – cantar – deveriam ter motivado a senhora Metsola, caso soubesse do que se tratava, a ter cuidado com os comentários que fizesse a propósito do gesto dos eurodeputados. Mas não. Infelizmente.
2.
As presidenciais americanas de Novembro assumem um relevo excepcional não só por se tratar da maior potência mundial, mas também, por um lado, pelo estado actual da política internacional, com duas situações altamente explosivas, na Ucrânia e no Médio Oriente, e, por outro, por um dos contendores, Donald Trump, representar o que há de mais regressivo na política, representando o que já aqui designei por “plutopopulismo”. Um desbragado “plutopopulismo” sem limites na linguagem e nas referências caluniosas à sua adversária. Basta pensar que não aceitou a derrota, oficialmente reconhecida, nas eleições de 2020 e que, ao que parece, patrocinou o assalto ao Capitólio. Kamala Harris mantém uma dianteira de cerca de três pontos, mas nos swing states verifica-se um empate. Além disso, o radicalismo da campanha de Trump tem agora um novo intérprete, o senhor Elon Musk, que considera Kamala Harris, candidata e actual Vice-Presidente dos Estados Unidos, comunista e extremista, utilizando a sua rede social X/Twitter para alimentar a campanha de Trump. Uma conta, a de Musk, no X, com 200,8 milhões de seguidores (Le Monde, 11.10.2024, p. 19). Não sei se alguém já se tinha apercebido de que os Estados Unidos têm sido governados, desde 2021, por uma Vice-Presidente comunista. Nada menos. Sinceramente, vem-me vontade de perguntar aos comunistas o que pensam da declaração de Musk sobre Kamala Harris. Mais palavras para quê?
3.
A ditadura do senhor Maduro prossegue com uma estratégia semelhante à que utilizou com Juan Guaidó: a de uso do tempo a seu favor e da saída do caso Venezuela da agenda política internacional quer por “cansaço” e esgotamento noticioso quer pela emergência de outros temas, que passem a dominar a agenda política internacional. E os temas não faltam. Com as costas guardadas pelos generais das forças armadas, que fazem parte orgânica e interessada do poder de Maduro, acabará por ver firmar-se um silêncio que favorecerá a sua permanência no poder, ainda por cima com o vencedor das eleições (parece não haver dúvidas disso, uma vez que o regime, ao contrário da oposição, não consegue demonstrar que ganhou) exilado em Espanha, país que parece ter-se agora convertido no seu inimigo externo, com a Assembleia Nacional a propor a Maduro um corte total de relações com Espanha. Só falta mesmo inventar umas Malvinas venezuelanas para completar a estratégia. As ditaduras sempre precisaram de um inimigo (não adversário) externo, além do interno, que aparece sempre como uma projecção, por infiltração, do inimigo externo. Na Venezuela, o partido bolivariano parece estar destinado a identificar-se eternamente com o Volksgeist venezuelano… para sempre ou até quando os generais acharem que Maduro já não consegue exibir legitimidade suficiente para defender os seus (deles) interesses.
4.
Em França continua o processo de afirmação da direita através de um pacto de estabilidade do governo Barnier com o Rassemblement National (RN), que já se traduziu em nomeações na Assembleia Nacional de membros deste partido e do bloco de governo com os seus votos e os daquele bloco. Aquilo a que se está a assistir é a uma real erosão do chamado “cordão sanitário” em torno do RN. A dinâmica em curso parece ter sido bem resumida por um deputado do RN, Jean-Philippe Tanguy: “D’un côté, il faut se normaliser. D’un autre côté, il ne faut pas s’embourgeoiser non plus…” (Le Monde, 11.10, pág. 13). Interessante, esta frase, “il ne faut pas s’embourgeoiser non plus”, vinda de onde vem. O que apetece, pois, dizer à esquerda do senhor Mélenchon (e, já agora, ao senhor Olivier Faure), depois do processo a que assistimos (e sobre o qual tenho vindo aqui a escrever), é que quem tudo quer tudo perde, embora não se possa ainda prever as consequências, provavelmente politicamente fatais, dos seus actos. Mas creio que uma coisa é certa: o RN tem vindo progressivamente a ganhar influência e a normalizar-se perante a sociedade francesa. Acresce, agora, aos significativos resultados eleitorais obtidos nas europeias e na primeira e na segunda volta das legislativas, a partilha de cargos institucionais e de políticas que lhe são caras. A verdade é que o RN se tornou indispensável para a sobrevivência do governo e para a constituição dos poderes intermédios que governam o sistema institucional. E é muito provável que o processo de normalização da direita radical prossiga e que em 2027 possa mesmo vir a ganhar as eleições presidenciais, com a chamada frente republicana já completamente esfacelada. Não me parece que com esta situação Mélenchon tenha a vida facilitada para as presidenciais, mesmo numa segunda volta. Entretanto, aconteceu, como se sabe, mais uma nova vitória da direita radical na União Europeia: o Partido da Liberdade ganhou as eleições na Áustria, com 28,85%, dos sufrágios, depois de uma consistente participação de austríacos nas eleições, 77,68%. A normalização parece estar a impor-se na União, e agora também na França. Era esta a manchete do “Le Monde” de 11 de Outubro: “Assemblée: le cordon sanitaire autour do RN abîmé”. Este processo em França foi claramente favorecido pela posição maximalista da NFP, inspirada pelo subjectivismo político do senhor Mélenchon. Concordo, pois, com a posição do socialista e ex-ministro do PS, Vieira da Silva, no seu recente artigo no jornal Público, “Marcelo&Mélenchon” (14.10,2024, pág. 10), bem diferente da que defendeu a líder do GP/PS, Alexandra Leitão sobre o mesmo assunto, tendo eu próprio tido ocasião, em vários artigos aqui publicados, de fundamentar detalhadamente a minha crítica (veja sobretudo o artigo “A Democracia Roubada?”, de 11 de Setembro: https://wordpress.com/post/joaodealmeidasantos.com/15819).
5.
Por cá, alguns processos que estão a ocorrer merecem considerações de natureza crítica. Em primeiro lugar, todo o processo de discussão do orçamento de Estado, em particular o carácter público das negociações entre o PSD e o PS. Não parece ser próprio de negociações sérias elas serem feitas na praça pública, por uma simples razão: transformam-se em peças teatrais para a plateia dos eleitores. Depois, não me parece muito normal que o orçamento seja construído em parceria entre os dois partidos da alternância (a não ser em situações excepcionais ou, coisa absurda, pouco ou nada distinguindo os dois partidos) porque, a ser assim, ele também deveria ser executado em parceria, tendo como consequência a formação de um bloco central (como já aconteceu), com efeitos governativos. O que já não parece ser muito lógico é que a executá-lo seja somente um dos partidos. Estranhas parece serem, pois, certas posições que, ao contrário do que já disse, no passado fim-de-semana, o próprio SG do PS, consideram que o Orçamento do PSD tem uma indelével “marca socialista” (Zorrinho) ou que ele deva ser aprovado por ambos os partidos do sistema para, assim, impedirem que o CHEGA se torne imprescindível na política nacional (Sousa Pinto), incorrendo, deste modo, numa clara petição de princípio – o PS e o PSD conduzirem-se politicamente tendo como objectivo essencial impedir a centralidade do CHEGA (uma espécie de bloco central contra este partido) significa, ipso facto, elevá-lo a pilar central da política nacional, exactamente o contrário do que pretendem. Ou seja, fazer entrar pela janela o que se quis afastar pela porta. Este equívoco de determinar a política nacional pelo imperativo de combater o CHEGA tem sido fonte de graves erros do PS. Mas há quem continue a lutar por eles. Ou, então, a posição radical e frontal de José António Vieira da Silva acerca do orçamento ou das próprias palavras de Pedro Nuno Santos, mais parecendo um anúncio de próximo combate à liderança do actual SG do que uma proposta de solução para a difícil situação em que se encontra, neste momento, o PS. Terão sido cometidos erros até agora, mas esta posição de Vieira da Silva não ajuda o PS a encontrar o caminho certo para o seu essencial desempenho político. Tudo isto, para não falar das famosas reuniões secretas do PM (o autor do “não é não”) com André Ventura, ainda por esclarecer cabalmente. A situação parece estar a tornar-se politicamente muito nebulosa e, por isso, uma clarificação eleitoral poderia vir a tornar-se útil para que tudo pudesse ficar mais claro e menos nebuloso.
6.
A recente questão levantada pelo SG do PS acerca do dever de reserva dos dirigentes e deputados comentadores do PS acerca do Orçamento, que está a provocar uma onda de declarações contra e a favor, merece clarificação. Sempre achei estranho que o espaço mediático de comentário político fosse ocupado por agentes concretos da política nacional que ocupam posições políticas institucionais quer no partido quer no Estado. A fórmula que sempre me pareceu boa era a do debate entre eles, não a do comentário, por uma razão: os ditos comentadores tenderão sempre a não procurar a objectividade devido às suas directas responsabilidades políticas. Ora o comentário, destinando-se a esclarecer a cidadania deve, na medida do possível, ser objectivo, imparcial e neutro (categorias dos códigos éticos), e não de parte. É para isso que servem os media, para ajudar o cidadão a tomar boas decisões através de boa informação e boa opinião (de factos, descodificadora e reflexiva). Se assim fosse, uma parte do problema ficaria resolvida. Por outro lado, é compreensível que quem ocupa posições de responsabilidade nos partidos (ou no Estado) deva temperar as suas convicções com o sentido de responsabilidade, remetendo as suas convicções para as instâncias próprias do partido e respeitando funcionalmente os que estão vocacionados para gerir o discurso público, logo a começar no mais alto dirigente, no caso do PS, no Secretário-Geral. Esta lógica, no meu entendimento, não se aplica a mais nenhum membro/militante partidário desde que não desempenhe altas funções de responsabilidade política, designadamente executivas. Utilizar o espaço público para condicionar a gestão política do próprio partido, quando tem direito a expressar a sua posição e a decidir nos principais órgãos de decisão nacionais, ou, em certos casos, para se promover e sobreviver pública e politicamente, não me parece ser politicamente muito saudável.
7.
Depois, a questão das eleições presidenciais. O líder do PS, Pedro Nuno Santos, a uma pergunta sobre eventuais candidatos da área socialista, respondeu referindo alguns nomes, incluído, agora, também o de António José Seguro, além dos que já circulavam. Não me parece que o devesse ter feito, não só porque se trata de uma candidatura pessoal, mas também para não interferir publicamente no processo de eventual candidatura de figuras afectas ao PS, abrindo o leque de possíveis candidatos em condições de obterem o seu apoio. Também aqui, a haver algum activismo do partido, ele deveria ocorrer de forma não pública. Publicamente, a resposta do Secretário-Geral deveria anotar que a candidatura não é de partido, mas pessoal, pelo que só perante o facto o PS se iria pronunciar. Apoiar um candidato, sim; apontar publicamente nomes de possíveis candidatos, seguramente não.
8.
No passado dia 12 tomou posse o novo Procurador Geral da República. Uma escolha de Luís Montenegro, acolhida imediatamente por Marcelo Rebelo de Sousa, mas, ao que se sabe, uma escolha que não foi precedida de consultas aos principais parceiros institucionais e, em primeiro lugar, ao Partido Socialista. Depois, uma escolha alinhada plenamente com as expectativas do Ministério Público, sendo certo que o PGR pode ser escolhido livremente pelo governo mesmo fora do poder judicial. Este alinhamento foi confirmado pelo novo PGR no seu discurso de posse ao dizer, nas barbas do poder político, que recusará alterações à natureza do Ministério Público, sem que tenha legitimidade para isso (falou, designadamente, se não erro, de independência, quando do que constitucionalmente se trata é de autonomia, estando a independência, nos termos constitucionais, reservada aos tribunais, ou seja, à magistratura judicial). Uma posição em tudo idêntica à que, se não erro, já tinha sido tomada publicamente pelo presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público, Paulo Lona. Duas opções, estas (não preceder a escolha do PGR de consultas aos parceiros institucionais e entregar a PGR ao MP), que dizem tudo sobre o que o PM pensa da justiça, em particular depois de o Ministério Público, incluída a própria Procuradora Geral, ter sido posto publicamente em causa por vários sectores da sociedade. É de recordar a demissão do Primeiro-Ministro, seguida de eleições, a seguir a um estranho comunicado da PGR, sem que até hoje esse processo tenha sido clarificado e concluído, e apesar de o autodemitido PM, António Costa, já ter sido declarado Presidente do Conselho Europeu, sem que o famoso inquérito que o levou à demissão tenha sido concluído ou sequer clarificado. Algo muito estranho, pelo menos tão estranho como o silêncio público e mediático que existe sobre este assunto. Isto para não referir a tão criticada ida de meios militares à Madeira no âmbito de um processo judicial, a prisão excessiva de indiciados ou a escuta telefónica de um agente político durante quatro anos ou, ainda, o uso e abuso de prisões preventivas e de escutas telefónicas. Esta nomeação mais parece ser uma confirmação do governo de que, mesmo assim, está tudo bem, devendo, por isso, o Ministério Público ser premiado com a nomeação de um dos seus como PGR, apesar de jubilado e de fazer 70 anos em Janeiro (o que levanta sérias dúvidas sobre a possibilidade de se manter como PGR depois dessa data, se a lei não for alterada). E causa ainda estranheza que o principal partido da oposição, o PS, se tenha limitado a desejar bom trabalho ao indigitado, sem nada acrescentar.
9.
A política nacional (e internacional) não conhece os seus melhores dias, sendo, pois, pela sua importância e pelos seus efeitos sobre as nossas vidas, dever dos que a estudam e analisam reflectirem, livremente e de forma o mais possível objectiva e imparcial, sobre o que nela está a correr bem e sobre o que está a correr mal. É o que eu aqui tenho procurado fazer, evitando observar a realidade com as minhas próprias idiossincrasias pessoais ou interesses de parte. As idiossincrasias existem, claro, mas procuro que fiquem fora das minhas análises. Só assim se pode dar um contributo positivo a essa política que a todos condiciona, quer no presente quer no futuro. JAS@10-2024
UMA HISTÓRIA COMOVENTE
Gramsci, a Prisão e o Fascismo
Por João de Almeida Santos

“Gramsci”. JAS 2024
HÁ MUITO que não escrevia sobre um político e intelectual de grande projecção mundial ao qual dediquei alguns anos da minha vida. Trata-se de Antonio Gramsci, um marxista atípico, líder do partido comunista italiano, deputado e, com trinta e cinco anos, preso nas cadeias do fascismo italiano, onde viria a morrer, em 27 de Abril de 1937. Mais exactamente, partiu já em liberdade condicional, devido às suas gravíssimas condições de saúde, estando internado numa clínica privada de Roma, Quisisana. Nascera em 1891, na Sardenha, Ales. Personagem fascinante política e intelectualmente, Antonio Gramsci deixaria uma obra relevante e algumas importantes inovações sobre a política, que continuam plenamente actuais. Melhor: que deveriam integrar o melhor património da política actual, mas que infelizmente estão esquecidas pelos partidos que tem dominado a cena política nos últimos decénios. E, em particular, os de centro-esquerda. Falo, por exemplo, da conjunção da política com a ideia de hegemonia ético-política e cultural, ou seja, da ancoragem da política a uma visão do mundo estruturada que possa ser assumida e partilhada interiormente pela cidadania e que garanta estabilidade ao exercício ao poder, fundado numa adesão consciente e critica e na partilha de valores políticos e sociais articulados com coerência. Em palavras mais simples: uma política que não fique reduzida à mera conquista, conservação e reprodução instrumental do poder. Mas Gramsci não pode ser lido com as categorias do marxismo-leninismo porque, assim, o seu pensamento seria distorcido. Trata-se de um pensamento complexo e original em relação à tradição marxista clássica.
1.
Por que razão volto a Gramsci? Porque tive conhecimento de que, recentemente, foram publicadas textos de Gramsci, em Portugal, depois de um longo período de abandono do pensamento deste personagem tão relevante na história do século XX, embora não seja o caso de outras zonas do mundo onde Gramsci continua a ser objecto de grande atenção. Falo, por exemplo, da América Latina. Publiquei vários estudos sobre Gramsci (em particular o livro O Princípio da Hegemonia em Gramsci, em 1986, mas também dois capítulos do meu livro Os Intelectuais e o Poder, em 1999, e outros dois capítulos inseridos no livro colectivo Da Gaveta para Fora – Ensaios sobre Marxistas, em 2006), mas, desta vez, regressei a um livro que me comoveu, quando foi, em 1991, publicado por Valentino Gerratana para as edições Riuniti. Trata-se da obra “Piero Sraffa, Lettere a Tania per Gramsci” (Roma, Riuniti, 1991, 276 pág.s). Uma publicação que torna públicas 79 cartas do grande economista italiano à cunhada de Gramsci, Tatiana Schucht, que servia de mediadora das relações entre os dois amigos. Estão ainda publicadas outras cartas, sobretudo de Tatiana, ou seja, nove; duas de Sraffa a Togliatti e três a Elsa Fubini e Paolo Spriano; uma de Camilla Ravera a Júlia Schucht, sendo, em notas de Gerratana, ainda transcritas outras cartas, sobretudo de Tatiana). Valentino Gerratana, o responsável pela fabulosa edição crítica, em quatro volumes, dos Quaderni del Carcere (e com quem iniciei, em 1978, os meus trabalhos sobre Gramsci no Instituto Gramsci de Roma, tendo depois passado a desenvolver o trabalho com Umberto Cerroni), oferece-nos uma excepcional obra, não só pelo valor testemunhal das cartas, dos personagens envolvidos e do contexto em que ocorrem, mas também pelas riquíssimas notas explicativas de Gerratana, que as acompanham.
2.
O livro voltou a impressionar-me porque, apesar de conhecer muito bem toda a história de Gramsci (aconselho, a propósito, a leitura do belíssimo livro de Giuseppe Fiori “Vita di Antonio Gramsci. Roma-Bari, Laterza, 1977), me lembrou, de novo, a lenta e trágica degradação física de Gramsci nas prisões de Mussolini (1926-1937) – Regina Coeli, em Roma, San Vittore, em Milão, Turi, na Puglia, Civittavecchia, até morrer na clínica privada de Quisisana, em Roma, depois de ter passado um curto período numa clínica de Formia, Latina. E tocou-me particularmente por poder acompanhar a abnegada dedicação de Sraffa e de Tatiana ao longo do penoso processo da prisão de Gramsci. Três personalidades de raras qualidades humanas, de coragem, sensibilidade e inteligência, apesar do lamento, sentido e de profundo pesar, de Tatiana: “abbiamo fatto tanto e non siamo riusciti a fare nulla” (1991: 184).
3.
Um inacreditável artigo do Jornal “Il Messaggero”, de Roma, de 12 de Maio de 1937, “Una sparizione e uma morte” (procurando comparar a morte de Gramsci com o desaparecimento de uma cidadã italiana na União Soviética), quinze dias depois da morte de Gramsci, diz o seguinte sobre ele:
“… o chefe intelectual dos bolcheviques de Itália (…) refugiou-se em Moscovo, de onde saiu oportunamente devido à sua fidelidade a Trotsky. E regressou a Itália, onde pôde acabar os seus dias numa solarenga (soleggiata) clínica de Roma (…) De qualquer modo, na Rússia os adversários desaparecem (e Deus sabe como), enquanto em Itália os mais loucos, fanáticos comunistas (e Gramsci, nisso, não ficava atrás de ninguém) encontram aquela paz que alhures é negada até ao limite da própria morte” (Gerratana, 1991: 265, n. 2).
Esta transcrição aparece quase no fim do livro e é chocante (embora não surpreenda) para quem leu o que estava escrito antes, ou seja, o processo de degradação da saúde de um génio nas implacáveis e desumanas prisões de Mussolini. Um político que era líder de um partido com representação parlamentar, membro do executivo do Komintern, deputado, eleito em 1924, tendo regressado da URSS (e da Áustria, Viena), onde vivera entre 1922 e 1924. Mas quem quiser saber melhor do que falo, e da inconsistência do que diz o articulista acerca da “paz” que se vivia em Itália nessa altura (para não falar das outras mentiras do artigo), pode consultar os dois artigos que aqui publiquei sobre Mussolini e como neles é referido o que é descrito por Antonio Scurati, ao longo de 1924 páginas, nos três volumes sobre o Duce (M. Il figlio de Secolo; M. L’Uomo della Provvidenza; e M. Gli Ultimi Giorni dell’Europa), em particular sobre a violência em que se baseou a formação e a consolidação desse “solarengo” e resplandecente regime fascista (https://joaodealmeidasantos.com/2021/10/25/artigo-52/; mas sobretudo, porque analisa os três volumes, https://joaodealmeidasantos.com/2023/07/03/artigo-109/).
4.
Este livro mostra de forma comovente a relação entre estas três personagens: Piero Sraffa, o grande economista italiano, professor no Trinity College de Cambridge, amigo e parceiro intelectual de Keynes, Wittgenstein e Blackett; Tatiana Schucht, irmã mais velha da mulher de Gramsci, Júlia Schucht; e António Gramsci, na condição de prisioneiro político do regime fascista. Foram Sraffa e Tatiana Schucht os grandes apoios materiais, morais e intelectuais de Gramsci desde que entrou na prisão, em Novembro de 1926, até 1937, ano em que viria a falecer. Tatiana era o seu grande, enorme, suporte e funcionava também como mediadora das relações entre os dois amigos. Foi ela que salvou os Quaderni del Carcere. Estas cartas publicadas neste livro dão bem conta da dimensão da amizade dos três e permitem ter uma visão muito clara da lenta evolução da situação de Gramsci, mas permitem também conhecer a solidez moral do político e intelectual sardo. E confesso que da sua leitura (neste caso, releitura) sai reforçada a imagem com que fiquei de Tatiana depois da leitura das Cartas do Cárcere – uma dedicação sem limites. Há uma sua carta, de 1 de Julho de 1937, a Sraffa (Sraffa, 1991: 184-185, em nota) que é um autêntico poema dramático escrito e sofrido depois da morte de António Gramsci. Dor, angústia, desespero infinitamente mais intenso quando pensa nele, “em tudo o que ele perdeu (…), irremediavelmente perdido, pobrezinho, sempre paciente até ao inverosímil, extremamente simples, afectuoso, atencioso como ninguém, como ninguém sensível a qualquer manifestação de afecto, de devoção. Creio que haja bem poucos que, como ele, saibam ser assim tão profundamente reconhecidos e gratos, sem limites, por cada atenção que lhes dispensem, como sempre se mostrou, até ao fim, aquele ser tão nobre, tão excelso, cuja vida e trabalho tinham um valor inestimável”. Há nestas palavras uma profunda estima, um amor e um enorme reconhecimento pela figura daquele homem excepcional. Alguém que resistiu, que manteve uma frieza de razão às vezes inacreditável, dada a sua situação, um sentido de responsabilidade admirável e uma profunda e sincera humildade em relação a todos os que se encontravam na sua situação. Que resistiu, sim, enquanto pôde, conjugando a resistência com um gigantesco trabalho intelectual que chegou até nós como Quaderni del Carcere, uma obra monumental em fragmentos que se viria juntar aos brilhantes escritos anteriores à sua prisão, último dos quais o que aborda a relação dos intelectuais com o Mezzogiorno, de 1926 (Alcuni Temi della Quistione Meridionale).
5.
Não foi longo este tempo de escrita porque já em 1932 os problemas de saúde se avolumavam de tal modo que o impediam de trabalhar ou sequer de estar tranquilamente em paz. É esta lenta progressão para o abismo, testemunhada por estes dois amigos incansáveis, que a tentavam travar de todos os modos possíveis, que este livro documenta e que nos leva a abominar ainda mais um regime que o foi anulando lentamente até à morte, prematuramente anunciada. Um regime que tinha na sua sua matriz a violência. O veredicto do procurador Michele Isgró teria de se cumprir: “devemos impedir este cérebro de funcionar durante vinte anos!”. Prenderam-no e mantiveram as condições que o haveriam de levar à morte, mas não conseguiram anular o seu pensamento, paralisar o seu cérebro, impedir a sua obra, que hoje continua a ser uma das mais influentes obras da esquerda de inspiração marxista. Gramsci tinha bem consciência de que o que estava a fazer (sobretudo entre 1929 e 1933) era fuer ewig, para sempre, para além da conjuntura política. Preso, mas livre naquilo que ele mais valorizava na sua vida: o pensamento virado para a acção e para o futuro. E assim foi e assim é. Até a direita, aquela que ele combatia com tenacidade e inteligência acabou por valorizar a sua obra, em particular a sua teoria da hegemonia. Sobre isso escrevi no capítulo publicado em 2006 na obra já referenciada (“Hegemonia: o primado do consenso na teoria política de Gramsci”; in Neves, 2006: 79-107). Uma teoria que liga a política à história, com profundidade temporal, valorizando a adesão consciente da cidadania a uma determinada concepção do mundo que lhe é proposta, mas que está radicada na melhor tradição nacional: nacional-popular. Infelizmente, a esquerda moderada deixou-se enredar em fórmulas ideológicas sem pregnância histórica (e até contrárias à melhor inspiração iluminista) e num pragmatismo descarnado historicamente em vez de valorizar a política com dimensão ético-cultural, enraizada em “blocos históricos”, socialmente consistentes, com horizonte ideal estruturado e capazes de se sedimentar historicamente, trazendo substância à política e novos horizontes à cidadania.
6.
Houve quem achasse que a relação de Gramsci com o grande economista Piero Sraffa era uma relação de simples, embora forte, amizade, mais significativa do que a relação intelectual. Por exemplo, Perry Anderson. Mas não é verdade, como, de resto, o reconhece (e prova) Valentino Gerratana e como se vê pela correspondência trocada, através de Tatiana Schucht (para uma crítica das posições de Anderson sobre Gramsci veja o meu O Princípio da Hegemonia em Gramsci, Lisboa, Vega, 1986, pp. 117-129). Para começar, ambos se inscreviam, de forma assumida, na mundividência comunista, embora um valorizasse mais a intervenção orgânica (designadamente do partido) do que o outro, que era um comunista independente. Independente, sim, mas colaborador com o partido, designadamente com o seu centro político localizado em Paris. Há neste livro duas cartas de Sraffa a Togliatti. Depois, sendo naturalmente Sraffa um economista puro e analítico (embora de vasta formação cultural), diferenciava-se do posicionamento intelectual de Gramsci, que exprimia um pensamento de natureza mais ampla e abrangente, mas também socialmente mais concreto, prático e pragmático nas suas análises. É conhecido o diálogo entre ambos sobre a estratégia política a seguir durante a vigência do fascismo. E, todavia, a formação económica de Gramsci era regularmente alimentada por Sraffa, designadamente por via bibliográfica, mas também por troca de opiniões directa. Sim, é verdade, mas, nestas cartas, o que, além disto, sobressai é a dimensão humana de Sraffa e a sua inabalável amizade, consideração e respeito por Gramsci, uma relação que era acarinhada e alimentada por uma mulher incansável e extraordinária, mesmo quando, pela delicadeza, exigência e complexidade da situação, às vezes surgiam discordâncias, formuladas até com alguma dureza, mas rapidamente superadas pela grandeza de alma de ambos e pela comum dedicação a Gramsci.
7.
A vontade de escrever sobre este livro veio-me, mais uma vez, naturalmente, da relação de proximidade que continuo a manter com o pensamento de Gramsci, mas também da minha profunda admiração por este exemplo de solidariedade incondicional e abnegada, em situação altamente perigosa, difícil e delicada, por parte de Sraffa e de Tatiana para com esse génio da política e do pensamento que tive oportunidade de estudar aprofundadamente durante anos e que continua a constituir para mim uma fonte inesgotável e permanente de ensinamentos sobre as matérias acerca das quais ele se debruçou. E não só as que são objecto de reflexão nos “Quaderni” (tenho a edição original, mas deverei adquirir uma nova pelo desgaste que esta edição sofreu ao longo do tempo, devido às permanentes consultas), mas também os inúmeros escritos que integram toda a sua obra, desde os escritos de juventude. Posso, para terminar, dar como exemplo os seus inovadores e precursores escritos de juventude sobre Luigi Pirandello, que, de resto, tive ocasião de expor no capítulo sobre “O Teatro de Luigi Pirandello, segundo Gramsci” no livro já referido: Da Gaveta para Fora. Ensaios sobre Marxistas (Org. de José Neves, Porto, Afrontamento, 2006, pp. 109-117). Mas poderia enumerar tantos outros se não se desse o caso de sobre eles já ter abundantemente escrito e publicado. JAS@10-2024

NOVOS FRAGMENTOS (II)
Para um Discurso sobre a Poesia
(Em torno de Novalis)
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS 2024. 10-2024
1.
Dá que pensar esta enigmática frase de Novalis: “Man ist allein mit allem, was man liebt” *. Está-se só, com tudo o que se ama. Amar é, pois, absoluta solidão, a que resulta de isolamento em relação ao mundo circunstante? No amor suspende-se a comunidade de vida? Se o amor for “realmente (wirklich) uma doença” da alma (Novalis, 2024:145; e Stendhal, em “De l’Amour”, no prefácio da edição de 1826), esta solidão é como a que sofremos com a doença física? A verdade é que ninguém pode estar doente por nós e, por isso, ninguém pode amar por nós. O amor e a doença não se podem delegar. O amor, sendo “uma doença da alma”, convoca irremediavelmente a solidão?
2.
Na doença, a solidão dita lei. E no amor, sendo uma “doença da alma”, também? No amor estamos sós, mesmo quando temos à nossa frente o ser amado? Ou a solidão é relativa ao mundo circunstante e exclui o ser amado? A verdade é que quando se trata de dois seres humanos já não é solidão. Mas a partilha só pode acontecer se for como sentimento, não como doença, a mesma doença, mesmo que essa seja “doença da alma”, não do corpo, seja de amor. Eu sinto-me doente porque tu estás doente. Sentir-se doente significa uma forma de partilha. O que não se poderá dizer é “eu amo-te porque tu me amas”. Mas também é verdade que o amor não é uma relação entre casulos incomunicáveis, onde cada um está encerrado em si próprio. Se fosse, não haveria amor. E também é certo que o amor não é dádiva, por generosidade. Simplesmente, acontece. Exactamente como a poesia. É o próprio poeta que o diz (Pessoa). O amor e a poesia acontecem. Não são objectivos pré-determinados, resultado da vontade. Simplesmente, acontecem.
3.
Alguns chamam platónico ao amor não correspondido. É este o que é vivido em solidão? Ou é o amor em si que induz solidão absoluta, mesmo quando é correspondido? Solidão daquele que ama. A solidão integra o próprio acto de amar? De cada um dos dois que se amam? O amor seria um círculo fechado sobre si mesmo onde o outro seria, sim, imprescindível, mas como pura ilusão? Mas é difícil que aconteça uma dupla e recíproca projecção da ilusão na relação amorosa. O outro ser para cada um deles a respectiva ilusão especular. Pura projecção noutra pessoa do seu eu mais profundo. Até há a ideia de que o ser amado é, afinal, a ressonância, em diferido, de algo com que nos identificámos na infância ou até mesmo da afeição materna. O ser amado seria, então, como que um espelho. O espelho perfeito. Não sei. Talvez não. Talvez seja mais do que isso. A dialéctica identidade-alteridade talvez possa explicar, em parte, a relação amorosa. Mas sabe a pouco.
4.
Será o amor uma forma de resgate, com força pulsional, do que ficou recalcado na nossa zona de sombra primordial? O amor é uma pulsão que se basta a si própria e que apenas se serve de outrem para se concretizar? Vulcão que se cristaliza onde a lava parar? Ou amar é sair de si e dissolver-se no outro, ficando por lá, prisioneiro? Como a vela que morre para dar luz, para iluminar (Goethe)? Consumir-se em fogo ateado pelo destino para iluminar? O amor autêntico talvez seja isso: fogo que arde sem se ver, mas que consome interiormente até à anulação total. No fim, cera derretida. Amar é perder-se para si, entregando-se ao outro. O poder avassalador da pulsão. Por isso, o fim de um amor é insuportável porque parece que já não há regresso possível à condição de partida. A vela que ardeu já não pode ser restabelecida. Porque só ficaram cinzas. Melhor, uns restos de cera ardida. Perante uma entrega total já não há retorno. E não há cartografia que possa repor a “diritta via” (Dante). Por isso, é mais grave do que a solidão. É perdição. Retorno impossível. Dupla perda: do ser amado e de nós próprios. Já não é, pois, solidão. É mais grave. Lembro-me sempre dos versos de Dante Alighieri no começo do “Inferno”, na “Divina Commedia”: “Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per uma selva oscura / ché la diritta via era smarrita”. Sim, a partir desse momento é pura errância e perda de sentido, com o chão a perder firmeza e a fugir dos pés. É como entrar num território vazio e escuro. Ou, então, “selva oscura”. Sobrevêm a tristeza, a nostalgia, a melancolia. Um sentimento de impotência. Felicidade suprema, dor insuportável. E não há cura para este amor de entrega total?
5.
Este estado de alma pode ter redenção se for cantado e verbalizado em pauta musical e em estado de levitação. Perda sofrida, levitação desejada (Calvino). O desejo. Força arrancada das vísceras da alma. Parece ter sido esta a origem da poesia. Um clarão, estremecimento e queda num buraco negro. Esse instante de que fala Baudelaire no poema “À une Passante”. Um clarão seguido de encandeamento e de despiste existencial: ausência, silêncio, solidão, tristeza, nostalgia, melancolia, dor. Dor pelo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido se essa mulher não tivesse sido engolida rapidamente pela multidão. Coisa grave, muito grave, se for verdade que, afinal, “o amor” não é só “doença da alma”, porque é “o objectivo final da história do Mundo” (Welgeschichte) – “das Amen des Universums” ( 2024: 92-93). O amen do universo. E, por isso, que o senhor esteja com o poeta, perante tamanha perda, diria um religioso, crente num além promissor, na redenção, no sagrado. Mas não é esta a reacção do poeta. Talvez este seja, afinal, o amor cantado por ele, aquele que está mais próximo do invisível do que do visível. A cura e, por isso, o “amen do universo”. A doença que, na poesia, se transforma em aleluia, em alegria, júbilo. Ele tem um remédio terreno (remedium amoris), no lado de cá, que o eleva para além da doença e da dor: a poesia, “a grande arte da construção da saúde transcendental” (2024: 47). Sim, saúde transcendental para esta “maladie de l’âme”. Estranha esta formulação, não é? Não, porque a poesia funciona mesmo no território transcendental (que não se confunde com o transcendente). Este território é o das condições de possibilidade que, a um certo ponto, podem ser assumidas como reais e determinarem comportamentos. O poeta ama com palavras e é um amor efectivo, não inferior, em densidade existencial, ao amor corpóreo. As palavras são o corpo da alma. E têm som, melodia e ritmo. São vivas. O ser amado está ali em frente, na imaginação do poeta, e este dirige-se-lhe com palavras. A performatividade é total. Só assim a dissolução do eu se pode converter, transformar em sublimação, apesar de a solidão ser irremovível. Dissolução-sublimação, a equação poética. E mantém-se a solidão porque a poesia é solidão, ainda que a comunhão exista como processo diferido no espaço e no tempo. O que lhe dá ainda mais realismo. Como possibilidade, como comunhão transcendental. O poeta age como se o ser amado esteja à sua frente. O beijo escrito é beijo dado (se não for bebido pelos fantasmas, ou mesmo assim). O centro da filosofia de Novalis: a poesia como o verdadeiro real absoluto. Por isso, quanto mais poético mais verdadeiro (2024: 77). O que vale também para o amor cantado poeticamente. A cura da “maladie de l’âme”. O poeta antecipa uma comunhão de destino ao lançar os versos ao vento que passa, aparentemente sem destino. Fica só e espera que eles lhe sejam devolvidos como eco. E como acto de amor. A poesia é o eco do silêncio com um imenso poder performativo. É sobre o silêncio que o poeta viaja à procura de sentido. “Desejos e apetites são asas”, diz Novalis (2024: 25). E mais leves quando se reproduzem em palavras. As asas da poesia. É esta a condição da cura, provisória, até à próxima recaída, pois a “doença” nunca se cura totalmente. Afinal, ela é condição de sobrevivência da própria poesia. A pena de Sísifo, para quem a tristeza se torna doce melancolia sempre que atinge o Monte Parnaso.
6.
Parece, pois, legítimo perguntar se o poeta espera resultados práticos da sua interpelação poética. A resposta é fácil. Como em todas as artes, as suas propostas são desinteressadas, não visam efeitos práticos que não sejam o ressoar das palavras na sua alma e no ambiente circunstante. Ele canta, pois, por cantar? Não, ele canta porque a vida o interpela e o convoca para cantar. É neste sentido que se pode dizer que a poesia lhe acontece, ao poeta, e que não resulta de um acto voluntário, de um acto de vontade, de uma deliberação. Ela simplesmente acontece-lhe. Mas só lhe acontece porque já existe pré-disposição: “Hauptsatz – Man kann nur werden insofern man schon ist” (Novalis). Só podemos tornar-nos se já formos. Digo muitas vezes que quando falta o “chip” do sentimento nunca será possível a emoção. Nestas condições, ela nem sequer poderá ser induzida. Ao poeta acontece-lhe a emoção sublimada em palavras porque já está marcado (o estremecimento perante um clarão), como destino. Mas se as palavras lhe faltarem a doce melancolia em que se encontra instalado sofre uma regressão e volta a ser tristeza, luto, depressão. Um poeta em falência a regredir para o fracasso existencial, sem redenção. A morte do poeta.
7.
“O poeta utiliza as coisas e as palavras como teclas e toda a poesia repousa sobre uma activa associação de ideias – uma espontânea, deliberada e ideal produção do acaso” (2024: 125). Sim, mas não se trata, como pode parecer, de puro virtuosismo de execução porque, como ele diz, só o artista (e, portanto, também o poeta) é capaz de adivinhar o sentido da vida (2024: 53) e porque o verdadeiro poeta é “omnisciente” (allwissend), enquanto “é um mundo real em pequeno” (2024: 59). Conjugando quanto diz Novalis, verifica-se que a poesia possui densidade ontológica e, através de uma exímia manipulação da sua matéria-prima (coisas sentidas e palavras), consegue produzir conscientemente “acaso”, resultados aleatórios que resultam da sua fecunda imaginação poética, a tal que pode substituir todos os sentidos. Muitas vezes tenho comparado a poesia com as técnicas da psicanálise, designadamente a interpretação dos sonhos e as livres associações de palavras-ideias. Encontrei em Novalis esta formulação, que parece confirmar esse mecanismo poético. Na verdade, ambas, poesia e psicanálise, se alimentam de matéria constante da zona de sombra da consciência, accionando o processo da verbalização. Neste processo a poesia acciona as categorias da arte não só para trazer à consciência, de forma cifrada, os estados de alma, mas também para os projectar esteticamente e assim os partilhar. A natureza da poesia, no seu conceito, garante que não se trata de artificialismo, mas sim de algo vital. Diz ele: “a pura linguagem poética deve ser (…) organicamente viva” (2024: 37). Mais claro do que isto não é possível. De resto, para ele a poesia é a “arte de excitar o ânimo” (2024: 135).
8.
Lembraram-me que o Bernardo Soares disse que de tanto sonhar ele próprio se tornou um sonho, o sonho de si mesmo. Parece estranho, mas não é. Vejamos por que razão o que ele diz tem fundamento. Sobretudo se for poeta, o que não era o caso do Bernardo Soares. Tem fundamento porque poetar é sonhar. E a figura do poeta é indissociável do sonho/poema. Não era o grande Calderón de la Barca que dizia que “la vida es sueño”. E que o sonho vida é. A vida em palavras, que são o que de mais humano o ser humano tem. Ando às voltas com o Novalis e verifico que ele diz algo que pode ajudar a compreender esta afirmação do Bernardo Soares: “a imaginação é esse sentido prodigioso que pode substituir (em itálico: ersetzen) todos os nossos sentidos” (2024: 78-79). A imaginação com o mais completo poder sensorial. É daqui (e da sua musicalidade) que vem o poder performativo da poesia. Que trabalha com a imaginação, sim, mas com a que está ancorada na alma (não é, pois, um mero exercício estilístico). Só depois ascende ao espírito, que é “a alma cristalizada” (2024: 127). Mas ele diz outra coisa que, essa sim, completa a explicação: “Os verdadeiros produtos devem produzir, novamente, o que os produz. Do produzido nasce, de novo, o produtor” (2024: 87). É só substituir produto por sonho/poesia e produtor por poeta. É a poesia em acto que produz o poeta. Do sonho nasce, pois, o poeta que o escreve. Em cada poema o poeta renasce. Tem, pois, razão o Bernardo Soares. Portanto, mais uma vez de acordo com esse artista que dizia que não se ajeitava com a poesia… e que nem sequer era, dizia ele também, filósofo, apesar de, curiosamente, se identificar ele próprio como sonho sonhado da poesia. Ele era, sim, as duas coisas. Pelo menos porque também era Fernando Pessoa e porque escreveu o “Livro do Desassossego”.
9.
Confesso que já nem sei se viveria em paz comigo próprio sem poesia. O ritual do domingo ajuda. Dá-lhe forma, materializa-a, partilha-a. É a um tempo “durée”, mas também acontece no tempo cronológico. A minha missa laica. A melancolia é o estado de alma permanente do poeta e os poemas são sempre inspirados na musa do suave, mas inebriante, perfume. Por isso, o lugar de inspiração é (quase) sempre o jardim. Um perfume que excita a imaginação do poeta, aquela que, segundo Novalis, concentra em si todos os poderes dos sentidos. Sim, o poeta viverá sempre nos seus versos porque foi assim que ele nasceu. E é por isso que renasce em cada canto. Há um período de delicada (e sempre difícil) gestação e há a apoteose final – o poema. O poema já é festa, celebração e, de certo modo, redenção, resgate. O ritual integra tudo isto e, no fim, o poeta já é outro. Renasceu.
NOTA
* Uso a edição da Assírio&Alvim dos Fragmentos de Novalis (Porto, 2024, 3.ª edição, pág. 150), com selecção, tradução e desenhos de Rui Chafes. Trata-se de uma edição bilingue, mas esta frase tem uma gralha no texto alemão, ou seja, onde se lê “mit allein” deve ler-se “mit allem”. JAS@10-2024
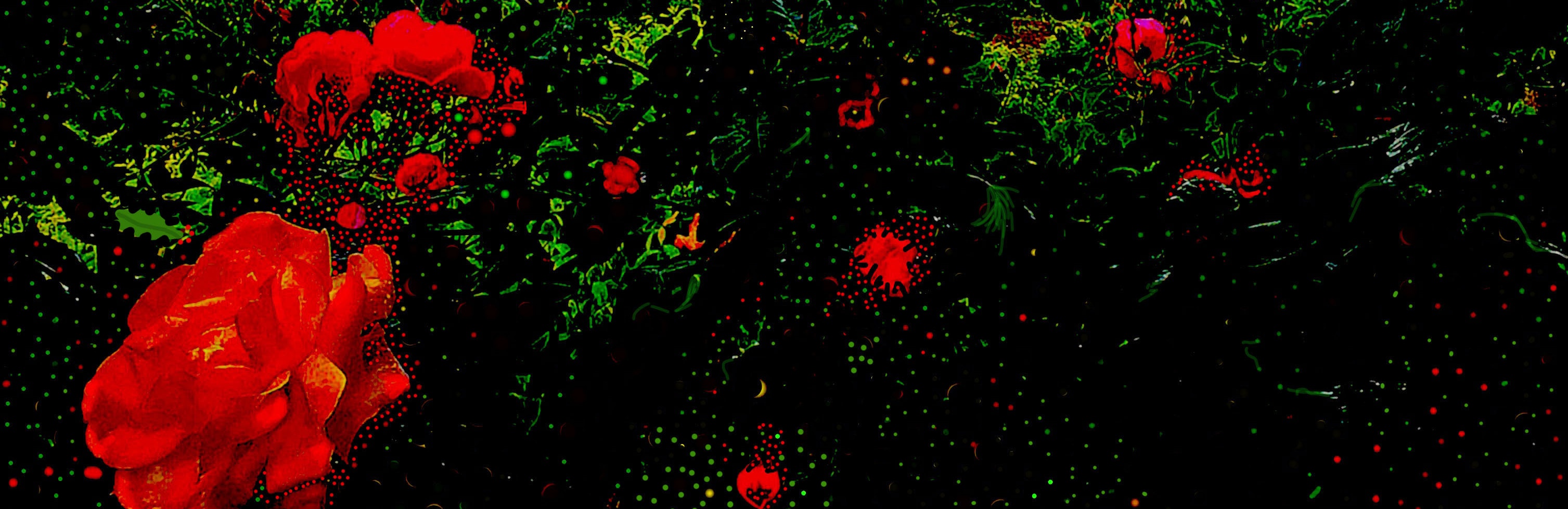
NOVOS FRAGMENTOS (I)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos
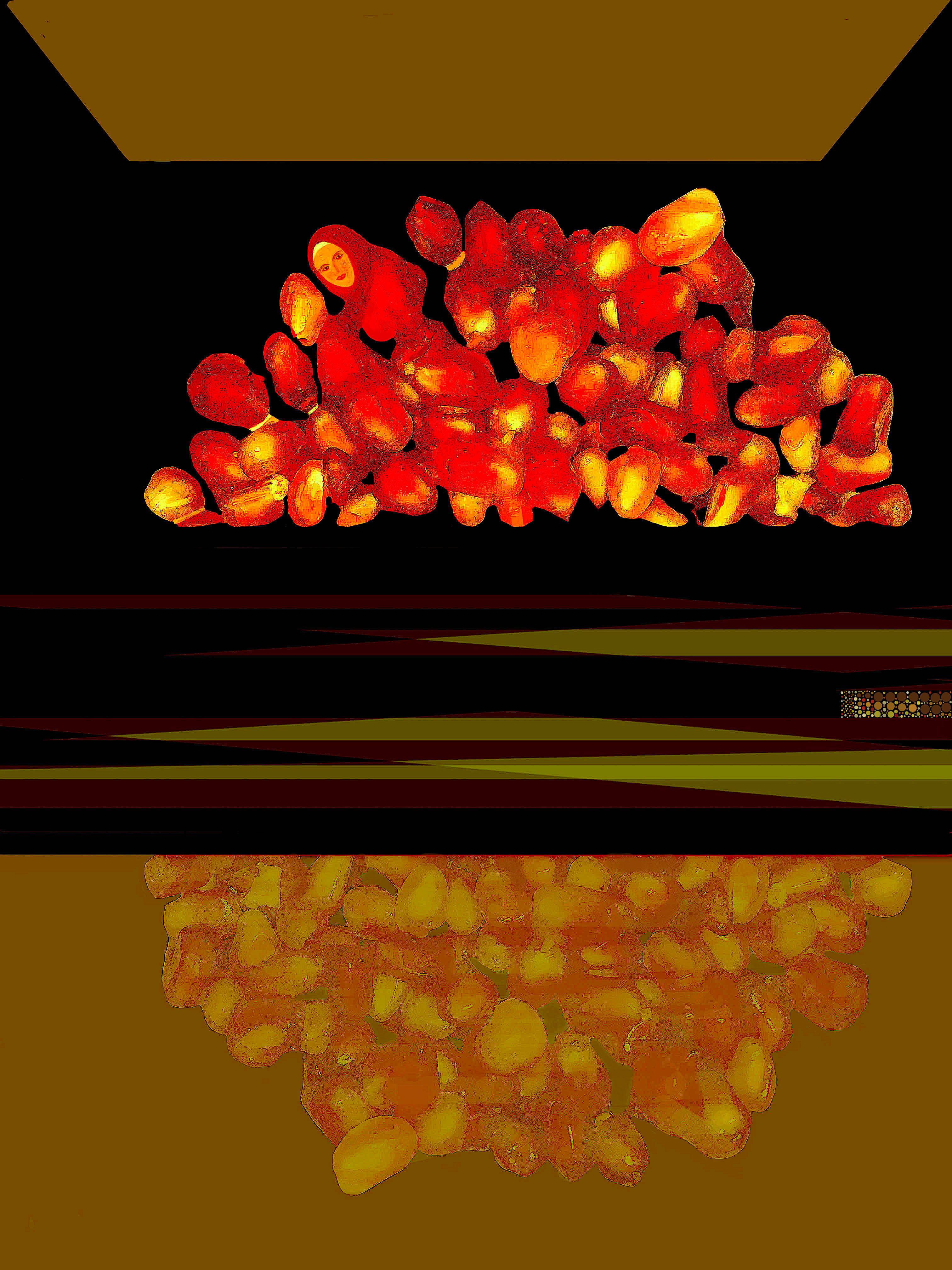
“Reflexos”. JAS 2023 – 66×82, em papel de algodão, 310gr, e verniz Hahnemuehle, Artglass AR70, em mold. de madeira.
1.
SENTIR COM A IMAGINAÇÃO
O Fernando Pessoa sentia com a imaginação, tarefa imensamente difícil, delicada e até perigosa. Mas não nos esqueçamos que o poeta é um fingidor, como diz na Autopsicografia. Como poeta, ele sentia mesmo porque tinha a sensibilidade à flor… da imaginação. Os poetas são assim. A sensibilidade é o seu principal órgão cognitivo. Regista as mais leves vibrações. Sim, mas ele (pelo menos, o Bernardo Soares) não gostava de tocar a realidade sequer com a ponta dos dedos… a não ser a Ofélia, quando a levava para um vão de escada e se atirava a ela aos beijos. Fraquezas de um poeta, que sente sobretudo com a imaginação. Depois, não sei se se arrependia porque isso lhe tolhia os movimentos de imaginação, a liberdade de compor ao ritmo da fantasia. Não sei se foi por isso que a coisa falhou. O que sei é que para ele a realidade era uma galeria de arte, via-a com a sua sensibilidade poética como se ela já estivesse pré-ordenada esteticamente. Via um rosto como se ele fosse uma pintura exposta na galeria da vida. Os óculos eram as suas lentes poéticas. Eles marcavam uma certa distância do real. Próteses da alma e seu escudo protector. O Pessoa vivia inteiramente no mundo da poesia. Mas o Bernardo Soares parece que não, era mais filósofo do que poeta, embora também recusasse essa condição. Mas, sim, os fragmentos do “Livro do Desassossego” são filosofia e se, como diz Novalis*, “a filosofia é a teoria da poesia” (veja-se Nietzsche, por exemplo), a coisa acaba por fazer sentido. Sim, é mesmo possível sentir com a imaginação, até mesmo ao nível físico, quanto mais ao nível poético.
MOVIOLA
Mas eu acho que o poeta se deixa ir ao sabor das suas memórias mais quentes – olha pra dentro, apesar de também ter óculos – e parte em quinta para o céu azul da sua fantasia. É o que lhe resta e tem de o aproveitar o melhor que sabe e que pode. Só assim não vive em permanente sobressalto. Mas que, no princípio, estremeceu, lá isso é verdade. E não foi só o verbo. Furon le cose, como gostava de dizer o Galileu. Que a musa o visitou, é verdade. Que, depois, passou a ser visitado pelos fantasmas, também é verdade. E que sente vontade de levitar, depois da perda sofrida, disso não resta qualquer dúvida. É poderosa a memória quente dos afectos. E funciona como a moviola: o poeta põe-se a ver o filme da sua vida e começa a sentir com a imaginação, mas com a mediação do olhar interior. Como o Pessoa, afinal. Não é bem como na pintura digital, onde há um IMac de 27 polegadas, um programa e fotografias para o início do voo. Não, aqui é tudo interior – chove-lhe na fantasia e nem sequer abre o guarda-chuva. Deixa-se molhar, lá em cima, no meio de nuvens carregadas ou mesmo quando está sentado num arco-íris a olhar cá para baixo. É neste estado que cria. Encharcado. As musas andam por lá. E os fantasmas também. Quando falo delas, das musas, quase sempre uso a palavra musa em minúscula para significar que não se trata da Erato, mas de seres reais que lhe deixaram marcas, ou até feridas, na memória. Uma? Várias? Não sei. Elas podem variar conforme as condições atmosféricas interiores na imaginação do poeta. Por isso talvez sejam várias ou, então, uma só, mas com capacidade de se metamorfosear. Na imaginação do poeta. Sim, mas que aqui haja mesmo mistério parece não oferecer dúvidas. O mesmo que acompanha o sentimento do amor ou a vagueza da melancolia. Uma intensa neblina que quase não deixa ver um palmo à frente do nariz. Mas, sim, há sempre boas relações com a musa (ou com as musas), sobretudo porque elas estão ancoradas no silêncio. E o poeta não é precisamente o intérprete privilegiado dos ecos do silêncio?
O POETA É FELIZ?
Muitas vezes tenho dito que a poesia funciona como o divã dos psicanalistas, embora, claro, exiba uma beleza que aquele (e aquela, divã e psicanálise) não tem. Falo, por exemplo, da livre associação ou da interpretação dos sonhos. Por isso, o Pessoa não precisava da psicanálise para nada. Tinha poesia onde se deitar. Nem sequer o Bernardo Soares que, não se ajeitando com a poesia, tinha lá em casa os irmãos poetas que lhe davam o que ele dizia não ter. Uma casa cheia de palavras, de sonhos e de livres associações. Por isso, eu não acho que ele, o Pessoa, fosse infeliz. Creio mesmo que era mais feliz do que os outros. Quem, como ele, conseguia ser (sem sair de si ou, então, saindo de si para outro lugar em si) tantas e tão belas “Pessoas” ao mesmo tempo? Uma felicidade a que poucos podem aceder. Pelo contrário, a felicidade mais fácil é simplesmente curta e circular, redonda. A outra, a dele, é uma felicidade em espiral e sem fim. Lembram-se do que o Bernardo Soares dizia do sonho? O que no sonho há de mais reles é que todos o têm, que todos sonham. Mas os sonhos dele eram muito diferentes. Eram sonhos de poeta feitos de palavras. Musas e fantasmas reais? Sim. Vivem na alma do poeta e é por isso que ele lhes pode dar vida cá fora, com palavras. E a felicidade aumenta quando se espalham por quem delas pode fruir.
PRESSENTIMENTO
A musa faz parte integrante da identidade do poeta, que nasceu com ela e com ela vai continuar. Tinha razão o T. S. Eliot. Claro, depois surgem os fantasmas. Isso é inevitável num mundo de relações tão delicadas. Surge sempre um fantasma que ameaça perturbar as relações entre o poeta e a musa. Mas isso, sendo disruptivo, faz, por isso mesmo, parte do processo criativo. Haverá sempre um fantasma que quer beber os beijos que o poeta envia à silenciosa musa. E às vezes consegue. Consegue roubar os beijos. Paciência, diz o poeta. É roubo legítimo, reconhece o poeta, porque sabe que os fantasmas se alimentam de beijos ao longo do trajecto que percorrem para chegarem às musas. Por isso tem de continuar, pois nunca sabe se os beijos, levados pelo vento que passa, chegam à casa da musa. Bem sei que os ecos ressoam na alma do poeta e, por isso, ele consegue pressentir o que aconteceu. Mas não passa de pressentimento.
SENHORES DO TEMPO
Li recentemente uma entrevista de Francis Ford Coppola no jornal francês “Libération” sobre o seu novo filme “Megalopolis”, onde dizia que os artistas são os senhores do tempo e que até o conseguem parar. Acho que ele tem razão porque a arte, e, portanto, também a poesia, consegue modelar o tempo, trazer o passado ao presente e até projectá-lo no futuro, levar o futuro ao passado e até tornar o presente um absoluto temporal. A arte é a senhora do tempo. E até admito que o próprio tempo seja o grande cúmplice da arte porque não só preserva o que a ela interessa, mas também a preserva a ela própria. O tempo escultor respeita a arte porque ela tem o poder de viajar nele livremente em qualquer uma das suas três dimensões. A arte liberta o espírito (do tempo cronológico) e cura as maleitas da alma. E o amor é uma delas (dizia o Stendhal e também o Novalis: “Liebe ist durchaus Krankheit”). E a poesia cura, cantando-as. “A poesia é a grande arte da construção da saúde transcendental. O poeta é, portanto, o médico transcendental” – isto dizia-o Novalis. Depois, a pintura, quando associada à poesia, dá-lhe maior realismo, beleza e até eficácia sensorial, para não dizer curativa.
POETAR
Poetar é voar mais alto, não ficar preso às exigências da rotina, ao circunstancial, à contingência, tantas vezes aos impulsos momentâneos, ruídos que nada têm a ver com o essencial. A vida é o que é. E deixa marcas profundas. O que o poeta tem de fazer é mesmo elevar-se sobre elas, sem fugir, mas metabolizando-as com arte e como arte. Aconteceram? Então, cantêmo-las. É isso a liberdade. É o que eu procuro fazer quando mergulho poeticamente. Cantar o que aconteceu. E propor o canto como forma superior de vida. Chega um momento em que podemos fazê-lo e, então, é pôr mãos à obra. Com alegria, com prazer e com elevação: a poesia é “Erhebung des Menschen ueber sich selbst” (Novalis). A poesia é elevação. Nela, o poeta supera-se.
VOAR
Voar é a palavra, quando se fala de poesia. Então tinha mesmo de ser o quadro intitulado “Voar” a ilustrar o poema com o mesmo título. A poesia é voo. É liberdade. Mas com ela, no voo, levamos também a nossa vida, os tropeções, o que perdemos ou nunca encontrámos, o que ficou registado e sublinhado na memória, quase sempre como ferida. Não é, pois, fuga, mas metabolização através da verbalização em pauta melódica e rítmica. É levitação, retira peso à existência. E só por isso se pode traduzir pela palavra “voar”. As palavras são as asas que sustentam o voo do poeta, mas a pintura, quando o processo é sinestésico, pode materializar melhor a metabolização. Palavras com cor e com movimento visível, maior poder sensorial. Palavras, música, cor, movimento. Está lá tudo e tudo é real. Assim, a performatividade da poesia é ainda maior. É por isso que eu procuro sempre a sinestesia perfeita. O poema é uma acção. Um acto pleno.
CRISTALIZAÇÃO
Os meus poemas contam sempre uma história, não tanto como narrativa, mas mais como “grito” de alma. Lamento espiritual. Cifrado desabafo. Não se trata, pois, de artifício literário, embora, como é natural, haja sempre um duro e difícil trabalho estilístico. O poema sai da alma. E, como se sabe, e o disse também Novalis, “der Geist entsteht aus der Seele – Er ist die kristallizierte Seele”. Na poesia podemos encontrar a alma cristalizada, sob a forma de espírito materializado em pauta verbal e melódica, a dimensão apolínea da poesia. O Stendhal dizia coisa parecida do amor ao falar de “cristallisation”. E no poema cada palavra deve simultaneamente corresponder à exigências da semântica, mas também às da melodia e do ritmo, da toada, dando unidade e autenticidade ao poema. É esta conjunção entre a alma e o espírito que permite evitar a artificialidade. A “cristalização” nunca pode ser artificial. Não era por acaso que Nietzsche via a superioridade da tragédia grega na harmonia entre e “espírito dionisíaco” e o “espírito apolíneo”.
CANSAÇO
As palavras do poeta, às vezes, parecem cansadas, mas mais por terem sempre de estar a interpretar os ecos do silêncio da musa do que por serem convocadas para se perfilarem na pauta melódica e rítmica da poesia. Disso elas gostam. Gostam mesmo muito. Mas, como se sabe, até o poeta tem de lutar contra um certo cansaço, que não é poético, mas prévio, talvez precocemente melancólico, na fase da tristeza. Isto de ter sempre de subir (e descer, para logo voltar a subir) ao Parnaso com as palavras às costas para se libertar do peso remoto da memória também cansa. Mas ele é como Sísifo, os deuses assim determinaram e tem mesmo de ser… a caminho da doce melancolia. Nunca ele ousará desafiar a ira dos deuses… e talvez também a da musa. Mas, no fim, a recompensa enche-o de felicidade e dá-lhe forças para continuar o seu canto. E assim continuará a ser.
MISTÉRIO
Há sempre mistério na poesia. O poeta nunca diz tudo mesmo que diga demais. O simples facto de ser poesia induz esse sentimento de discurso velado. Depois há um intervalo entre o ser do poeta e o do sujeito poético e é nesse intervalo que se situa o discurso poético. Há um fragmento do Novalis que alude a uma relação próxima desta: “o lugar da alma está no ponto onde o mundo interior e o mundo exterior se tocam”. A poesia é primordialmente coisa da alma e reside na intersecção da vida interior com o mundo, o lugar da alma. E é também por isso que, na poesia, a paz coexiste com a inquietação – é essa coexistência que torna bela, mas também dinâmica, a poesia.
LAURA
À pergunta de uma Amiga sobre se a minha musa era a Laura do Petrarca respondi negativamente, mas deixando uma pista que pode ligar o poeta à amada de Petrarca. Respondi que tenho, sim, uma velha amiga italiana que se chama Laura e vive em Florença, mas que é de Veroli. E que não é ela, a musa. Que é somente uma querida amiga, e há muitos anos. O nome Laura vem do latim Laurus (Loureiro), o arbusto de Apolo, o saber e a glória. Teria podido, então, perguntar: é desta Laura que se trata? Eu responderia: talvez. O Olimpo, o Parnaso, Apolo, o louro, o saber e a glória dos vencedores. Neste caso, o poeta vence o quê? O poeta não vence nada. Limita-se a fazer da fraqueza força, ajudado por Apolo, isso sim. É daqui, desta ascensão ao Monte, que o poeta recebe o louro. O Petrarca amou Laura até ao fim dos seus, dele, dias. Mesmo quando ela já tinha partido, provavelmente em 1348. É este o destino dos poetas. Amar para além das contingências do tempo vivido. A seta atinge-os lá no centro e a ferida fica para sempre, mesmo quando o arco fica menos tenso, como Petrarca diz no poema que transcrevo. Laura, Beatrice? Talvez mais Laura. Até pelo nome e pela proximidade a Apolo e ao arbusto sagrado. Melancolia? Sim, não há poesia sem melancolia. Aqui deixo o soneto de Petrarca sobre Laura (século XIV):
“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
che ’n mille dolci nodi gli avolgea,
e ’l vago lume oltra misura ardea
di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi;
// e ’l viso di pietosi color’ farsi,
non so se vero o falso, mi parea:
i’ che l’esca amorosa al petto avea,
qual meraviglia se di sùbito arsi?
// Non era l’andar suo cosa mortale,
ma d’angelica forma; e le parole
sonavan altro, che pur voce humana.
// Uno spirto celeste, un vivo sole
fu quel ch’i’ vidi: e se non fosse or tale,
piagha per allentar d’arco non sana.”
Também neste poema encontramos uma combinação entre um amor eterno (a Laura, identificada aqui, por alusão, como vento, l’aura), a beleza angélica e intemporal da amada que o recusou (era casada desde os 15 anos), os ingredientes que fazem deste poema de Petrarca uma poema profundamente melancólico – o amor eterno perante a beleza de Laura, mas, infelizmente, inacessível ao Poeta amoroso: um sol resplandecente foi o que eu vi: e mesmo que já não fosse como era, a ferida não se curaria mesmo que o arco (de Cupido, entenda-se) já estivesse menos tenso. A poesia a projectar o amor impossível numa doce e eterna melancolia (o poema terá sido escrito, julgo, durante a vida de Laura).
PALAVRAS
As palavras regressam sempre ao poeta que as diz. Gosto desta ideia de regresso das palavras. Mas não é boomerang. E não é só o seu eco que regressa. O sentido que, combinadas, delas resulta. Também é, mas não só. São elas mesmas, inteiras, porque o poeta precisa delas intactas, cheias de sentido próprio. Cada palavra é um mundo. Um poeta sem palavras, sem as suas palavras, seria como uma borboleta sem pólen. Ou, pior, sem pólen e sem asas. Sem elas ficaria aninhado num silêncio mudo e sofrido, incapaz sequer de emitir sinais. Paralisado. Falo, claro, de palavras com densidade, não das que compõem a tagarelice ou os jogos florais, o mero “divertissement”, ou de palavras que são pura arma de arremesso. Palavras há muitas, pois há, mas as palavras do poeta são de uma natureza especial. Glosando Novalis, diria que as palavras (como a linguagem, e como ele refere) do poeta são instrumentos musicais das ideias. Mas eu acrescentaria: sobretudo do sentimento. A poesia também é música e só isso (mas há mais, muito mais) faria a diferença. A poesia é o habitat natural das palavras. Nenhuma acção as valoriza tanto como o acto poético, onde uma palavra pode valer mais do que mil imagens. E são pautas musicais. E é com elas que o poeta beija. É com elas que age, que ama, que pinta, que sonha, que viaja, que canta e que se entrega ao mundo de forma desinteressada, sem pedir retorno. É com elas que se desnuda. Sim, mas é um striptease com véu translúcido espesso. Neblina que requer imaginação para se ver o que está para além dela. Murmúrios, estados de alma – tudo o que faz de nós seres humanos. A nossa identidade, como membros do género humano, algo para além da condição de membros da espécie, é-nos dada pelas palavras em acção. São elas que permitem o processo de espiritualização e até o acesso ao silêncio, ao eco do silêncio São veículos com propulsão anímica (são suspiros da alma) e ultraligeiros, capazes de viajar no tempo, para o passado e para o futuro. As palavras têm vida própria, mas precisam de quem as conduza. Do poeta, sobretudo do poeta. As palavras gostam da poesia e o poeta gosta das palavras.
FINGIMENTO
Na verdade, o chamado fingimento poético decorre das próprias características do discurso poético, que é cifrado, que obedece a critérios estéticos (e só isso o obrigaria a descolar do referente, por mais belo que ele fosse) e à exigência de musicalidade (toada, ritmo, leveza), ao uso de figuras de estilo. Numa palavra, o fingimento poético não é verdadeiramente fingimento e muito menos mentira. A poesia é livre e a sua liberdade reside na sua procura do belo e da universalidade, sem anular a dimensão subjectiva, sensível. O dizer poético nunca é linear, é mais do que o eventual referente, responde a exigências estéticas e usa uma linguagem cifrada (com figuras de estilo e rupturas na lógica convencional). Foi por isso que o outro disse, na Autopsicografia, que o poeta é um fingidor. E fingir, no sentido em que o disse, não é, como se sabe, mentir, porque pode somente significar de forma não denotativa, aludir veladamente, não revelar explicitamente. “Palavras que o vento não leva”, disse um leitor. Gosto disto. Umas vão e outras ficam. E pode até dar-se o caso de que precise delas para responder a outra musa com outros tons e outras cores, volúvel como é. Mas a verdade é que algumas ficam resguardadas porque o poeta nunca se esgota num poema, embora tente sempre atingir o absoluto. Mas são tantas e tão densas, essas palavras, que nem todas vão com o vento. Ficam também como garantia segura das que vão com o vento. Uma espécie de apólice. Ou barras de ouro que garantem o valor das que vão ser trocadas por sentimentos. Como o dinheiro, embora mais preciosas. É inesgotável a fonte discursiva do poeta, apesar de, em cada acção poética que pratica, ele agir como se essa seja sempre a derradeira acção da sua vida. Procura sempre o absoluto… que nunca atinge. Se atingisse, ficava por lá. Felizmente que há palavras para todos os seus gostos. A poesia é um tónico vital feito de palavras.
NOTA
* O asterisco sinaliza a obra Fragmentos de Novalis, Porto, Assírio & Alvim, 2024, 3.ª edição. Edição bilingue, alemão-português, com selecção e tradução de Rui Chaves. Foi desta obra que retirei as citações e as referências a Novalis – Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (1772-1801). JAS@09-2024

O ESPAÇO PÚBLICO E A LEGITIMIDADE DO PODER
O Espaço Digital
Por João de Almeida Santos
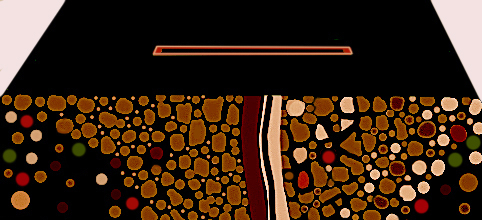
“S/Título”. JAS. 09-2024
NUMA CURTA ENTREVISTA ao novo caderno do “Expresso”, “Ideias” (13.09.2024), a autora do famoso livro sobre o chamado capitalismo da vigilância, Shoshana Zuboff, diz, textualmente, que a) “nossa praça pública já não o é, é uma praça privada, é propriedade”; e que b) “a privacidade, como existia no ano 2000, já não existe, é uma espécie de palavra zombie”. Espaço público e privacidade, dois conceitos decisivos para identificar a civilização ocidental e da democracia representativa que parece estarem hoje em causa. Estranho, não é? Avança o privado e acaba a privacidade? Mais parece um oxímoro. Mas não é. Vejamos.
1.
A autora, filósofa de Harvard, faz estas afirmações no quadro da tese central do seu livro: a da desmontagem do modo de produção, existente à escala planetária, do capitalismo da vigilância, promovido pelas grandes plataformas digitais, ou seja, a transformação dos utilizadores em matéria-prima para a determinação preditiva de comportamentos futuros e ulterior venda aos grandes clientes, entre os quais podem estar precisamente as grandes organizações políticas (A Era do Capitalismo da Vigilância, Lisboa, Relógio d’Água, 2020). Utilizadores que, de clientes, acabaram por se tornar matéria-prima para modelar e vender como produtos preditivos de comportamento futuro aos novos clientes das plataformas. Uma viragem de cento e oitenta graus e uma profunda alteração do seu primeiro modelo, o que tinha os utilizadores como clientes primários.
2.
Ela não se refere, nesta entrevista, ao espaço público mediático, mas essencialmente ao espaço digital, ao das grandes plataformas digitais, sendo, todavia, evidente que mesmo o espaço público mediático se pode considerar, em certa medida, privado, pois o acesso a ele é gerido pelos famosos gatekeepers, os seus guardiões, e carece de autorização quer para nele intervir quer para a ele aceder (mediante pagamento ou contrapartidas publicitárias ou até também orçamentais, no caso das televisões em canal aberto, quando públicas). Sobretudo depois da privatização generalizada dos meios de comunicação. Sim, mas aqui, com o espaço digital, essa dimensão privada é alargada, aprofundada e reconfigurada pelas razões que passo a expor.
3.
Se o primeiro era um espaço de mass communication aberto, embora sob as condições acima referidas, onde o emissor estava claramente identificado e regulado por lei e por códigos éticos (as clássicas plataformas: imprensa, rádio, televisão) e onde os conteúdos eram produzidos sob o seu directo controlo e difundidos uniformemente, o segundo, ou seja, o espaço digital, não obedece a estas características. Em primeiro lugar, trata-se somente de infraestruturas abertas de acesso livre quer para a produção de conteúdos quer para obtenção de informação; em segundo lugar, já não se trata de mass communication, mas sim de mass self-communication (Castells), comunicação individualizada de massas (o conceito de massas é aqui transformado em multiplicidade de indivíduos singularmente considerados e não massa homogénea, mesmo quando seja classificada por targets) num espaço aberto onde se regista uma participação (navegação) bidireccional activa e individualizada (o utilizador como livre produtor e livre receptor, o já famoso prosumer); em terceiro lugar, e no seu mais recente desenvolvimento, a relação entre as plataformas digitais e os utilizadores está a ser, como vimos, sujeita a um processo de pré-determinação dos seus perfis para futura devolução individual de conteúdos devidamente formatados e tipificados, tendo como objectivo a sedução, por identificação com as próprias idiossincrasias, dos utilizadores. Uma função de natureza especular. Neste processo, verifica-se como que uma relação contratual tácita entre as plataformas e os utilizadores (a plataformas oferecem o serviço e os fruidores autorização para uso dos seus dados pessoais), numa espécie de constituency que vê como protagonistas as plataformas e os utilizadores individuais, num processo paralelo ou lateral ao espaço público político normativamente regulado pelo Estado. Uma terceira constituency, portanto: um imenso espaço privado onde acontece o processo informal, e pilotado, de conquista do consenso, com base numa lógica de contrato privado. É esta a diferença fundamental e é neste sentido que se pode dizer que estamos perante um gigantesco espaço privado subliminar que funciona como um ilimitado território de conquista do consenso para, neste caso, fins directamente políticos. Ou seja, as plataformas digitais são sucedâneos muito mais sofisticados e radicais das clássicas plataformas de comunicação: mass self-communication. Um aprofundamento da lógica que já se insinuava no velho espaço público, sobretudo a partir do momento em que, como disse, se deu a privatização generalizada dos meios de comunicação. A diferença abissal é a que vai do marketing clássico (concebido para os media e os respectivos consumidores) ao marketing 4.0, concebido para o universo digital (Kotler).
4.
Daqui, mas não só, decorre uma intervenção fortemente intrusiva na privacidade, pois para determinar preditivamente os comportamentos é necessário traçar os perfis dos utilizadores, o que é feito pelas plataformas e pelos algoritmos: toda a sua actividade na rede é estudada, seleccionada e desenhada para efeitos de previsão dos seus comportamentos futuros. Se a isso juntarmos a informação registada por todos os dispositivos usados na rede (e autorizada explicitamente pelos utilizadores) e geridos pelas plataformas (por exemplo, pela Google), é, sim, possível dizer que a ideia de privacidade já é pura ficção. Ou seja, que a “soberania digital” do utilizador desapareceu.
5.
Shoshana Zuboff apela a uma intervenção dos poderes públicos para repor o espaço público no seu devido lugar, mas, a verificar-se o que já acontece com as plataformas tradicionais – o crescente uso e abuso de um tabloidismo desbragado e o uso instrumental da informação -, há muito pouco a esperar, ainda que já tenha havido iniciativas positivas como, por exemplo, o código assinado entre a Comissão Europeia e as maiores plataformas, Facebook, Google, Twitter e Youtube, por ocasião das europeias em 2019, com resultados muito significativos e interessantes (tratou-se de apagar a desinformação circulante). Mas, na verdade, será deveras preocupante se os senhores das plataformas, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ou Pavel Durov, por exemplo, seguirem o exemplo do senhor Elon Musk e desatarem a promover, ajudados pelos famosos “engenheiros do caos” (Da Empoli) ou spin doctors 4.0, as campanhas dos populistas de direita ou mesmo dos ditadores, intervindo maciçamente, e de forma subliminar, nos processos eleitorais, quer de forma activa e directa quer de forma indirecta, por exemplo, orientando arbitrariamente o processo de difusão e reprodução das mensagens nas redes sociais e condicionando fortemente os cidadãos não só nos processos eleitorais, mas também ao longo do tempo não eleitoral (permanent campaigning). Quando Shoshana Zuboff fala de privatização da praça pública é a este território digital que se está a referir. De resto, este território também já absorveu as tradicionais plataformas, pelo que é possível identificar quase todo o espaço público com o espaço digital e constatar que, sim, já se trata mais de espaço privado do que de espaço público, quer no plano da gestão quer no plano do acesso. É de um espaço intermédio que estou a falar, o que se localiza entre a cidadania e o poder político. Um espaço que deveria conter as duas características de espaço público e de espaço privado, uma conjunção indissociável entre o público e o privado naqueles processos que são funcionais à construção do autogoverno dos povos. Ora se este espaço for subtraído à esfera pública e ficar totalmente sob a alçada dos poderes privados e da correspondente lógica contratual (alheia ao dispositivo político previsto constitucionalmente, sendo precisamente por isso que hoje já se fala da necessidade de um constitucionalismo digital) a política democrática sofrerá consequentemente danos irreversíveis (com o Estado a ser transformado em pura longa manus do poder privado). É claro que também a faixa privada deste vasto espaço intermédio não pode ser anulada sob pena de a política sofrer danos opostos, mas igualmente danosos: a subordinação integral da sociedade civil ao Estado. Por exemplo, nas ditaduras. A verdade é que este espaço intermédio se estende entre o território privado e o território público na medida em que é nele que se estabelece a ligação interactiva entre um e outro, entre o privado e o público, entre o indivÍduo singular e o Estado. Os partidos políticos são claros exemplos desta dupla natureza (e é considerado desvio quando eles se entregam nos braços do Estado, apagando a sua natureza civil). E é precisamente neste território que acontece a luta pelo consenso, com regras específicas e de forma transparente, procedimentos rigorosos, definidos pelo Estado e aceites pelos competidores, numa dialéctica que deverá decorrer à luz do dia e que deve garantir condições equitativas para todos. Um processo que não pode, pois, ser integralmente capturado pelas plataformas e gerido de acordo com a lógica contratual puramente privada.
6.
Nada disto seria assim se as plataformas digitais tivessem mantido a sua original vocação como tecnologias de libertação e não estivessem a enveredar pela construção de um mundo paralelo cada vez mais pilotado, não só pelo que Zuboff refere no livro “O Capitalismo da Vigilância”, mas agora também pela intervenção despudorada nos processos políticos nacionais (como já o tinham sido no Brexit e na eleição de Trump, por Steve Bannon e pela Cambridge Analytica e com dados fornecidos pelo Facebook), como está a acontecer com o senhor Elon Musk e a promoção descarada de Donald Trump (mas, diz ele, em nome da liberdade de expressão), como parece ter já também acontecido, mas agora de forma mais disfarçada, com Zuckerberg (ao referir, dirigindo-se aos republicanos, em plena campanha para as presidenciais, que a administração Biden/Harris o pressionou insistentemente em relação ao COVID 19), aparentemente a favor de Trump, ou como pode também acontecer com o senhor Pavel Durov, da Telegram (embora não se conheça directas razões de natureza política, mas somente de natureza criminal, para a sua detenção em França).
7.
No meu livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024) discorro abundantemente sobre aquilo que designo por uma terceira constituency, a das plataformas digitais, depois da do cidadão contribuinte e da das plataformas financeiras internacionais (referidas no excelente livro de Wolfgang Streeck, Tempo Comprado, Coimbra, Actual, 2013) que financiam as dívidas públicas e impõem autênticos programas de governo (veja-se o caso de Portugal, da Grécia e da Irlanda). Se for verdade que já estamos perante uma privatização ou apropriação privada do espaço público pelas plataformas digitais, mas também, afinal, pelas plataformas tradicionais de comunicação, embora em menor grau (o gatekeeping e o pagamento para o acesso), o que acontece é que o conhecimento focado dos perfis dos eleitores, conseguido pelo estudo das suas preferências no uso das plataformas, numa injunção inaceitável sobre as suas vidas na rede, permite um forte condicionamento em larga escala do seu próprio comportamento eleitoral, designadamente através da determinação preditiva dos comportamentos eleitorais futuros e daquele que hoje já é designado como marketing 4.0 (que se segue ao estudo dos comportamentos na rede e à determinação dos perfis, para posterior devolução em pacotes informativos que contêm as suas preferências) e que até integra processos de participação voluntária dos utilizadores na relação comunicacional. Por aqui podem correr os processos eleitorais e a construção da opinião pública, deslocando a formação da opinião política para este espaço privado e deixando na superfície apenas o processo formal de decisão eleitoral, como mera confirmação do que subliminarmente e substancialmente foi entretanto conseguido. Assim, é esta constituency, a terceira, que importa evidenciar aqui. Uma constituency sem território, sem fronteiras, sem promotores visíveis e reconhecidos formalmente, sem accountability, sem procedimentos pública e institucionalmente vinculantes, mas com impacto directo e profundo nos processos eleitorais e de formação do consenso. Espaço público totalmente privatizado e a “privacidade” usada como mera matéria-prima para a construção de estereótipos focados (individualizados) com vista à conquista e à manutenção do poder.
8.
Radicalizando um pouco, o que se verificará é que a democracia representativa se encontrará, assim, esvaziada de conteúdo, de sentido e, pior, de transparência na imputação das responsabilidades aos detentores formais do poder e da representação, decorrendo o essencial da formação do consenso numa vastíssima e influente zona de sombra. Tudo passaria ao lado dos procedimentos formais da democracia representativa, que se limitariam a ser um mero simulacro de processo democrático.
9.
Na verdade, eu não me incluo na fileira dos novos apocalípticos e tenho vindo, frequentemente, a sublinhar os aspectos positivos das plataformas digitais, sobretudo na sua primeira fase de implantação. Mas tenho bem consciência dos perigos que espreitam e que podem desvirtuar o essencial do processo democrático, transformando-o em pura ficção, em puro simulacro. É aqui que deve entrar o poder político legítimo para reconduzir as plataformas à sua essencial função original, desenvolvendo um constitucionalismo digital e negociando, neste quadro, com aquelas a sua própria esfera de acção e de intervenção, em particular, na política, não usando prevalecentemente os instrumentos coercivos ou punitivos (excesso de leis, “gold plating” e 270 “regulators active in digital networks across all Member States”) de que os Estados ou a União Europeia dispõem, e até atendendo a que não é possível regredir para uma fase pré-digital. Por exemplo, no recentíssimo Relatório Draghi, acima citado, fala-se de iniciativas da União para garantir “sovereign cloud” – não só através da promoção de uma “cloud industry” própria, mas também através de uma cooperação com “fornecedores de cloud UE e extra-UE” (“The future of european competitiveness”, CE/EU, 09.2024, parte A, p. 30). Um só dado a este respeito, citado no Relatório: o maior operador cloud europeu só dispõe de 2% de quota de mercado na EU. A União Europeia não possui uma plataforma digital (como, de resto, nem sequer possui uma agência de rating), mas este seria um importante instrumento que ajudaria a promover uma melhor regulação do universo digital, interna e externa (o Relatório refere a necessidade de criar um “digital transatlantic marketplace”). De resto, o Relatório Draghi insiste muito na promoção do investimento no digital e em IA e na criação de, neste sector, uma economia de escala europeia (pondo fim à excessiva fragmentação existente), maior financiamento e de natureza comunitária, redução da carga administrativa e normativa, maior investimento público, para melhor enfrentar o futuro, desde a protecção da soberania digital europeia à sua competitividade no mercado global.
10.
Parecendo ser complexa esta situação, ela é, afinal, muito simples. O cidadão, claro, decide na sua esfera privada quem o deve governar. É a esfera da sociedade civil. Sem dúvida. Mas esta decisão deve acontecer à luz do dia, num sistema devidamente regulado pelo Estado, e não num imenso subterrâneo de manipulação científica das consciências, sem qualquer accountability ou imputabilidade das mensagens enviadas para orientação directa ou indirecta dos eleitores. O espaço público político tem, de facto, duas dimensões, uma pública e outra privada. Por exemplo, os partidos políticos, sendo organizações privadas, são constitucionalmente reconhecidos de interesse público, sendo-lhes inclusivamente reconhecida, entre outras importantes prerrogativas, a exclusividade de propositura nas candidaturas à representação política nacional. É disto que se trata. Não aceitando o radicalismo da análise de Shoshana Zuboff, reconheço a pertinência da sua análise neste livro, tal como me acontecera em relação a Naomi Klein e à perspectiva desenvolvida no seu excelente livro No Logo, considerado a bíblia dos movimentos anti-globalização. Um livro talvez mais partilhável do que o de Shoshana Zuboff ou do que a filosofia implícita no célebre documentário da NETFLIX sobre as redes sociais, em que ela própria participou. Nem apocalípticos, mas também não integrados – entre uns e outros é possível desenvolver uma lógica crítica, mas de bom senso, realista e pragmática.
11.
Posto isto, julgo que seria altura de os partidos políticos democráticos de centro-esquerda ou de centro-direita se debruçarem sobre estas questões em vez de continuarem a fazer política como se nada, entretanto, tivesse acontecido, queixando-se, apenas, do perigo do populismo emergente, sem se interrogarem sobre o grau de responsabilidade que lhes cabe e sobre as razões do seu aparente falhanço. JAS@09-2024

A DEMOCRACIA ROUBADA?
O CASO FRANCÊS
Por João de Almeida Santos

“La République” – JAS 2024
DEPOIS DA ESCOLHA DE MICHEL BARNIER como primeiro-ministro, e não da candidata Lucie Castets, proposta pela Nova Frente Popular (NFP), Emmanuel Macron está a ser acusado pela esquerda de ter roubado a democracia em França. O raciocínio é este: sendo a NFP o bloco político de maioria relativa, saída das eleições, deveria ser ela a responsável pela formação do governo. Mas não foi e daí a acusação feita pelas forças que integram a NFP, A França Insubmissa (LFI), o Partido Socialista, os Verdes e os Comunistas. Mas não se trata só disto: irá ser proposta à Assembleia Nacional (AN), ao abrigo do art. 68 da Constituição francesa, uma resolução para a formação de uma “Haute Cour” com vista à destituição do presidente. Nada menos. Puro maximalismo, ilegítimo e inconstitucional, a evidenciar ódio político a Macron e uma perigosa irracionalidade. A estas acusações acrescem duas críticas ao Presidente: ter decidido, erradamente, ir para eleições legislativas a seguir às europeias e, depois, ter levado cerca de dois meses para indicar um novo primeiro-ministro, como se não fosse mais do que habitual a formação de governos saídos de eleições levar o mesmo tempo ou muito mais (aconteceu recentemente entre nós, como tem vindo a acontecer em Itália desde o pós-guerra e como aconteceu nos países baixos – a formação do último governo levou cerca de sete meses desde as eleições de novembro de 2023). E esta situação até é facilmente explicável se atendermos à nova composição da AN saída das eleições, ou seja, fragmentada em três grandes blocos. Mas a verdade é que o caso francês é tão interessante e elucidativo que vale a pena clarificar o que esteve realmente em causa, para evitar juízos apressados como os que circulam em abundância por aí. E, em particular, na área do centro esquerda. É o que me proponho hoje fazer.
1.
As europeias realizaram-se em Junho e foram ganhas de forma muito significativa pelo Rassemblement National (RN) da senhora Marine Le Pen e do senhor Jordan Bardella. O RN obteve 31,37% e 30 eurodeputados contra 14,6% e 13 eurodeputados do bloco presidencial (“Besoin d’Europe”) ou do partido socialista (“Reveiller L’Europe”), com 13,83 % e 13 eurodeputados, não tendo a LFI sequer atingido os 10% (9,89% e 9 eurodeputados). Note-se que a taxa de participação dos franceses nestas eleições foi de 51,49%, portanto, muito significativa, devendo suscitar por isso ilações políticas fortes, como, aliás, aconteceu. E note-se, também, que o sistema eleitoral é, nas europeias, proporcional.
Foi este resultado que levou Macron a convocar eleições para que houvesse uma clarificação política, sob pena de, mantendo-se a situação política inalterada depois das europeias, a política francesa ficar inevitavelmente capturada pela sensação pública de ser o RN a força política com maior legítimidade para determinar o destino político de França, ficando consequentemente o governo francês altamente fragilizado. E não serão os resultados verificados nas legislativas a servir de grelha analítica para avaliar da bondade da decisão de Macron, até porque a primeira volta os confirmou, embora com valores muito mais aproximados. Mas não é necessário frequentar a Sorbonne para perceber que os resultados avassaladores das europeias teriam efeitos políticos disruptivos sobre a evolução da opinião pública e, consequentemente, sobre a política francesa. Efeitos claramente favoráveis ao RN, dada a dimensão da vitória eleitoral. Um resultado tão expressivo como este justificaria, por isso, perguntar aos franceses se confirmavam esta orientação eleitoral em eleições legislativas, mostrando o devido respeito pela cidadania. Por isso, na minha opinião, Macron fez o que devia, tendo esta tendência sido confirmada na primeira volta das legislativas, com o RN a ser de novo o partido mais votado, mas com valores muito inferiores aos registados nas europeias. Um primeiro passo, pois, para relativizar a força eleitoral do RN. Na minha opinião o que Macron fez foi exactamente recusar-se a meter a cabeça na areia para não ver o gigante político que se estava a aproximar cada vez mais do centro do poder.
2.
Com efeito, o RN venceu as eleições na primeira volta, contra as duas coligações União de Esquerda e Ensemble, obtendo 29,28% e 37 mandatos contra 27,99% e 32 mandatos, da primeira, e 20,04% e dois mandatos, da segunda. Não é por acaso que o RN se está a bater por uma alteração do sistema eleitoral com a introdução de um sistema proporcional. Lembro que o sistema eleitoral é, nestas eleições, maioritário em duas voltas. O partido de Marine Le Pen e de Bardella mantém-se, pois, como o maior partido francês e só a natureza do sistema eleitoral francês o viria a impedir de voltar, pela terceira vez, a ganhar eleições. Por isso, não creio que fosse sério continuar, depois das europeias e do nível de participação que tiveram, como se nada tivesse acontecido em Junho. E foi por isso que Macron decidiu, e bem, dar a palavra aos franceses.
3.
Só na segunda volta das legislativas o RN seria remetido para a terceira posição em número de deputados, fruto de uma aliança entre a NFP e o Ensemble que determinava que só os candidatos que estivessem em condições de derrotar os candidatos do RN se apresentariam a eleições. E assim foi, embora este partido (e a fracção dos Republicanos do senhor Ciotti, aliada ao RN) tenha sido o partido que obteve mais votos: cerca de três milhões mais do que o vencedor da segunda volta, a NFP. Mas é preciso não esquecer que o RN ganhou a primeira volta das legislativas, embora não já de forma tão significativa como nas europeias. E isso tem relevância.
4.
O RN é, pois, hoje, politicamente, a força maioritária em França, apesar de ter menos deputados 142 (RN + UXD) do que o bloco de esquerda e do que o bloco de Macron (estes, respectivamente, com 193 e 166 deputados). Mas tem menos deputados porque, como disse, na segunda volta teve contra si uma aliança destes dois blocos centrada numa política de desistências a favor do candidato que estivesse em melhores condições de derrotar o seu candidato. Ou seja, a configuração parlamentar actual decorreu mais da aplicação de uma lógica negativa usada contra o RN do que dos programas que os candidatos propuseram aos eleitores ou da sua exclusiva identidade política. E é este facto incontestável (relembrado na parte final do comunicado da presidência da República) que torna mais frágil a reivindicação da NFP porque não bate certo com a política de compromisso que levou a este resultado final. Não fosse esta orientação eleitoral e o partido que ganharia as eleições teria sido provavelmente o RN (tal como aconteceu na primeira volta e nas europeias).
5.
A lógica ditaria, pois, que a mesma política de compromisso fosse aplicada na formação do governo e na constituição de uma maioria parlamentar que garantisse a estabilidade governativa, respeitando a orientação política que levou à derrota do RN. E sabe-se que o projecto de Macron era precisamente o de promover um governo que integrasse membros da NFP, do seu bloco político e dos Republicanos. Não era visto com bons olhos, ao que parece, que a LFI integrasse o novo bloco governativo, mas nem o senhor Mélenchon se importaria com isso, a crer literalmente na declaração que fez a este respeito (não considerando, pois, que foi uma declaração táctica e puramente retórica ou até mesmo um pouco cínica). Uma solução deste tipo teria uma maioria de apoio na Assembleia Nacional. Mas a verdade é que esta solução ficou imediatamente impossibilitada quando a NFP apresentou a sua candidata a Matignon publicamente e, mais, ameaçando o presidente de destituição se não a nomeasse. Esta decisão não só prescindiu do que acontecera antes, na segunda volta, e recusava o projecto de Macron, mas também o obrigou a optar, em coerência com a sua própria estratégia, por uma solução que não encontrasse resistências significativas à direita (a solução que lhe restou), passando, pois, a incluir na equação a posição do próprio RN, o mesmo que na segunda volta fora combatido quer pelo bloco do Presidente quer pela NFP. Não parece ter, pois, fundamento dizer que, no fundo, era mesmo isto que Macron queria. Não o quis na primeira volta e voltou a não querê-lo quando esteve disposto a nomear o senhor Cazeneuve, ex-primeiro ministro de Hollande, que Faure não quis. Uma autêntica reviravolta, contrária ao espírito que norteou a segunda volta das legislativas.
6.
Não nego, naturalmente, que a NFP tivesse toda a legitimidade para, em negociações não públicas, digo, não públicas, com o Presidente vir a propor a senhora Castets como candidata a PM. Certamente. Mas também não é possível negar a legitimidade de o presidente querer uma solução mais alargada ao seu bloco político e à direita moderada. Esta diferença poderia ter sido objecto de negociações desde que não fossem públicas e não aparecessem como uma imposição da NFP a um presidente ao qual a constituição dá o poder de nomear o PM (omitindo a obrigação de ter em conta os resultados eleitorais, ao contrário do que estipula a nossa CRP) e atribui a competência de presidir ao conselho de ministros. Em poucas palavras, a iniciativa pública da NFP produziu de imediato um curto-circuito no processo negocial, apoucou a figura do presidente francês e as suas competências constitucionais, anulou o significado do processo que esteve na génese da eleição da maior parte dos seus deputados e fechou os olhos ao mais que certo ao chumbo parlamentar de um governo liderado por Lucie Castets. Em nome de quê? Que o senhor Mélenchon, com o seu radicalismo inconsequente e o exclusivo interesse presidencial que o move, pareça querer tudo isto não me admira, mas que o senhor Olivier Faure o siga espanta-me e, por isso, não lhe auguro um futuro muito interessante no próprio PSF. De facto, tenho a convicção de que Faure não irá ter vida fácil no seu próprio partido, se considerarmos que a sua posição sobre o processo (a recusa de Cazeneuve) acabou por passar no partido (no Bureau National) somente por um voto. A situação pode muito bem ser resumida pelo que disse Nicolas Mayer-Rossignol, socialista e presidente da câmara de Rouen: “À força de querer uma esquerda pura, temos [ agora ] uma direita mais dura” (El País, 08.09.2024, p. 3).
7.
Na verdade, se Macron teve de alterar a sua estratégia, passando a depender da “condescendência” política do RN (“bienveillance” é a palavra usada por “Le Monde”, porque, segundo Marine Le Pen, este é o “mal menor” e evita a paralisia do país, embora não lhe mereça um “cheque em branco”), isso deve-se em grande parte à intransigência e à arrogância da NFP que, no processo de formação do governo, contrariou a lógica que lhe deu a maior parte dos deputados e ao mesmo tempo criou condições para que entrasse pela janela um partido que a política de aliança com o bloco de Macron fizera sair pela porta, na segunda volta. Como já se diz, o grande ganhador desta intransigência e arrogância não é Macron nem a NFP, mas sim o Rassemblement National e a senhora Marine Le Pen, a caminho das presidenciais de 2027. Veremos se as suas exigências irão, ou não, ser cumpridas para que não votem uma moção de censura ao governo Barnier: fim da discriminação do RN; resposta ao problema da imigração; debate sobre a introdução do proporcional no sistema representativo. Barnier já mostrou abertura em relação a estas exigências do RN. E uma coisa é certa: a não oposição activa do RN é condição sine qua non para a sobrevivência do governo. O RN é hoje o árbitro da política nacional e a NFP a oposição. Que efeitos terá isto nas próximas eleições presidenciais não se sabe, mas uma coisa já se sabe: deu-se início à normalização da extrema-direita em França.
8.
Uma bela lição a retirar sobretudo pelos partidos sociais-democratas ou socialistas. Sobre o que não se deve fazer. Na verdade, o sectarismo nunca leva a bom porto, a confusão entre o adversário principal e o adversário secundário também não (sobre isso aconselho a leitura do interessante livro de Mao Tse Tung: Da Contradição) e a falta de racionalidade em política nunca é produtiva nem benéfica. Estas três variáveis podem claramente ser aplicadas à NFP e, em particular, à LFI do senhor Mélenchon e ao PSF do senhor Olivier Faure.
Na verdade, não correm bons tempos para o centro-esquerda. Parece ser evidente a existência de uma crise generalizada e que, se não for reconhecida, não será possível encontrar as respostas necessárias, vendo-se, portanto, sujeita a um inevitável declínio.
O caso francês é muito instrutivo sobre a actual filosofia dominante do centro-esquerda, quer quando se torna maximalista quer quando cede às exigências dos neoliberais, variáveis daquela que é a tendência deletéria que, em geral, se tem vindo a verificar nesta área política. E foi esta, sim, a razão que me levou a voltar analisar, com o máximo de objectividade possível e sem “parti pris” (apesar da minha filiação neste espaço político), o caso francês. Um caso tão evidente que espero que mereça a atenção do nosso próprio centro-esquerda, em particular do PS. JAS@09-2024.

DEZ FRAGMENTOS
SOBRE A MELANCOLIA
Por João de Almeida Santos
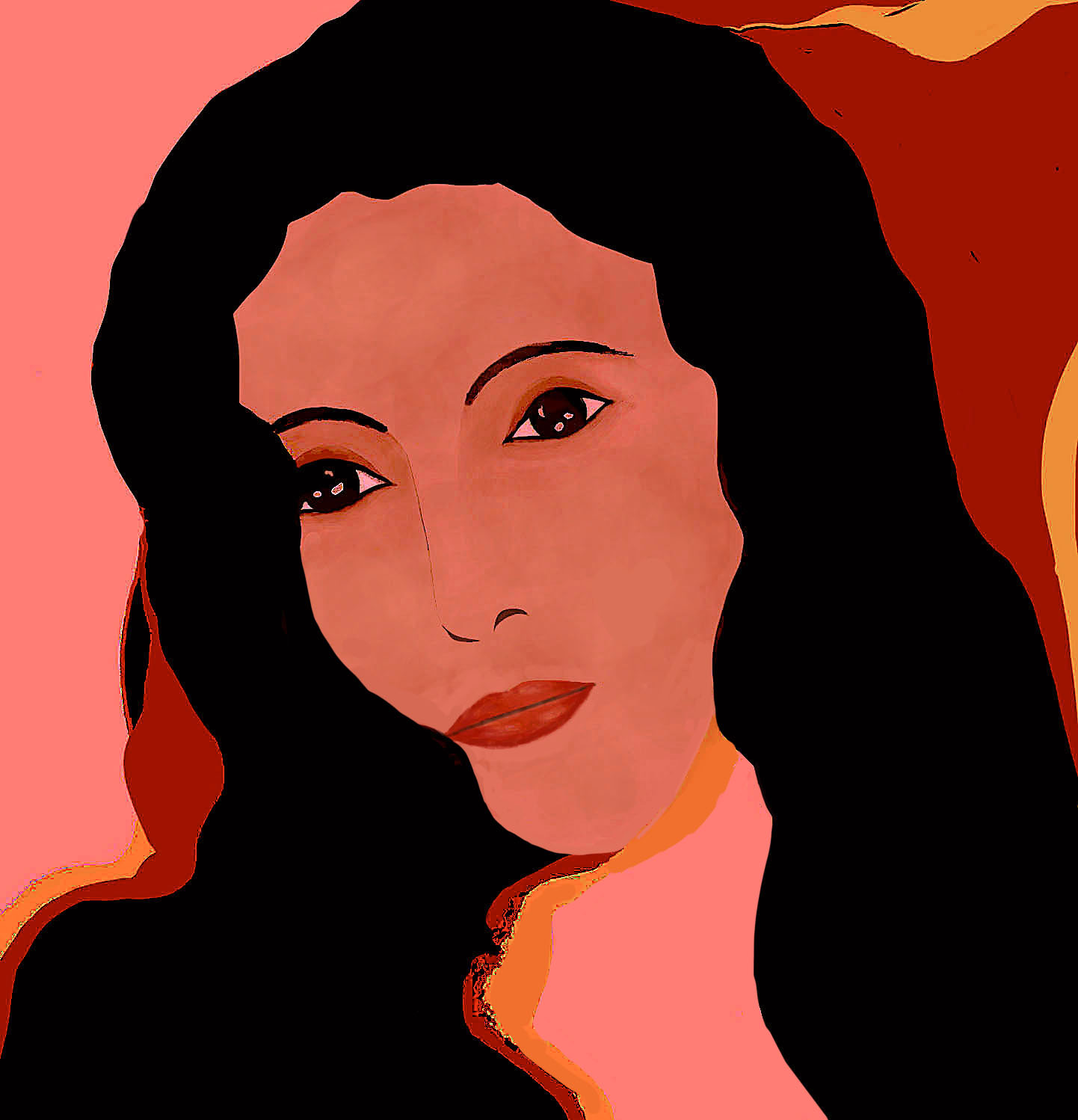
“S/Título”. JAS. 09-2024
1.
No Texto “A Filosofia da Composição”, Edgar Allan Poe diz o seguinte:
“A beleza de qualquer tipo, no seu desenvolvimento supremo, invariavelmente excita a alma sensível até às lágrimas. A Melancolia é, assim, o mais legítimo de todos os tons poéticos”.(Poética, Lisboa, FCG, 2016, 2.ª ed., p. 40).
Tem razão o poeta, a melancolia é o sentimento poético por excelência. O húmus da poesia. Aquele que tem mais afinidades com ela. Talvez pela sua ambiguidade, nebulosidade, indeterminação, vagueza, mas também pela profundidade, pela delicadeza e complexidade dos seus efeitos espirituais, mais do que anímicos, já que, como sabemos, a alma não se confunde com o espírito. É como a poesia, que nunca parece esgotar o sentido do que diz, que procura dizer o inefável, que só alude e não descreve, que é conotativa e não denotativa, expressividade anímica em linguagem espiritual que deixa o sentido a pairar como neblina ou chuva miudinha sobre as palavras (mesmo quando o objecto de atenção do poeta parece ser concreto, definido, determinado), que molha a alma de quem escuta e que actua como estimulante sensitivo para a partilha de sentimentos e emoções. A melancolia é irmã gémea da poesia.
2.
A poesia é transfiguração e no processo criativo transforma o referente, tornando-o maior do que é, mais profundo e mais belo, como quando se extrai de um mineral o seu núcleo “aurífero”, se purifica e se transforma em jóia, em obra de arte. Italo Calvino, falando de arte e de poesia, refere-se ao cristal, “con la sua esatta sfaccettatura e la sua capacità di rifrangere la luce”, como “il modello di perfezione che ho sempre tenuto come un emblema” (Lezioni Americane, Milano, Garzanti, 1988, p. 69). Falando de Leopardi, diz que “il poeta del vago può essere solo il poeta della precisione” (1988: 61) e considera Paul Valéry como a personalidade do século XX que melhor definiu a poesia como uma tensão para a exactidão (1988: 66). Pode parecer estranho, um oxímoro, mas a vagueza só pode ser dita com o máximo de exactidão, de precisão cirúrgica. Por exemplo, a extrema vagueza da melancolia. Demasiadas palavras ou um discurso analítico não a captam, desfiguram-na. Por isso a poesia é a linguagem apropriada para falar da melancolia. Em registo de minimalismo discursivo quase a deslizar para o silêncio. Ou, então, como eco do silêncio. O Poe falava de 100 versos, no máximo. A poesia é, pois, alquimia. E o poeta um aurífice. Do ouro informe resulta uma jóia exacta como um cristal. Tal como da melancolia um poema. Um cristal lapidado com a exactidão das palavras cinzeladas. Uma vasta superfície que se oferece à sensibilidade do poeta, a da melancolia, e da qual este extrai o núcleo aurífero para o lapidar com a exactidão das palavras escolhidas, pela sua força expressiva, pela sua musicalidade, pela sua forma.
3.
Como obra de arte, o poema não é redutível a nenhum referente porque ele dá voz a qualidades esteticamente emergentes que não existiam nele ou existiam apenas “in nuce”, em embrião, somente disponíveis, para ganharem forma, ao olhar comprometido do poeta ou do artista – “Gherardo, maintenant tu es plus beau que toi-même”. Repito sempre, a propósito da criação artística, esta fórmula fabulosa da Yourcenar/Michelangelo, em “Le Temps ce grand Sculpteur”.
4.
É difícil dizer o vago sem correr o risco de o caracterizar excessivamente, acabando por negá-lo, anulá-lo, contradizê-lo. O vago vale precisamente porque é vago, porque é a sua vagueza que estimula o poeta. A poesia sente-o, o vago, e procura pintá-lo com palavras, em polissemia melódica e rítmica. A melancolia é vagueza e é leveza. É mais do que tristeza, mais do que saudade ou do que sentimento intenso e incerto de um vazio que não é possível preencher. É mais porque atinge já o nível espiritual. É por isso que é terreno fértil para a injunção poética, para a captação exacta da vagueza de um sentimento que resiste a deixar-se capturar na forma ou pela forma. A poesia, que é a menos formal das artes, transforma a tristeza em melancolia, tal como a arte transforma o cómico em humour (Calvino) ou como o aurífice converte o ouro em jóia pronta a ser usada universalmente porque portadora de beleza incondicionada, que pode ser apreendida pelo dispositivo estético, pela sensibilidade educada de que os seres humanos dispõem. O Kant falou de dispositivo universal-subjectivo: o juízo de gosto (quando se trata do belo), não sendo movido por interesse, sendo “contemplativo”, funda a sua validade, não no objecto, mas em algo que é universal, que existe nos sujeitos do juízo estético e que se pode identificar como o livre jogo entre duas faculdades, o intelecto e a imaginação: “o juízo de gosto deve ter a pretensão de uma universalidade subjectiva” (Kant, Crítica do Juízo, I. I. I, § 6; e Della Volpe, Opere, V, Roma, Riuniti, 1973: 26-30 e 456-457). Estamos, pois, a falar de algo aparentemente contraditório, de um aparente oxímoro: a “universalidade subjectiva” que acontece no terreno do sentir, da harmonia sentida interiormente, na livre dialéctica entre faculdades que são comuns a todos os seres humanos. Não se trata, pois, num juízo estético, para o dizer em palavras mais simples, nem de representações conceptuais nem de reconhecimento de qualidades do objecto digno de atenção estética e considerado belo. Trata-se dos sentidos interiores, do sentimento, de algo que, sendo subjectivo, alcança na beleza uma dimensão universal, sim, mas sempre ancorada na imaginação e no sentimento. Algo que não é muito difícil de entender porque deste jogo resulta uma forma que pode ser apreendida universalmente. Por isso Kant fala da intervenção do intelecto neste processo, nesta dialéctica entre faculdades. Algo, dizia, que a precisão e o minimalismo poéticos propõem eficazmente ao juízo estético, garantindo-lhe essa dupla qualidade – universal e subjectiva. A melancolia pertence a esta esfera da imaginação e do sentimento e é o terreno onde acontece a transfiguração poética, já com dimensão espiritual (correspondente à parte desempenhada pelo intelecto). Falando da sua irmã gémea, a tristeza, poderia dizer que a melancolia é um seu sofisticado upgrade. Como diz Calvino: “la melanconia è la tristezza diventata leggera”, por obra da arte. É esta leveza que a torna universal, retirando-a da esfera individual, a da tristeza, puramente subjectiva ou psicológica. E a leveza só lhe pode ser dada eficazmente pela poesia (mas também na pintura o tentei fazer com um rosto de mulher, projectando na pintura a semântica do poema). E diria até que a “universalidade subjectiva” de que fala Kant se dá nesse intervalo, nesse “mundo intermédio”, nessa brecha entre o puramente sensível e sensorial e o universal que é o território próprio da arte. Um território que exige precisão, a que se oferece ao juízo estético, como veremos em “O Corvo”, do E. A. Poe. Só a arte pode manter este contacto ou esta fusão entre o sensível e o inteligível (na dialéctica entre a imaginação e o intelecto), nesse instante oportuno (o instante criativo) que os gregos traduziram pela palavra kairós. É isso que faz dela a mais humana das actividades. Eu creio mesmo que a autêntica arte é necessariamente alquímica. E é nesse movimento em direcção ao essencial que se inscreve a sua potencial “universalidade subjectiva”, quando o sentir do poeta pode ser compartilhado universalmente sem lhe retirar o carácter subjectivo, ou seja, a sua dimensão sensível.
5.
Edgar Allan Poe desenvolve uma interessante e minuciosa descrição do processo de construção do seu famoso poema “The Raven”, onde, como vimos, o tom determinante é o da melancolia. Ele diz que é assim em geral e, claro, neste concreto também, como ele próprio o reconhece. E é o recorrente refrão, “nevermore”, que alude à mais radical das ausências de um ser amado – a que é devida à morte. Melancolia levada ao extremo porque morre a amada, que, ainda por cima, é bela. A morte e a beleza como os dois ingredientes fatais da melancolia, quando combinados: “a morte, então, de uma bela mulher é, inquestionavelmente, o tópico mais poético do mundo” (2016: 42). O pássaro de mau augúrio, o corvo, repete cruelmente no poema para o sujeito poético que sofre de profunda melancolia: “nevermore“. Uma só palavra para dar todo o sentido ao poema, indo ao essencial: a melancolia sofrida (e o poema seria a levitação desejada). Precisão, exactidão. Minimalismo discursivo (embora o poema tenha 108 versos). É neste sentimento de impossibilidade que está ancorada a melancolia – “nevermore”. A morte da mulher amada, a sua beleza, o destino, o reencontro impossível, revelado pelo corvo, aprofundam a melancolia . O refrão é o par inelutável da melancolia. Uma só palavra: “nevermore”. Mais precisão do que isto é impossível. Não foi casual o sucesso e a importância deste poema.
6.
O paralelismo entre o poema “Melancolia” e o que diz D. Duarte no “Leal Conselheiro”, pode ser feito, como fez um companheiro de viagem poética : “humor menencorico”. Tristeza, que outros dizem ser depressão. Doença, “voontade desconcertada”. Claro, pois a vontade, se for concertada, dirigida pela razão, se for apolínea, pode ajudar a resolver o “humor menencorico”. Por exemplo, através da poesia. E curou-se, mas não foi através da poesia, cheio de trabalho que andava, D. Duarte. Ou, então, porque não tinha recebido esse dom da poesia, lhe faltou esse sobressalto do estremecimento suscitado pela musa fatal (como diz Eliot). Interpretado o texto, nesta parte (no capítulo XIX), conclui-se que não foi, de facto, a poesia que o “guareceu”. Guarecer, guareceu, mas não através da poesia. Mas podia ter sido, ou não fosse, ou não seja, o “humor menencorico” o “mais legítimo de todos os tons poéticos”, como diz Poe. Tornada leve, por força da levitação poética, a tristeza torna-se melancolia. O poder catártico da arte de que D. Duarte não se socorreu, apesar de ter, exactamente como fazem os poetas (e é isto que é interessante), partilhado a sua dolorosa experiência em prosa e também, de certo modo, como resgate, seu e de outros afectados pelo mesmo mal. Permaneceu a tristeza, mais como depressão do que como melancolia, apesar de a ter qualificado como “humor menencorico”. E, no entanto, sentiu necessidade de complementar a superação da tristeza depressiva com o uso da palavra, embora em prosa. Mais uma vez a palavra e o seu poder catártico. O facto parece não ser estranho à vocação catártica da poesia. Essa, sim, mais eficaz do que a prosa. Porque ela é provavelmente a mais performativa das artes. Portanto, o paralelismo funciona, precisamente pela intervenção da palavra catártica no processo. E bem, no meu entendimento.
7.
Quanto ao poema “Melancolia”, o poeta, não tendo certezas, pois a poesia não lhas dá, suspeita que seja já melancolia o que, também a ele, afecta, por perda ou tristeza, por ausência ou vagueza sentimental, já transfiguradas pelo poema reparador em curso (no processo de criação) e animado, o poeta, pela “sombra luminosa” do ausente, do que foi perdido. “Sombra luminosa” na fita turbulenta da memória. Essa luz, que também é sombra, que o poeta assume como sua “fiel amante”. Da perda à doce melancolia – é o trajecto que o poeta percorre graças a essa luminosidade onde lhe acontece a criação, a poesia, e onde a leveza do ser ocupa o lugar do insustentável peso da existência. Acho feliz esta expressão (creio que é do R. Barthes, em “La Chambre Claire”, de 1980) porque conjuga a ideia de sombra (a perda, a ausência) com a de luz (a inspiração, a poesia). O passado mantém-se como sombra, como simulacro que só pode ser acedido favoravelmente pela poesia, como uma luz que o traz à consciência do poeta. O que ganha ainda mais sentido se a conjugarmos com a outra ideia (de Kierkegaard) de “fiel amante” (a melancolia, derivada da ausência, por perda). Um mundo todo ele reconstruído pelo poeta e que lhe permite evitar a depressão e converter a (originária) tristeza em doce melancolia.
8.
Sim, sempre as palavras a desempenharem um função essencial de elevação sobre o mar encrespado da vida. Mas aqui, neste poema, “Melancolia”, também o pintor, que acompanha o poeta há anos, já tinha ajudado um pouco ao dar forma visual à melancolia com um rosto, não seu, claro, mas de mulher. Afinal, a melancolia é feminina, tal como a poesia. E é por isso que ela é tão sensível e se pode tornar “fiel amante” do poeta (a mulher do quadro “Melancolia”). O estado melancólico, afinal, é próprio da condição de poeta, condição quase maternal, poder-se-ia dizer.
9.
A Joke Hermsen cita, no seu livro sobre a melancolia (Melancolia em tempos de perturbação, Lisboa, Quetzal, 2022, p. 186), Ernst Bloch e o texto “A Melancolia do Cumprimento”: para Bloch, diz, não há “entrada no paraíso sem a sombra da perda” (palavras de E.B.). O que me lembrou de imediato a “sombra luminosa” do ausente, de que fala Barthes, e o acesso ao paraíso através da poesia. E, claro, a melancolia. Só a sombra da perda, precisamente a melancolia, que é sombra de algo que se perdeu e que se mantém precisamente como sombra, dá acesso ao paraíso, sim, mas só se iluminada pela poesia no instante oportuno. Uma espécie de moinha que exige cuidados, não primários, mas espirituais, para a resolver. O que poderia também equivaler a uma declarada condição de acesso à poesia. A sombra da perda que se torna luminosa através da inspiração poética. Uma linha evolutiva: perda, sombra, luz, paraíso. É isso. A poesia é uma luz que se acende sobre um passado sombrio. E que, num passe de magia, nos leva ao paraíso. Et voilà.
10.
E diz mais, a Hermsen, referindo-se a Bloch e ao princípio que é o objecto central do seu fabuloso “Das Prinzip Hoffnung”: a esperança é a outra face da melancolia. É, aliás, do estado melancólico que resulta a vontade de futuro, onde a dor seja matizada, mas também de um futuro desenhado com palavras sob forma de utopia. A melancolia que resulta da falta de “Heimat”, da pátria, leva Hannah Arendt (o que bem se compreende historicamente) a dizer que esses, os que a não têm, são bem-aventurados porque continuam a vê-la e a vivê-la nos sonhos. E a elevá-la para além de si própria, pois sentida em estado de melancolia, de perda, de ausência. O sentimento de perda gera esperança, a esperança gera vontade de ter algo novo e mais perfeito, gera vontade de construir a utopia. E o que é a poesia senão utopia em construção infinda? JAS@09-2024

A CRISE POLÍTICA EM FRANÇA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 08-2024
MERECE MUITA ATENÇÃO, sobretudo à esquerda, o que se está a passar, neste final de Agosto, em França. Uma crise grave, de que aqui já dei conta, há oito dias, mas que, como era previsível, acaba de se agravar. A novidade já esperada: Emmanuel Macron rejeitou a proposta da Nova Frente Popular (NFP) para nomear Lucie Castets primeira-ministra de França, com a seguinte argumentação:
“un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par l’alliance regroupant le plus de députés, le Nouveau Front populaire, serait immédiatement censuré par l’ensemble des autres groupes représentés à l’Assemblée nationale. Un tel gouvernement disposerait donc immédiatement d’une majorité de plus de 350 députés contre lui, l’empêchant de fait d’agir. Compte tenu de l’expression des responsables politiques consultés, la stabilité institutionnelle de notre pays impose donc de ne pas retenir cette option” (do comunicado da Presidência da República Francesa; itálicos meus).
1.
O que está escrito neste comunicado já era conhecido. Macron queria e quer uma solução que possa sobreviver na Assembleia Nacional. O que não era o caso. Antes da decisão do presidente houvera uma ameaça e uma oferta de boa-vontade por parte do senhor Jean-Luc Mélenchon, líder de “La France Insoumise” (LFI): a ameaça, como vimos (veja, aqui, o meu artigo de 21.08.2024), era a de destituição do PR, por uma “Haute Cour”, se este não acatasse as suas ordens – e parece que a proposta de destituição vai mesmo ser apresentada; a boa-vontade –prescindir de ter ministros de LFI no governo, pretendendo assim demonstrar que o problema não resultava de haver ministros “insubmissos” no governo, mas sim do próprio programa da NFP. De resto, Macron teve oportunidade de interrogar e de ouvir a candidata longamente sobre o que pretenderia fazer no caso de ser nomeada. Uma nomeação que não carece de ratificação parlamentar (mas que pode ser sujeita a uma moção de censura).
2.
Lembro que os deputados desta coligação de partidos (LFI, PSF, Verdes e comunistas) que resultaram das eleições são 193 contra os 166 da coligação Ensemble. Estes deputados, excluídos os 32 obtidos pela Nova Frente Popular (NFP) e os dois obtidos pelo Ensemble, na primeira volta, devem a sua eleição, em grande parte, a uma política de desistência, negociada entre os dois blocos políticos, a favor dos candidatos que estivessem em melhores condições de derrotar o candidato do Rassemblement National (RN), na segunda volta. E assim foi. E é a esta situação que parece referir-se (no final) o comunicado da presidência:
“Les partis politiques de gouvernement ne doivent pas oublier les circonstances exceptionnelles d’élection de leurs députés au second tour des législatives. Ce vote les oblige”.
Ou seja, foi mais a circunstância de evitar o perigo de uma vitória da extrema-direita do que a adesão a um programa que determinou a eleição dos deputados dos dois blocos políticos. Aliás, nem é o programa eleitoral que é escolhido, mas sim os representantes (na democracia representativa não há “vínculo de mandato”), sendo o programa apenas uma das três variáveis essenciais que determinam a eleição do representante (valores/princípios/ideologia, programa/policies, rosto, do candidato ou do líder, como agente fiduciário). Esta razão, a que se junta a certeza de que um governo da NFP viria a ser objecto de aprovação imediata de uma moção de censura na Assembleia, levou Macron a rejeitar a proposta. Na verdade, como disse, o que Macron pretende é uma solução que envolva várias sensibilidades políticas, eventualmente com um PM exterior aos blocos ou uma figura politicamente prestigiada, em condições garantir uma maioria parlamentar de apoio e, consequentemente, estabilidade governativa. Este tipo de solução é muito frequente, por exemplo, em Itália. É esse o papel do PR que a constituição prevê, garantir a estabilidade institucional, e não o de cumprir ordens impositivas do senhor Mélenchon sob pena de ser levado a uma (política) corte marcial. Lembro que as eleições legislativas foram marcadas na sequência dos resultados disruptivos das eleições europeias, ganhas pelo RN, com 31, 37% dos votos (mais do dobro do resultado do Ensemble, o segundo, com 14,60%, ou do PS, Lista de União à Esquerda, com 13,83%).
3.
A antecipação da NFP, impondo publicamente um candidato e ameaçando destituir o Presidente se não acatasse a imposição, só poderia ter como desfecho o que se viria, de facto, a verificar, sob pena, isso sim, de o PR não estar a cumprir as funções que a Constituição lhe atribui: “ Le Président de la République nomme le Premier ministre” (art. 8) e “Le Président de la République préside le conseil des ministres” (art. 9). Note-se que a Constituição não diz, como a portuguesa, “o Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais” (n.1, art. 187). E, ao contrário do PR português, o PR preside ao Conselho de Ministros. Duas diferenças essenciais, que dão um poder e uma responsabilidade ao PR francês que não existem no caso português. E não me parece que esta redacção da Constituição seja inocente ou que a regulação dos poderes presidenciais peque por defeito. Se assim é, isso tem um claro significado político acerca dos poderes e das responsabilidades do presidente. Ousaria até dizer que, se não fosse grave, a injunção do senhor Mélenchon é ridícula e megalómana. O processo de destituição exige uma sólida fundamentação (não resulta de uma pura projecção da vontade política de um qualquer sujeito político) e é complexo, envolvendo as duas câmaras e uma maioria qualificada de dois terços dos deputados e senadores.
4.
É claro que o guião de tudo isto parece ter uma clara autoria: a do senhor Jean-Luc Mélenchon. As suas opções, no essencial, são determinadas por claro objectivo: as presidenciais de 2027. Mais uma vez. Poder ser ele a polarizar, numa segunda volta, o voto contra a extrema-direita, sem se aperceber, digo eu, que com as posições e os discursos que vai tendo o que conseguirá será precisamente a vitória de Marine Le Pen e a destruição da credibilidade da esquerda que diz defender. Ele e o senhor Olivier Faure (a fractura no seio do PSF já está a acontecer, precisamente sobre as relações a estabelecer com o presidente da República, na sequência da recusa de Macron em nomear PM a senhora Lucie Castets).
5.
Se reflectirmos um pouco nestas últimas posições do senhor Mélenchon, não seguido em tudo pelos partidos que integram o bloco político NFP (como, por exemplo, na destituição do Presidente), veremos que não fazia grande sentido apresentar publicamente, e nos termos em que foi feito, a candidata ao lugar de PM. Teria toda a legitimidade para a propor, mas no quadro de negociações, não públicas, com o PR, com o Ensemble e com os Republicanos. Fazer o que fez, no meu entendimento, significou não só não querer acordo, mas também induzir a negativa do PR. A constituição diz que o PR nomeia, sem explicitar, como disse, condições e, mais, diz também que preside ao conselho de ministros. A nomeação de um PM envolve-o, pois, directamente, pelo menos por estas duas razões. Abdicar deste poder, isso sim, seria não cumprir as suas funções, como previsto no art. 68: “manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat“.
6.
O que noto aqui é uma série de incongruências que me levam a pensar que só fazem sentido pela negativa – não quererem governar nem quererem outras soluções. Pura oposição a Macron, sejam quais forem as consequências, incluindo a de aplanar o terreno (não assumindo responsabilidades, mas dando a parecer exactamente o contrário) para uma vitória da extrema-esquerda nas presidenciais de 2027, isto é, do senhor Jean-Luc Mélenchon. É estranho, mas é o que parece, a usarmos a lógica linear do bom senso. E é esta conclusão que me leva a Mélenchon e, já agora, ao senhor Olivier Faure… mas não a Raphael Glucksmann que, não sendo do PSF, foi o seu cabeça de lista nas europeias. Na verdade, o grande salto em frente do PSF nas europeias deve-se a Glucksmann (líder do movimento Place Publique). Este, nestas eleições, deixou a LFI ( que teve 9,89%) a cerca de 4 pontos de distância do PS, que obteve 13,83%. “É preciso acabar com a estética da radicalidade, que mais não é do que sectarismo”, diz Glucksmann. “Em 2027, será a social-democracia, e não um sucedâneo do macronismo ou um avatar do populismo de esquerda, que defrontará o lepenismo”, disse na entrevista que concedeu ao Figaro/AFP (20.08.2024). Foi Faure que o escolheu para cabeça de lista, mas hoje as relações entre eles parece não conhecerem os melhores dias.
A verdade é que Glucksmann e o seu movimento parece poderem ser uma lufada de ar fresco na debilitada social-democracia francesa. O populismo de esquerda, a avaliar pelo que está a acontecer nestes dias, não parece ser a melhor das companhias do PSF, que se arrisca, depois das europeias, a voltar a cair na insignificância.
7.
Mas em França também se joga o destino da União Europeia, uma responsabilidade que parece não ser a dos partidos que integram o NFP, em especial a do senhor Mélenchon, chefe de um “parti europhobe”, para usar as palavras do jornal Libération. Se descontarmos a vitória de Keir Starmer, a esquerda vive momentos de grande dificuldade um pouco por todo o lado. E não será com posicionamentos e discursos destes que a França ajudará o projecto europeu e, diga-se, a si própria. Bem pelo contrário, o risco que se corre é o de a mancha da extrema-direita alastrar de tal modo que se torne difícil contê-la. JAS@08-2024

NOTAS POLÍTICAS
DE UMA TARDE DE VERÃO
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 08-2024
ARTIGO – “NOTAS POLITICAS”
1.
Começo por referir um conjunto de artigos que li em “Le Monde” (14.08.2024) acerca do senhor Elon Musk (foi manchete : “Elon Musk, acteur politique de la droite extrême”) e a sua entrada fulgurante em política, ao lado e em plena sintonia com Trump, promovendo as três grandes bandeiras do populismo de direita e do plutopopulismo de tipo trumpiano: contra a imigração, contra o wokismo e contra os media tradicionais. O Twitter, agora X, como espaço de combate de Musk à escala planetária (e, em particular, nos USA). Sabemos o que aconteceu com o Facebook e a Cambridge Analytica, em 2016, sob a gestão do ideólogo radical-populista Steve Bannon. E, agora, às políticas de guerra em curso, junta-se-lhes o senhor Musk a accionar politicamente a sua plataforma digital para dar combate ao já difícil e delicado funcionamento das democracias. E, ao que parece, fá-lo em nome da liberdade – “eu sou um absolutista da liberdade de expressão”, terá afirmado em 2022. E toca de dar, de novo, espaço no X aos ideólogos de extrema-direita que tinham sido erradicados do Twitter antes da sua gestão, a começar pelo próprio plutopopulista Trump. Imaginemos agora que o senhor Zuckerberg faça o mesmo. E que o patrão da Google também. A normal dialéctica do consenso que é activada nas campanhas eleitorais seria totalmente desvirtuada, sabendo-se que a comunicação, no essencial, passa hoje pela internet e pelas redes sociais. E a expansão destas redes é planetária.
Sempre se discutiu acerca da neutralidade da tecnologia (sendo os seus efeitos dependentes do tipo de uso que dela fosse feito), mas hoje, com lideranças tecnológicas na esfera da comunicação a declararem activa e militantemente a sua filiação e a desencadearem combates políticos e ideológicos a coisa muda de figura. É aqui que os Estados nacionais e as instituições internacionais devem intervir estabelecendo linhas vermelhas que estes poderes supranacionais, sobretudo estes, não podem ultrapassar. Porque, em boa verdade, estamos perante uma terceira “constituency”, depois da financeira e da (original) do cidadão contribuinte. E enquanto a financeira determina programas de governo (veja-se o caso de Portugal e da troika), esta entra directamente na delicada área da construção do consenso (veja-se o caso da eleição de Trump e do BREXIT, em 2016). Com Musk, a coisa até não parece ser difícil de gerir pois o homem quando lhe tocam nos negócios parece acomodar-se de imediato, como já aconteceu com vários países. Mas que é caso para se reflectir com seriedade sobre o assunto, lá isso é.
2.
Começou na segunda-feira e termina na quinta, com o discurso de Kamala Harris, a Convenção do Partido Democrata, em Chicago, já na era pós-Biden, com Kamala Harris a liderar o processo eleitoral, nas mais recentes sondagens, com mais 3 ou 4 pontos do que Trump, “o esquisito”, agora em sérias dificuldades, depois da atmosfera de vitória que se instalou depois do debate com Biden. Há uma característica na sua presença no espaço público muito interessante e que contrasta com a atitude de Trump, não só “o esquisito”, mas também o zangado – a alegria que ela transmite, ancorada na figura de uma mulher bonita, decidida e que respira optimismo. Não sei se os quatro combates (alimentação, saúde, habitação e crianças) que anunciou no recente discurso programático convencerão os americanos, mas o que parece é que a personagem está a seduzi-los. Sabe-se que é na formação do colégio eleitoral que está o segredo da vitória, não bastando, pois, ter mais votos (a senhora Clinton teve mais cerca de 3 milhões de votos do que Trump e não ganhou a Presidência), mas o que se anuncia é que, mesmo nos swing states (Michigan, Pennsylvania, Winsconsin, North Carolina, Georgia, Arizona, Nevada, os referidos pelo W. Post), Kamala Harris está a crescer eleitoralmente de forma muito expressiva (“Harris has gained ground in most if not all those swing states since Biden left race”, W. Post, 18.08.24, p. 12). Talvez seja desta que os USA possam vir a ter, pela primeira vez, uma mulher na Presidência. Para os difíceis equilíbrios internacionais em que vivemos a sua eleição seria menos problemática do que a de Trump, além de democraticamente muito mais salutar. Mas muita água ainda correrá sob as pontes.
3.
Em França, no processo de formação do novo governo, estamos a assistir a algo que, para mim, é incompreensível. A Nova Frente Popular (NFP), o bloco político vencedor, a reivindicar a liderança do governo e a propor publicamente um nome para PM, em vez de negociar com o Ensemble, para que, à semelhança do que aconteceu na segunda volta das eleições, das negociações resultasse, sim, um nome aceite pelas partes. Por uma razão: a maioria dos deputados de ambos os blocos foi eleita porque o parceiro de acordo retirou o seu candidato para que o que estava em melhores condições de vencer pudesse derrotar o candidato do Rassemblement Nacional (RN). Foi, como se sabe, vistos os resultados da primeira volta, a dialéctica que mandou para a terceira posição o RN, apesar de este ter obtido mais de três milhões de votos sobre o vencedor. Cada bloco político, NFP e Ensemble, deve a eleição da maior parte dos seus deputados a esses acordos de desistência. Mandaria, pois a lógica, que fosse essa dialéctica a determinar quem seria o novo chefe do governo e não exclusivamente o resultado obtido e o programa apresentado pelo bloco vencedor aos eleitores. Mas não. E por isso parece estar dificultado o processo de formação do governo e, talvez, a eleição de um candidato presidencial não radical de direita, em 2027. Se a emergência democrática valeu para a eleição dos deputados deveria valer também para a indigitação do PM e para acordos a estabelecer tendo em vista a eleição presidencial de 2027.
Já tinha escrito esta nota quando, ontem, li, no jornal “Público”, a notícia da ameaça do inefável Mélenchon (e outras luminárias, o par Bompard&Panot e a senhora Trouvé) de que, baseando-se no artigo 68.º da Constituição, promoveria a destituição do Presidente (“la proposition lunaire faite par LFI”, lê-se no Editorial de hoje do Libération) se não acatasse as suas instruções e não nomeasse a senhora Castets PM. Melhor é impossível: o senhor Mélenchon nomeia o PM e destitui o PR. Afinal, ele é o monarca absoluto de França e ninguém sabia. A senhora Castets (e as outras forças políticas do NFP) evidentemente não aprovou a declaração do senhor Mélenchon (veja-se a entrevista que deu, hoje, ao Libération), que ficou a falar sozinho, com os seus correligionários.
4.
Na Venezuela está estabelecida definitivamente uma ditadura: a de Nicolas Maduro e das Forças Armadas. O ónus da prova da vitória de Maduro cabe ao poder estabelecido, ao Estado venezuelano, e não à oposição. Ora a prova da vitória não foi apresentada, tendo, todavia, uma consistente prova em sentido contrário sido apresentada pela oposição. A que acrescem investigações de várias entidades internacionais credíveis, como, por exemplo, o Washington Post, entre outras, que dão a vitória a Edmundo González por cerca de 66% dos votos expressos. Isto seria o suficiente para não reconhecer a vitória de Maduro, que só se mantém no poder porque é apoiado pelas forças armadas. Aliás, o que mais parece é que Maduro seja simplesmente a máscara de um poder detido realmente pelos inúmeros generais do regime. Dois mil, ao que parece (“La Razón”, “La Vanguardia”, referindo uma informação do almirante Craig Faller, Chefe do Comando Sul dos USA). Portanto, o regime de Maduro só cairá em dois casos: ou os generais consideram que a farsa já foi longe demais e que é necessário mudar de aparência (mudar alguma coisa – por exemplo, Maduro – para que tudo fique na mesma, seguindo a lição do transformismo) ou, então, os oficiais intermédios tomam conta da situação, independentemente de qual seja a vontade dos inúmeros generais de serviço. Algo parecido ao que, por obra dos capitães de Abril, aconteceu em Portugal, com a famosa “brigada do reumático”.
5.
Em Espanha agudiza-se a crise provocada por denúncias do VOX e de organizações derivadas, por exemplo de “Manos Limpias”, contra a mulher do PM Pedro Sánchez. Quem tem seguido o processo verifica, sem margem para qualquer dúvida, que o juiz Peinado anda em roda livre ao serviço de uma estratégia política (de direita e, sobretudo, de extrema-direita) contra o PSOE e contra Sánchez. E o PP do senhor Feijóo está a alinhar com esta estratégia, reforçando-a, sem reservas. Agora é a número dois do PP, Cuca Gamarra, que anuncia uma nova ofensiva no mesmo sentido contra Sánchez. Estamos também aqui a assistir ao que vem sendo designado como “lawfare”. Só que agora é já também o PSOE a declarar que se isto não pára passará também ele a promover investigações sobre a família de Feijóo, na Galiza, e sobre o companheiro da senhora Ayuso. Uma escalada do “lawfare”, o uso da justiça, qual nova “arma branca”, para fins políticos. Quem perde é a democracia espanhola e quem ganha é o VOX. Depois admiram-se que a extrema-direita esteja a ganhar terreno eleitoral nas democracias da União Europeia. Não me parece que a liderança do senhor Feijóo esteja a demonstrar grande sentido de responsabilidade democrática. Sabemos que a questão da Catalunha tem pesado muito no agravamento da situação, mas sabemos também como o independentismo foi alimentado pelo PP de Mariano Rajoy ao enviar para o Tribunal Constitucional o Estatuto da Catalunha, que tinha sido aprovado pelas Cortes, sabendo que seria reprovado. Por mais criticável que seja a posição de Sánchez para sobreviver enquanto PM, a verdade é que o PSOE, que defende a unidade de Espanha, não só ganhou as eleições na Catalunha como conseguiu pôr um socialista, Salvador Illa, como Presidente da Generalitat, enfraquecendo politicamente o Junts e o seu fugitivo líder. Ou seja, a acção política de Sánchez resultou muito positivamente. Avançou na resolução política do problema da Catalunha sem o reduzir a um processo de natureza puramente penal, a ser resolvido com a força.
6.
Fiquei estupefacto com o anúncio de Luís Montenegro de que, em Outubro, vai dar um “bónus” de 100, 150 ou 200 euros (não repetível, até prova em contrário) aos pensionistas que auferem uma pensão até um pouco mais de 1500 euros. Estupefacto porquê? Já aqui tenho criticado a ideia de um “Estado-Caritas”, a propósito de outros “bónus” atribuídos aos “pobrezinhos”, porque o Estado Social é outra coisa, ou seja, assenta na ideia de direitos sociais de cidadania. Não de favores feitos por quem está no poder. Pois este “bónus” não passa de uma esmola do governo aos cidadãos que auferem aquele tipo de pensão. Uma esmola sem qualquer justificação. Quando o governo de António Costa atribuiu a meia pensão houve, pelo menos, uma justificação: o aumento das pensões para o ano seguinte não iria obedecer ao que a lei previa, portanto, haveria que compensar os pensionistas. Tantas foram as críticas, e justas, que esta decisão, a de não cumprir a lei, acabaria por não se verificar. Entretanto, a meia pensão ficou atribuída, pois já tinha sido processada. Agora nem sequer isto se verifica, pois não se conhece justificação que tenha sido avançada, a não ser a da solidariedade com os que têm pensões mais baixas. Algo verdadeiramente iníquo e indigno, que devia ser recusado pela generalidade dos cidadãos, em nome da decência e da dignidade. A solidariedade do Estado deve acontecer, sim, por um lado, com um Estado Social que funcione eficazmente, e, por outro, com a equidade fiscal e o fim do esbulho que é aplicado aos que pagam impostos directos (IRS), isto é, a cerca de metade dos agregados fiscais. Aqui nem deveria ser aplicada a crítica de eleitoralismo (ainda que seja também isso), mas sim uma crítica mais forte: a da indignidade de o Estado andar a distribuir esmolas aos “pobrezinhos. O cidadão que deixa de ser cidadão titular de direitos para passar a ser “pedinte” à porta de um Estado rico e gordo… mas (precariamente) solidário. Da pior maneira. Os aprendizes de feiticeiro (de turno) reinventam-se no admirável mundo do deslumbramento. JAS@08-2024

A DOR E O SUBLIME
Ensaios sobre a Arte
De João de Almeida Santos

A PARTIR DE HOJE, 14.08.2024, por decisão da Editora, e porque a versão on paper se encontra esgotada, ficará em ACESSO LIVRE, aqui e no site da Associação Cultural Azarujinha-ACA, a versão digital deste livro. O acesso, na secção Ensaios (Ensaio 42):
https://joaodealmeidasantos.com/wp-content/uploads/2024/08/a-dor-e-o-sublime_online07-2023final.pdf
João de Almeida Santos
A DOR E O SUBLIME
Ensaios sobre a Arte
(S. João do Estoril,
ACA Edições, 2023, 232 pág.s)
1.
Este livro reúne ensaios sobre a arte, escritos sobretudo com o objectivo de confrontar a minha própria experiência estética, enquanto produtor de arte (romance, poesia, pintura), com o que grandes nomes da arte e da estética, mas sobretudo poetas, produziram ou escreveram. Verificar se neles se encontram as clivagens essenciais com que me confronto na minha experiência. Dominam, pois, como se compreende, as reflexões sobre a poesia, que, afinal, constituem o núcleo essencial deste livro. Escolhi, pois, os meus interlocutores pela sua dupla condição de poetas e pensadores ou críticos (como Eliot, Poe ou Baudelaire, por exemplo), levando muito a sério essa afirmação do Edgar Allan Poe, em “Carta a B”, que sugere que as melhores críticas de poesia são as que são feitas precisamente por poetas:
“Tem-se dito que uma boa crítica a um poema pode ser escrita por alguém que não seja ele próprio poeta. Sinto que isto é falso, de acordo com a sua e a minha ideia de poesia – quanto menos poético for o crítico, menos justa será a crítica e vice-versa (Poe, 2016: 5; Poe, 1903)”.
Estas palavras valem o que valem, que não é pouco, ditas por quem as diz, mas são sugestivas e correspondem, no essencial, ao que eu próprio sinto e penso. Ou seja, tratando-se de uma arte muito especial, normalmente activada por intensas exigências interiores, talvez mesmo por imperativos existenciais, em virtude de um forte sentimento de dor, por melancolia, por perda ou por intensa nostalgia, ela solicita, na tentativa de compreensão e interpretação, algo que se assemelha a empatia, ao que os alemães designam por Einfühlung ou, então, no seu significado grego original, a pathein ou páthos, palavras que significam sentir/sentimento, doer/dor, comover/comoção. Só quem experimentou o estado de comoção (poética) está em condições de compreender em profundidade a poesia, ou seja, os poetas, por mais que eles procurem traduzir em linguagem universal o que, de certo modo, é inefável, a sua própria experiência interior. Eles convertem, como diz Bernardo Soares, os seus “sentimentos num sentimento humano típico” (Pessoa, 2015: 230) para que possam ser compreendidos, suscitando partilha estética. O inefável pode ser poeticamente convertido através desta operação, mas, mesmo assim, são os poetas aqueles que melhor podem aceder, nem que seja por processo analógico, ao que o poeta sente na sua experiência interior. Eles experimentam a Einfühlung em profundidade e por isso podem aceder a essa experiência originária, seminal. Uma experiência de delicado e incompleto acesso, portanto. Não basta, todavia, aos que procuram aceder ao discurso poético que experimentem eles próprios comoção ou dor. É preciso estar em condições de as metabolizar poeticamente. É esta a condição do ser-poeta. Porque “dizer-se é sobreviver”, como dizia o Bernardo Soares no Livro do Desassossego (2015: 55). Mas esta é também, em parte, a condição dos amantes de poesia. Sim, dos amantes, para retomar a célebre frase de García Lorca: “la poesía no quiere adeptos, quiere amantes”. Ser “adepto” não garante, pois, autêntico acesso à experiência poética. É preciso amá-la e sofrê-la. Senti-la por dentro, transportando-se para o interior das estrofes, experimentar o sentido e sentir a vibração da toada que se desenrola verso após verso. Esta é a sua diferença, talvez mesmo uma diferença ontológica, a que a coloca num patamar muito especial entre as artes e a distingue da mera experiência do sentir. Há um “quid” na experiência poética que não se compadece com uma aproximação meramente ornamental e exclusivamente física. A poesia não tem exterior, evolui de dentro para dentro sem concessões ao artifício ou à pura fisicidade. Para o poeta, mas também para o amante de poesia.
2.
Só no caso de Hermann Hesse me ative exclusivamente à sua poesia, embora tivesse sempre presente no meu espírito a famosa viagem existencial de Siddharta. Na verdade, a exigência radical do discurso poético levou-me a revisitar poetas de topo mundial, sim, mas aqueles que foram também, ao mesmo tempo, críticos literários de igual e relevantíssima dimensão. Basta pensar em Eliot ou em Baudelaire para se compreender o que pretendo significar. De certo modo, a minha própria experiência serviu-me de suporte e de guia no diálogo interessado, ou mesmo interesseiro, com os grandes poetas. Esta atitude não é, pois, uma atitude de natureza metodológica ou simplesmente teórica. Ela também corresponde àquilo que eu próprio, na minha prática, encontro como génese da arte – um imperativo, uma exigência existencial que leva o artista a criar. Não um “amusement”, um sofisticado jogo de palavras ou um exercício académico, mas uma necessidade incontornável, como a de respirar. Seguramente não um exibicionismo linguístico que cobre pobreza semântica. Poesia sem alma. Arte sem alma. Não, porque “dizer-se é sobreviver”, repito, com o Bernardo Soares. Por isso, talvez surja mesmo como uma solução para a própria vida, um acto sublime de sobrevivência. O Giovanni Verga escreveu um romance “Una Peccatrice”, onde um dos personagens se cura da paixão avassaladora pela arte, mas morre-lhe a arte quando sacia fisicamente a paixão, pondo-lhe fim. A impossibilidade alimenta-lhe o estro, mas quando o sucesso na arte torna o impossível possível até à consumação final, também aí o estro morre. A arte precisa sempre de ocorrer em intervalo.
3.
Se assim for, o despertar poético é como a descoberta que se foi tocado pela graça, sem predestinação, mas como dom recebido na sequência de um acontecimento que devastou a alma do poeta e o pôs em estremecimento e em levitação, através da palavra e da sua melodia. Privação sofrida, levitação desejada, disse o Italo Calvino nas suas Lezioni Americane. Tristeza, melancolia, perda ou privação, algo que o toca muito profundamente e o leva a criar, para se salvar, para se redimir. Uma dádiva de sofrimento concedida pelos deuses. Com uma prova de fogo: não se deixar abater nem dominar pela dor, mas assumi-la, transfigurá-la e metabolizá-la poeticamente para se elevar ao sublime. Mas, cuidado, diria o Bernardo Soares, não tocar na realidade sequer com a ponta dos dedos, porque pode acontecer o que aconteceu ao Pietro Brusio de Verga. A felicidade mundana parece não constar dos anais da poesia, poderia mesmo dizer, com um pouco da necessária radicalidade. Uma salvação que é mais transfiguração do que fuga, ou seja, uma sofisticada metabolização que incorpora sentimentos já transfigurados – uma feliz melancolia, por exemplo.
4.
A maior parte dos capítulos é dedicada à poesia, estando a pintura, a música ou a dança em segundo plano. Também aqui não foi uma escolha puramente intelectual, mas um imperativo que decorreu da minha própria experiência de oito anos consecutivos de intensa produção poética. E não só, mas também pela importância que reconheço nela, na poesia, relativamente ao conjunto das artes. No livro dou conta desta posição e explico as razões da centralidade que lhe atribuo, em particular na sua relação com a música. Essa sua posição intermédia entre a dimensão conceptual e o sentimento, equivalente à que o sentimento ocupa na relação entre a dimensão fisiológica e corpórea do ser humano e a sua consciência, muito bem esclarecida por António Damásio no livro Sentir & Saber. A Caminho da Consciência (Damásio, 2020). O poder performativo da poesia e, por isso redentor, substitutivo, salvífico, resulta desta sua posição como ponto de contacto, como ponte entre o sentimento e a consciência, construída por uma materialidade sonora que acentua e reforça a sua dimensão sensível, sensorial. Uma arte que, todavia, não se eleva em fuga para o território irreal da pureza conceptual, para a pura esfera ideal ou para a crença, a fé incondicionada, mas que permanece no terreno do sentimento, da emoção, da melancolia, da nostalgia, da perda, da ausência sofrida, do amor, do desespero, submetidos a um processo de transfiguração e de metabolização para os elevar ao território do sublime. “Cristallisation”, dizia Stendhal, em “ De l’Amour”, a propósito do amor, no mesmo sentido. Sublimação, elevação ao sublime. A poesia permanece no terreno do sensível, do sensorial, ajudada pela sonoridade rimática, pelo poder envolvente da música que a integra como sua componente interna. É a sonoridade poética que atinge de forma imediata a sensibilidade do próprio poeta ou de quem frui um poema. A poesia funciona como se se tratasse de uma ponte de ligação entre as palavras, com a sua carga semântica e a sua sonoridade melódica, a sensibilidade e o real. O primeiro visado pelo poema é sempre o próprio poeta. Se assim não fosse a redenção poética nunca aconteceria.
5.
Encontrará no livro inúmeras páginas sobre grandes vultos da literatura mundial, como T.S. Eliot, Emil Cioran, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Hermann Hesse, Fernando Pessoa, Pierre Jean Jouve, Italo Calvino. Mas encontrará também reflexões mais amplas sobre a arte ou sobre a cultura, por exemplo, sobre Friedrich Nietzsche (sobretudo sobre “A Origem da Tragédia” ou “Ecce Homo”) ou sobre Theodor Adorno e o seu escrito sobre as indústrias culturais, incluído na Dialéctica do Iluminismo, mas também sobre Pina Bausch e o Tanztheater, com um enquadramento global e histórico sobre a dança, desde os seus primórdios.
6.
Trata-se de um livro sobre a arte guiado por uma posição de fundo que encontrará confirmada nos diálogos com os autores-referência escolhidos. E essa posição de fundo assume a arte como dimensão ontológica, não como mero exercício profissional, como técnica de “amusement”, como virtuosismo cultural ou como especialidade académica. É nesta posição que julgo encontrar a diferença fundamental entre a grande arte, a grande literatura, a grande poesia e as produções que mais não visam do que o consumo imediato em posição de “distracção”, como diria Adorno, referindo-se às indústrias culturais. Não, do que aqui se trata é de arte entendida como imperativo existencial, como procura do humano lá nas profundezas da alma com os sofisticados instrumentos de que ela dispõe e, no essencial, com as categorias que o Italo Calvino propõe para o milénio que já começou. A poesia marca uma espécie de diferença ontológica relativamente à experiência do sentir, ao sentimento.
7.
Este livro também desenvolve e prolonga a reflexão que propus na Introdução ao meu livro de poesia (“Sobre a Obra de Arte”), bem como as respostas aos meus leitores digitais (”Reflexões em torno dos Poemas”), ambas nele incluídas (Poesia, Lisboa, Buy The Book, 2021, pp. 13-39 e 351-420). A Dor e o Sublime é como que a outra face, em prosa, das minhas concretas propostas de poesia, de pintura e de romance (em Via dei Portoghesi, Lisboa, Parsifal, 2019). Um livro que poderá, pois, ser melhor compreendido por quem visitar o que há anos venho propondo publicamente, em joaodealmeidasantos.com, seja poesia ou pintura, ou mesmo no referido romance, como resultado da minha própria, sofrida e levitada, relação estética com a vida. Seguir-se-á, já neste mês de Agosto, um outro livro exclusivamente dedicado à poesia: FRAGMENTOS – Para um discurso sobre a Poesia, um conjunto de 200 fragmentos que constituem uma reelaboração das minhas respostas aos comentários que os meus leitores vão fazendo regularmente aos poemas que publico todos os domingos no meu site (joaodealmeidasantos.com).
NOTA
QUERO aqui deixar um agradecimento à ACA Edições pela honra que me deu em ser eu a iniciar a sua actividade editorial com este livro. Outros já se seguiram, como Política e Ideologia na Era do Algoritmo, 2024, e agora, neste mês de Agosto, como disse, FRAGMENTOS – Para um Discurso sobre a Poesia, 2024.
REFERÊNCIAS
CALVINO, I. (1988). Lezioni Americane.
Milano: Garzanti.
DAMÁSIO, A. (2018). Sentir & Saber.
Lisboa: Círculo de Leitores.
PESSOA, F. (2015). Livro do Desassossego.
Porto: Assírio&Alvim.
POE, E. A. (2016). Poética.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
SANTOS, J. A. (2021). Poesia.
Lisboa: Buy The Book.

FRAGMENTOS
PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024; 217 pág.s)

EPÍLOGO
TERMINO O ÚLTIMO CAPÍTULO (XV) deste livro com um curto fragmento sobre O Tempo Poético. Tempo diferente do tempo cronológico, o tempo espacializado, aquele que assumimos quando, como diz Henri Begson, “nous nous servons de l’espace pour mesurer e symboliser le temps”. Tempo diferente porque não subordinado à clássica métrica, à divisão convencional do tempo, à sua medição através do relógio. E, por isso, sou tentado a subscrever os versos de W. H. Auden sobre o tempo: “And all our intuitions mock / The formal logic of the clock” (The Collected Poetry of W. H. Auden, 1945). Tempo subjectivo, pois.
1.
Há uma palavra francesa que se aplica a este tempo com propriedade: “durée”. Interessa-me, pois, como a define Bergson, no seu ensaio Durée et Simultanéité, de 1922, no III capítulo sobre “La Nature du Temps”:
“la durée est essentiellement une continuation de ce qui n’est plus dans ce qui est” ou “c’est une mémoire intérieure au changement lui-même, mémoire qui prolonge l’avant dans l’après” (Paris, Félix Alcan, 2018).
Tempo vivido como fluxo. Continuação do que já não é no que é, através da memória, que acciona a mudança, a transição. A “durée” é esta transição. Que melhor definição do que esta para o tempo poético? O tempo subjectivo é o tempo da arte e, sobretudo, o tempo da poesia. Neste livro, Fragmentos, e na minha poesia é permanente esta dinâmica da “durée” bergsoniana em acção. É como que a matriz originária da minha poesia. Do tempo da poesia. Que encontra no instante criativo a sua máxima expressão. Poesia é “durée”. E esta é o tempo da arte.
2.
Os gregos tinham a palavra chronos para designar o tempo quantitativo e extensivo. Mas tinham também a palavra kairós para designar um tempo diferente: tempo como o momento oportuno, referido, por exemplo, por Aristóteles na “Ética a Nicómaco”, falando do bem (de tò agathón, no texto grego “tagathòn”), das múltiplas formas como é dito, sendo uma delas o kairós (1096a, 26-27 e 32). Este tempo, designado pela palavra kairós, é o que mais se aproxima do tempo bergsoniano. O kairós. como “instante eterno”:
“surge do encontro entre o passado e o futuro (…), o tempo da recordação por excelência, mas também o tempo onde há espaço para o novo”, tempo qualitativo (Joke Hermsen, Melancolia em Tempos de Perturbação, Lisboa, Quetzal, 2022, pág.s 76-77).
Mas havia ainda, no grego, outra palavra: (tò) eksaíphnês, apreensão instantânea do tempo, ou mesmo raio instantâneo e fulminante do tempo. Tempo subjectivo. O tempo da criação. A riqueza da língua e da cultura gregas a ajudar-nos nesta tentativa de aproximação entre tempo e arte. O tempo devolvido à subjectividade do artista, o passado que, accionado pela memória, se prolonga no futuro, na intuição criativa, no instante luminoso que funde passado e futuro no sublime. Ékstasis. O milagre da poesia. O poder de voo do veículo poético na “durée”, no tempo vivido, no tempo da consciência.
3.
Ao longo dos duzentos fragmentos fui viajando com a palavra tempo, sempre neste sentido, que é o que realmente acontece na poesia. Quando o poeta diz que a poesia lhe acontece é a este tempo que se está a referir. E não só na poesia. Em geral, na arte. Ela, a poesia, de facto, permite reverter o tempo, fazendo do passado futuro e do futuro passado na convergência de um tempo de intervalo – o do instante criativo. O que acontece no interior de uma dinâmica que tem no seu centro o instante, a intuição, o ponto de contacto entre o temporal e o intemporal, entre o individual e o universal, entre o contingente e o eterno. A poesia é, assim, uma arte de intersecção. E o seu tempo também o é. O desenvolvimento é tão-só a sua componente racional, apolínea. Mas a arte é filha do páthos.
4.
Trata-se de uma dinâmica que ganha sentido numa arte onde a palavra é a expressão máxima da liberdade, o veículo, a asa do tempo, a ponto de ter a pretensão de ela própria se transformar em acção efectiva, estímulo da sensibilidade, motor do sentimento e ponto de contacto entre o contingente e o eterno, entre o finito e o infinito, entre o eu e o outro, como muito bem diz Joke Hermsen, referindo a poetisa polaca Szymborska. Só mesmo por isso o poeta Pablo Neruda poderia ter dito que “la palabra es un ala del silencio”. Se as asas servem para voar, também servem para transportar o silêncio. E o veículo poético, tendo, também ele, as palavras como asas, poderá transportar o silêncio. E é por isso que a palavra poética, no seu mistério, no seu dizer velado, pode transportar o indizível, o inefável. A poesia é um ponto de intersecção entre o silêncio e o murmúrio, o sussurro. E é por isso que a verdade em poesia só pode ser alêtheia, desvelamento, como se o silêncio, através da palavra, como seu eco, e nada mais, se fosse levemente revelando. Processo a que só os “iniciados” podem, nos rituais, aceder, mas sem nunca esgotar o mistério. O murmúrio poético é o eco do silêncio. É assim que o silêncio é comunicado através da poesia: como eco.
5.
A poesia é como que a expressão de uma dialéctica entre o tempo remoto da memória, com o seu referente temporal e circunstancial, e o tempo do desejo, animado pela vontade. Desejo naturalmente referido a esse tempo remoto. E quando ela é esteticamente conseguida até pode representar a “vitória” do desejo sobre o facto, do sonho sobre a realidade, do futuro sobre o passado. E, então, o poeta tem direito aos merecidos louros da “vitória”. Em Delfos, sob os auspícios de Apolo.
6.
A fantasia poética tem um tempo próprio, o da intuição, o do instante oportuno que regista as “intensities” e lhes dá forma pela palavra. Ela trabalha no interior do fluxo kairótico, da “durée”. Daí a poesia ser uma arte tendencialmente minimalista. Na sua cumplicidade com o silêncio (a palavra poética é uma sua asa) e o movimento (que nunca quer parar). A pretensão de dizer tudo (como o silêncio) com quase nada (a palavra poética). Onde numa palavra cabe o mundo. Num instante, a eternidade e o seu discurso, o do silêncio. O seu é um tempo incondicionado, ainda que possua raízes temporais no passado. A poesia resulta de intensities registadas instantaneamente, sem mediação cognitiva. Como o amor. Um registo puro de sensibilidade. E é um tempo incondicionado porque se exprime como absoluto no instante, que não é passado nem futuro porque acontece num intervalo, numa fronteira, numa terra de ninguém. Que só o poeta pode habitar. Porque toca a eternidade sem sair da sua incontornável contingência. A poesia agarra o tempo (o passado) no instante criativo e fixa-o em palavras numa pauta poética para ulterior execução… em surdina. Ou em silêncio. De si para si. Em diálogo com a alma. Sinfonia para almas sensíveis.
7.
Quando a “maquinaria” poética entra em acção, por razões que a razão pode mesmo desconhecer, exactamente como o amor, as palavras são como que submetidas a um processo de livre associação, sem filtros, espontâneo, natural. Como se se tratasse de uma sessão de psicanálise procurando libertar o inconsciente de forças obscuras que oprimem a sensibilidade à flor da pele. Só depois a “maquinaria” intervém com todo o seu arsenal, como se se tratasse de compor uma sinfonia, dando expressão formal a essas pulsões e libertando o poeta. Pauta poética em busca da forma e do sentido aparentemente perdido, mas activo, nos confins do tempo e da consciência. A recriação como acto de sobrevivência e de projecção do tempo no tempo da arte, a “durée”. É no instante oportuno que se dá a recriação, a transição entre o passado e o futuro sob forma de fluxo no grande substracto (tò hypokeímenon) que é a memória, locus do tempo vivido. Não são as musas filhas de Mnemosyne?
8.
Evidentemente que a poesia tem de possuir gravitas, densidade existencial, porque é um estado de alma ou mesmo um grito de alma. Um denso e cifrado “desabafo” espiritual. E é claro que o espírito intervém, mas ao serviço da alma. O filósofo diria que resulta de um pacto entre Diónysos e Apóllôn, pois uma coisa é a alma, outra é o espírito. Na primeira, manifesta-se exuberantemente a sensibilidade e a sensualidade; no segundo, o intelecto e a razão. Na poesia coexistem ambos, mas primacial é a alma, onde acontece a inscrição originária da sensibilidade e da sensualidade. Quando se fala de virtuosismo poético o que se está a dizer é que lhe falta, a essa poesia, chão, húmus, dor, sentimento, páthos. É puro tecnicismo desvitalizado e existencialmente neutro. A poesia assim não sobrevive, a não ser como simulacro. O excesso de espírito na poesia equivale a defeito de alma, é verdade, mas também o excesso de alma pode não resultar em poesia, em arte, em beleza.
9.
O Nietzsche reconhecia na tragédia grega a harmonia perfeita entre o “espírito dionisíaco” e o “espírito apolíneo”, a perfeição na arte. O sentimento e a razão. Dois movimentos que acontecem em tempos diferentes (um, na génese, o outro, na forma), mas que devem funcionar em harmonia, sem que um exceda o outro. Melhor: lá onde um incorpora o outro na mesma medida, reciprocamente. E, depois, a música interna da poesia ajuda a este equilíbrio porque como pauta (espírito) ela actua directamente sobre a sensibilidade (alma). Sentido com poder sensorial. E é esta a razão que me leva a considerar a musicalidade de um poema absolutamente indispensável, assuma ela a forma de rima externa ou explícita ou a de rima interna. É a toada melódica que, como fluxo estético-expressivo, confere força performativa à poesia, já que, glosando o Pierre Jean Jouve de Apologie du Poète (Cognac, Le temps qu’il fait, 1982, pág. 52), é sobretudo ela que permite que a poesia toque a alma daquele a quem é dirigida.
10.
Trata-se, pois, de um território muito delicado, mas também muito complexo, onde convergem várias dinâmicas em andamentos diferentes, tudo em perfeita harmonia para um eficaz efeito sobre a fruição esteticamente comprometida, ou seja, para uma partilha integral da beleza proposta à sensibilidade de quem por ela se sente atraída. Foi esta complexidade, esta delicadeza e esta diversidade que procurei mostrar nestes duzentos fragmentos. JAS@08-2024
Livros meus publicados por ACA Edições: * A Dor e o Sublime.
Ensaios sobre a Arte (2023) * Política e Ideologia
na Era do Algoritmo (2024) * Fragmentos.
Para um Discurso sobre a Poesia (2024)

FRAGMENTOS (XV)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 07-2024
O MEU PASSADO NÃO ACONTECEU,
MAS TENHO SAUDADES DELE
É VERDADE, dói mesmo mais ter saudades do que não chegou a acontecer do que o que aconteceu. As coisas que foram… foram. Aconteceram. E até podem gerar saudades quentes, suaves e pacíficas. Ficaram resolvidas pelo simples facto de acontecerem. As outras, as que desejámos ou as que sonhámos, mas que nunca foram, continuaram como desejos não concretizados. Saudades frias e cortantes. O tempo, a distância, coloca esses desejos na fita da memória, onde já não podem acontecer… a não ser na fantasia. O desejo do que poderia ter acontecido mantém-se, intenso, mas só como saudade viva em ferida aberta de um tempo interior que já não pode ser revertido, porque não tem retorno. Por isso, quando o desejo se converte em saudade, ou seja, em impossibilidade… dói. E para curar a dor só mesmo a fantasia. A poesia. Às vezes até temos saudades do que já nem sabemos se era sonho ou desejo intenso. Só sabemos que foi intenso. E fica a dúvida se verdadeiramente do que temos saudades é, afinal, de nós mesmos, da intensidade com que desejámos ou sonhámos. O objecto do desejo ou do sonho sonhado teria sido pretexto, estímulo ou até mesmo ficção, algo inventado por nós para nos sentirmos intensamente? Para vivermos mais intensamente por dentro. Será? Para o senhor Bernardo Soares era mesmo assim. Só lhe interessavam os seus sonhos e a sua vida interior. Veja-se o que ele diz: “o meu passado é tudo quanto não consegui ser”. Ou então: “pertenci sempre ao que não está onde estou e ao que nunca pude ser”. E, digo eu, tudo quanto não consegui ter. À minha escala, claro. De resto, “gabo-me para comigo da minha dissidência da vida”. Um passado de desejos e de sonhos. Que continuam activos, precisamente porque desejos não realizados. Só assim se pode construir futuro, não ficando sentado sobre o que se teve. Nem sobre o que não se teve. E é aqui que entra o poeta. Levanta-se e caminha pelos sendeiros da imaginação em direcção ao futuro.
O MILAGRE DO IMPOSSÍVEL
Os poetas conseguem dar forma a desejos e sonhos e concretizá-los em palavras sobre pauta melódica, como se o ritmo, a toada, marcasse a força do desejo e da vontade de o ver concretizado. Milagre: o impossível acontece na melhor das formas. O poeta gosta do impossível e é por isso que o faz acontecer. Oxímoro? Não, obra da fantasia. E o impossível será mais real se for comunicado e partilhado. Porquê? Porque a poesia transcende o tempo e pode converter o passado em futuro. Pode concretizar o que nunca foi… mas, claro, se sentir o desejo como vivo. É aquilo a que se chama o poder performativo da poesia. “A obra mística, pertencendo à esfera humana da beleza, tem como primeira necessidade, tem como fim próximo e longínquo, ser comunicável, para determinar o mesmo na alma que ela deve tocar”, diz Pierre Jean Jouve, na sua Apologia do Poeta. É assim que o impossível acontece… na alma que ele toca. Toca com palavras e acontece. A força da beleza na partilha.
BEIJAR COM PALAVRAS
O outro dizia que o primeiro beijo (desejado) é dado com o olhar. Por que razão o último beijo não há-de poder ser dado com palavras? No princípio era o verbo. E, no fim, também? Certamente. O Bernardo Soares conhecia bem o poder performativo da palavra e desdenhava a circularidade do encontro físico. Quando falava da posse era da posse da alma, não do corpo. Posse através das palavras. Esta permanece. Aquela esquece, como algo já feito e acabado. Foi bom, passo à frente. Com o desejo a conversa é outra… E pode ser poética. Eu sinto-a assim: a única forma de atenuar a dor que resulta do que nunca foi. O Bernardo diz que não, mas é poeta. Não é a poesia a mais poderosa filosofia existencial?
CUMPLICIDADE
O rosto retratado na minha pintura “O Retrato” não corresponde ao da musa que inspira o poeta e de quem tem muitas saudades? É provável, apesar da sinestesia sempre procurada. Afinal, sempre é um rosto de mulher… Mas digo que não corresponde porque suspeito que haja um certo conluio entre o poeta e o pintor para o perfeito “fingimento”. Um pintor perfeitamente sintonizado com o espírito da poesia. Faz-nos olhar para uma enquanto o poeta canta outra. Não lhe bastava a ilusão (provocada) da palavra, também teve de completar o fingimento com um retrato. Cumplicidade total. O que, entretanto, sei é que o poeta não se fica por ali, não se sujeita a sofrer passivamente a ausência, carpindo saudades que doem. Sim, doem, mas se há saudades é porque há passado e se doem é porque esse passado foi intenso. Mesmo que tenha sido um passado só de desejos não cumpridos. Seja como for mereceu ser vivido. Como, não sei. Mas sei que se não tivesse sido intensamente vivido não o cantaria assim. Mas talvez tenha razão o Bernardo Soares: doem mais as saudades do que não foi ou não aconteceu. Talvez, mas não sei qual o grau de “compromisso” afectivo que houve entre o poeta e a musa que o inspira. Certamente “compromisso” intenso. Mas somente como desejo? Como sonho? Não há modo de saber. O que se sabe é que houve passado, que esse passado se tornou saudade e que a imagem da musa é o espelho dessa saudade, porque nele se reflecte precisamente o passado. Imagem transfigurada, mas imagem. De mulher. É assim que acontece o encontro entre o passado, o presente e o futuro, a matriz temporal do poema “A Carta”. Na poesia, o futuro. Sim, doem as saudades, mas é porque há passado. E é por isso que o poeta diz que é bom ter saudades. Do que foi e do que não foi. Do que aconteceu e do desejo falhado. Do fracasso. Ah, Cioran, como entendeste tão bem este mundo! O passado foi abençoado, sim, mas, no fim, doeu. As saudades atenuam dele o amargo e repõem o doce afecto quando convertidas em canção. E nada se perdeu, porque tudo foi transformado.
AS MUSAS SÃO COMO AS FADAS
As musas são tentadoras, perigosas, desafiantes e irresistíveis. Eu não sei se é esta, a de “O Retrato”, ou se, como disse, para despistar, o pintor, em conluio com o poeta, lhe alterou os traços para reforçar o mistério que há sempre na poesia e na musa que a inspira. Sim, parece mesmo que a musa está a dar a volta à cabeça do poeta, como disse um Amigo que comentou o poema… Mas se não fosse assim não haveria poesia nem poeta. Essa é que é essa! Dar-lhe, a ela, volta à cabeça? Isso é que não, ainda que ele tente. O poeta não tem esse poder. As musas são fugidias e rápidas, como as fadas. Enfeitiçam e fogem. O único modo de as atrair é com aromas fortes e acres das plantas, das flores. Elas não resistem e às vezes até ficam como que embriagadas. É então que os poetas as cantam, nas libações, na dança dos aromas e das cores. Mas logo elas voam para longe, obedecendo às deusas e sobretudo a Apolo. É este que toma conta dos poetas, depois das libações.
SOBRE A SAUDADE
O poema “A Carta” é uma meditação sobre a saudade, sobre a natureza ambivalente da saudade. A saudade como passado (vivido ou sonhado), mas também como dor, logo, a expressão de uma vida vivida que tem de ser cantada para exorcizar a dor. É bom ter saudades. Não as ter é como não viver. É como não ter passado, logo, não ter futuro, sobretudo se não se tem saudades do que não foi. Depois, elas têm sempre associado um rosto, que é o espelho delas, mesmo se esse rosto não passar de uma projecção onírica de um desejo incumprido. Nelas o poeta revê-se no passado e estremece, de novo. Recomeça a viver como se fosse a primeira vez. Dirige-se a ela, à musa, e volta a interpelá-la, mesmo sabendo que não haverá resposta. E diz de si para si: ah, não há resposta? Pois a resposta dou-a eu. É assim que surge o eco devolvido do seu silêncio sob a forma de canto em surdina. É esta a beleza da poesia. Recriar o real à medida do desejo. A poesia é a linguagem do desejo. Ou do sonho. Por isso, ela é pecaminosa. Mas é tão bom pecar… Em palavras, que sempre é mais do que pecar em pensamento. “Peccato”, dizem os italianos quando um desejo não é satisfeito, apesar de tentado. A poesia é um desejo tentado. “Peccato”.
RESOLVER O PASSADO
Tudo está nas “mãos” do tempo. O futuro que o poeta constrói, com palavras, vai-se convertendo em passado, na medida em que toma forma. Junta-se, pois, ao passado que ele cantou para o “resolver”. Ou talvez se justaponha. Mas como esse passado nunca fica “resolvido” ele tem de continuar a cantá-lo. Enquanto o tempo o permitir.
PROSA POÉTICA?
Prosa poética, a tua, dizia-me um Amigo. Talvez porque na minha poesia, respondi, a semântica assuma uma forma especial: quase sempre conto uma história ou, então, como neste poema, “O Poeta e o Tempo”, proponho uma reflexão. Mas é claro que são sempre confissões de estados de alma sofridos. Mas é mesmo só poesia. Teimosamente poesia. Procuro não misturar estilos. Como se sabe, há poesia com forma explícita de prosa. E sem musicalidade aparente. Não é o caso. Até porque não gosto desse tipo de poesia. Para mim, componente obrigatória é a musicalidade do poema, a melodia, a toada, o ritmo. Os versos breves, às vezes de uma só palavra, ajudam a compor a toada. Quanto ao título, normalmente uso títulos curtos e que não procurem traduzir a semântica do poema. Há sempre o risco de estar a impor uma certa descodificação do poema, com prejuízo do incontornável mistério. O ideal, para mim, seria sempre um título de uma só palavra. Por sua vez, os versos de uma só palavra significam que essa palavra tem peso específico no tecido poético, seja musical seja semântico. Digamos que esta opção faz parte da minha poética. Eu procuro sempre a harmonia entre o sentido e a musicalidade (a toada, o ritmo, a rima). E isso tem consequências no processo de construção do poema.
ESTADOS DE ALMA, ESTADOS DE FACTO?
A poesia é a expressão de estados de alma do poeta em forma cifrada e, por isso, ao leitor se exige sintonia para lhe aceder. Como se para a leitura fosse necessário instalar-se no mesmo intervalo em que vive o poeta. É isso, creio. Partilhar a inquietação em perfeita sintonia. E a inquietação é, sim, desassossego. A tradução italiana do “Livro do Desassossego” é precisamente “Il Libro dell’ Inquietudine” (da Feltrinelli e com Prefácio do Antonio Tabucchi). Proprio così. Eu acho que a poesia é boa para as almas desassossegadas, inquietas.
TEMPO
O presente não existe? Talvez não. Talvez seja só um intervalo. E é por isso que o poeta vive nele. É o seu espaço vital. Cada presente que vivemos torna-se imediatamente passado, numa dialéctica entre o passado e o futuro. Na lógica do tempo, esse intervalo é um lugar de passagem. Lugar de movimento. Uma fronteira que (só) pode ser atravessada com o veículo poético. Num sentido e no outro. Para a frente e para trás, porque a poesia tem esse poder de fazer reverter o tempo. Era o Pessoa que falava desse intervalo. Que pode ser entre si e o mundo ou entre o passado e o futuro. Não parecendo, é um não-lugar privilegiado, porque é na fronteira que se vê melhor para os dois lados. Para o passado e para o futuro ou para o mundo e para si. É por isso que o poeta é um ser privilegiado. Um pouco irreal, sim, mas visionário. Como todos os visionários. Vê o que outros não conseguem ver. Com um pequeno excesso de fantasia. Até o passado ele observa como futuro, porque, ao convertê-lo (com palavras), o subtrai à inelutabilidade do tempo e o projecta no próprio movimento do tempo, ou seja, num tempo que ainda não é, mas que, quando for, se tornará, não presente, mas passado. Como identidade e como diferença. Ecco. A dança do tempo. Mas é por isso mesmo que os poetas são os seus melhores intérpretes. O poetas dançam com palavras ao som da própria melodia. Só eles podem (sobre)viver nesse intervalo entre a identidade (como passado) e a diferença (como futuro).
EKSAÍPHNÊS
O tempo e o espaço medem-se pela forma como os sentimos. E como nos movemos neles. O veículo poético, que se move com combustível emocional, está estacionado num intervalo e sempre pronto a descolar, seja para o passado seja para o futuro. O condutor é, naturalmente, o poeta. Descolar seja em direcção a si seja em direcção ao mundo. Ele reside na fronteira. Que, de facto, também é a que existe entre si e o mundo. Por isso, ele é, sim, o condutor, o que decide a direcção a tomar, embora o destino final seja sempre o futuro (que também se há-de tornar passado). Tal como o tempo também a poesia é movimento e só voando com ela é possível transcender a inelutabilidade do tempo. Na verdade, é pela sua colocação nesse intervalo entre o passado e o futuro e entre si (como outro) e o mundo que o poeta se torna um ser transfronteiriço, ao mesmo tempo pertencente a dois mundos e a nenhum. E pode olhar para um a partir do outro. O poeta é um ser de fronteira. Está no ponto de chegada do passado e no ponto de partida do futuro. E até consegue reverter ambos. O seu tempo é o do “insight”. Os gregos tinham uma palavra mais intensa para designar isto: “eksaíphnês”. Apreender o tempo de forma instantânea. E qual é, pois, a linguagem mais apropriada para isso? A da poesia, claro. E a da música, que, aliás, a poesia procura sempre incorporar, para se densificar. A matéria orgânica da poesia é composta de “intensities” e por isso ela tem de ser convertida esteticamente com os instrumentos adequados. Que nunca são de natureza analítica.
O TEMPO POÉTICO
O passado abriu caminho ao futuro e é nesse caminho que o veículo poético se move. Mas algo inquietou originariamente o condutor do veículo, funcionando a inquietação como o combustível para a viagem. O tempo poético à medida da pulsão criativa. E esta está ao serviço do tempo não poético, do passado sofrido, agora reconstruído à medida do futuro desejado. Privação sofrida, levitação desejada. JAS@07-2024

JOGOS DE SOMBRAS
João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 07-2024
LI E OUVI MUITOS comentários de entendidos em táctica, dizendo que António Costa era o padrinho do CHEGA porque, assim, dividia a direita para reinar à esquerda. Palavras de especialistas em táctica. Pois bem, viu-se agora, com as eleições legislativas de Março, a justeza destas belas análises: a direita obteve em conjunto cerca de 53% dos sufrágios e o PS perdeu as eleições e a chefia do governo, enquanto o PSD conservava o seu núcleo duro eleitoral. Uma bela táctica esta, com frutos ao retardador. O PS perdeu, embora António Costa, a suposta vítima do famoso e triste parágrafo, tenha ganho: conquistou o tão desejado cargo de Presidente do Conselho Europeu. Do ponto de vista pessoal, António Costa merece palmas. Do ponto de vista do PS talvez não as mereça.
1.
Mas o curioso é que o PSD (ou essa ficção que é a AD, se quisermos) tendo ganho por um fio, na verdade ganhou por mais. Ganhou a certeza de que o PS tão cedo não irá conseguir formar governo, ainda que em eventuais eleições venha a ser vencedor. Lá estará o CHEGA (e a Iniciativa Liberal), agora em evidente recuperação das europeias, segundo as mais recentes sondagens (uma delas já lhe dá 17,5%), para impedir que isso aconteça. O CHEGA nunca viabilizará um governo PS, porque isso seria contranatura. O “não é não” de Luís Montenegro tem, pois, o sabor de uma enorme hipocrisia, porque ele sabe muito bem que tem uma arma secreta que não precisa de ser ele a disparar, podendo dizer que não é sua e que até a despreza. Mas a verdade é que o CHEGA é o seguro de vida de Montenegro ou, pelo, menos do PSD.
Esta é a situação real, não ficcionada. O PSD navega em águas aparentemente tumultuosas, mas, no que conta, navega em águas muito, mas mesmo muito, calmas. O seu seguro de vida chama-se André Ventura. Ou seja, a situação é tecnicamente muito clara e só isso explica a arrogância com que o PM fala para a oposição. Porque sabe que ela é, de facto, minoritária.
2.
O que quanto a mim é grave é que esta situação já foi interiorizada pelo PS sem que, todavia, tenha daí retirado as devidas consequências. Porque, se for assim, o que Pedro Nuno Santos tem a fazer é seguir o seu caminho sem ziguezaguear: deve levar por diante a sua estratégia assente nos princípios por que se rege o PS, sem necessidade de recorrentemente fazer o discurso da estabilidade e da responsabilidade, porque essa, queira ele ou não queira, estará garantida por muito tempo. E também porque um partido como o PS não precisa de o fazer, depois de décadas de governo.
3.
Na verdade, este é o legado de António Costa, ao deitar a toalha ao chão por um medíocre parágrafo escrito sabe-se lá com que intenção e deitando às urtigas uma sólida maioria absoluta do PS. É verdade que esse seu mandato de 2022 começou mal, mas ainda terminou pior. No futuro se fará a história destes dias.
4.
Mas, falando de tácticas e do crescimento do CHEGA, na verdade o que se deve perguntar é sobre quem é que realmente promoveu, por táctica ou por ausência dela, este partido? O antigo Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, falava, a propósito da justiça, numa entrevista publicada no jornal “Público” (18.07.2024), de duas teorias da comunicação, ou melhor, de duas teorias dos efeitos, que é conveniente conhecer: o agenda-setting (do senhor McCombs) e a espiral do silêncio (da senhora E. Noelle-Neumann). E o que diz a primeira? Que o importante é ser colocado no topo da agenda pública, menos importando o que concretamente se diz. E a segunda diz que uma corrente maioritária na opinião pública tende a gerar uma espiral do silêncio relativamente às tendências minoritárias. Pois a verdade é que a esquerda colocou constantemente o CHEGA no topo da agenda, ao promovê-lo a uma espécie de inimigo externo que ameaçava as fronteiras da democracia e que, por isso, era necessário elevá-lo à condição de perigo maior a combater e a aniquilar. Deste modo, talvez tenha conseguido accionar uma espiral do silêncio, mas, depois, no anonimato da câmara de voto, a confiança foi para quem ocupou o topo da agenda, não importa por que motivo. Os discursos disruptivos de André Ventura (normais para quem quer polarizar a atenção social) ajudaram muito à festa (ou seja, à polarização) e a verdade é que este partido obteve cerca de 19% nas legislativas (é este, 18,88%, o resultado que consta no DR, 1.ª Série n.º 59-A 23-03-2024, publicado pela CNE). Posição que não afectou o essencial do eleitorado do PSD e nem sequer o eleitorado da Iniciativa liberal. 53% foi o resultado. Da maioria absoluta do PS, em 2022, à enorme maioria absoluta da direita, em 2024. Falando de táctica, estamos conversados. A boa táctica ficou, sim, para outros fins.
5.
Perante esta situação o que deve, afinal, fazer o PS? Seguir o seu caminho, que será longo, e repensar a sua orientação política e ideológica, tomando em consideração que o centro-esquerda está em crise um pouco por todo o lado e que alguma razão haverá para isso. E não serve de conforto a lição do Labour porque na verdade o que os britânicos, no essencial, quiseram foi mandar para a oposição os conservadores (que governavam à 14 anos), sendo certo que a extrema-direita do senhor Nigel Farage obteve uma expressão eleitoral (não em mandatos, por via do sistema eleitoral) preocupante: mais de 4 milhões de votos. A terceira força política em número de votos obtidos, dois pontos percentuais acima dos liberais, que obtiveram 72 mandatos contra os 5 do Reform UK. Apesar do excelente resultado do Labour, somente um pouco superior ao que obtivera Corbyn em 2019, mas em que a participação fora superior em cerca de 7 pontos percentuais (cerca de 67% contra cerca de 60%), veja-se o que se diz no Relatório da House of Commons Library sobre os resultados das eleições gerais de 2024: “Labour’s vote share was 1.6 percentage points up on 2019 and was a lower vote share than any party forming a post–war majority government” (18.07.2024. 1.1.1, pág. 7; itálico meu). Quanto a França nem é bom falar, tão grande é a barafunda que se instalou na Nova Frente Popular (NFP). De resto, o Rassemblement National teve mais três milhões de votos do que a NFP, que venceu, em mandatos, as eleições (também aqui devido ao sistema eleitoral). A direita radical avança a grande velocidade e só o centro-esquerda estará em condições de a travar, desde que proceda a profundas mudanças e reconquiste a sua relação com a sociedade civil. Entretanto, e antes que a NFP tenha conseguido propor um nome para a indigitação como PM (nesta terça-feira em que escrevo ainda não se conhece um nome), Macron obteve, com o apoio dos Republicanos, a eleição de uma deputada do seu partido (a anterior Presidente) como Presidente da Assembleia Nacional. Sim, ´é verdade, mas uma coisa é certa: a vitória da NFP deveu-se aos acordos de desistência, na segunda volta, estabelecidos com o Ensemble, com o objectivo de travar a vitória do RN. Acordos pela negativa, portanto. Pois bem, também agora, e com os olhos postos no futuro, parece ser lógico que a eleição da Presidência da AN e a indigitação do novo PM devessem resultar de novos entendimentos entre estes dois blocos políticos, de onde resultaria uma base parlamentar de 350 deputados. Seria esta, no meu entendimento a via a seguir, prevalecendo o interesse do país sobre jogos de poder que acabarão por beneficiar o RN e a candidatura de Marine Le Pen à Presidência da República, em 2027.
6.
Por cá, se o PS tiver que chumbar o orçamento isso não deverá criar angústias, pois lá estarão o CHEGA e a Iniciativa Liberal para o aprovarem. De resto, ao CHEGA, com o numeroso grupo parlamentar que tem, não parece interessarem muito eleições antecipadas. Terá de se consolidar como partido (a começar logo pela máquina partidária, usando os recursos que resultam da dimensão do seu grupo parlamentar) para, então sim, seguir o seu próprio percurso, procurando inverter a relação de forças com o PSD. O encorajamento vem-lhe, de forma muito consistente, do coração da União Europeia. Por isso, que venham, pois, os “estados gerais“, mas que não seja o filme habitual, com os mesmos de sempre (muitos desempregados políticos da esquerda, com ou sem think tank de apoio) prontos a ocupar lugares de destaque no PS. Sei bem o que aconteceu nos “estados gerais” de Guterres. Estava lá. De qualquer modo, a haver eleições, o PS estaria, como disse, condenado a manter-se na oposição, mesmo que as ganhasse, pois seria certa a oposição do CHEGA (e da Iniciativa Liberal) à formação de um seu governo. Perdendo-as, talvez Montenegro saísse (a crer nos seus próprios e declarados princípios), mas logo viria alguém que estabeleceria um acordo com aquele partido para a formação de um governo de direita. Os exemplos abundam, lá fora.
7.
Assim sendo, não compreendo a intriga galopante que, com a ajudinha de uma jornalista de serviço (do “Público”, São José Almeida), parece estar a grassar por terras do PS. Se erro houve, de Pedro Nuno Santos, ele consistiu em o PS ter dado a mão a um partido e a um governo que não precisavam dela por fazerem parte de uma maioria parlamentar enorme e de direita, nem que seja para funcionar somente como bloco de rejeição (de uma solução alternativa). Por isso, agora, há tão-só que corrigir o discurso e a prática e seguir em frente de acordo com uma responsável “ética da convicção”, enrobustecida por uma séria reflexão sobre a identidade do PS e sobre a sua orientação programática e estratégica. Terá tempo para isso. A não ser que, como disse Luís Montenegro acerca do PSD, também o PS não tenha problemas existenciais. Mas tem. E não são poucos, como tenho vindo aqui a sinalizar em inúmeros artigos. E confesso também que não seria muito interessante ver repetida, em Novembro, a famosa “abstenção violenta” do PS de António José Seguro, mesmo que, agora, não violenta, mas violentíssima. Essa posição só menorizaria o PS, transformando-o em “tigre de papel”, como se dizia outrora em linguagem maoísta. O risco é mesmo esse: o de Pedro Nuno Santos se transformar num “tigre de papel”. Espero que não. JAS@07-2024

FRAGMENTOS (XIV)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos

“O Silêncio e o Tempo”. JAS. 07-2024
“APANHAR OS CACOS”
RECRIAR O QUE SE DESLAÇOU – é para isso que existe a poesia. Tarefa delicada, a de voltar a reconstruir as palavras que se deslaçaram e, com elas, o real, que, também ele, ficou à deriva. Em linguagem popular dir-se-ia que o poeta “apanha os cacos” e reconstrói o vaso, tornando-o mais belo do que já era.
ALQUIMIA
O tempo selecciona e valoriza o que pode perdurar. Extrai da matéria a parte preciosa, o núcleo aurífero, e dá-lhe forma para que resista. Alquimia. Também a poesia tem algo de alquímico. A beleza é o resultado deste processo e é obra desse escultor, o poético alquimista. O tempo deita fora o contingente e fixa-se no que pode perdurar. Há, claro, neste processo uma componente subjectiva, como existe em todos os processos sujeitos a crise. E o tempo é o grande cúmplice do artista. Ambos valorizam e fazem perdurar o essencial. E é assim que dão sentido à vida. Da miséria existencial eles retiram o que a transcende e permite que a vida não fique por ali. E que perdure. A arte é alquímica, não química, é espiritual e está menos sujeita à erosão. Ela é aliada ou cúmplice do tempo. A beleza é o ouro da arte, mas para a obter é preciso extraí-la e lapidá-la. Alquimia. Sim, alquimia.
“DURÉE”
Há muitos anos que prossigo o meu ritual poético, ao domingo. É o meu ritual. Não vou à missa, vou à poesia. Nela há deuses e deusas. E oráculos. E libações. E cânticos. E orações. Sim, o tempo vai transformando as imagens registadas na memória, mas as impressões sensoriais originais evoluem para imagens cada vez menos nítidas que, por isso, e para ganharem nitidez, precisam de ser convertidas em palavras. Se valer a pena? Não, se ficaram inscritas na fita da memória. Se for algo que perdurou. E é claro que existem fragmentos de memória mais intensos do que outros e que se impõem ao processo selectivo. Depois, o passado fica mais nítido graças às palavras. E diferente. E se essas forem escritas e ditas com assonâncias, com a melódica toada poética a caminho da harmonia, da beleza e do sentido, então, ficará garantida a “durée”, a preservação do que foi sentido originalmente de forma intensa. A preservação do efémero transfigurado. O intervalo entre o sensível, o contingente e o metatemporal, o absoluto, o intemporal é o terreno dinâmico da poesia. Ela conquista essa espécie de “terra de ninguém” (mas é claro que há lá sempre alguém) e nela constrói as suas edificações, os seus castelos, as suas fortificações. A arte selecciona, porque só regista o que foi intenso e perdurou na memória com canais de acesso. O registo da intensidade é do poeta, da sua sensibilidade. É como o tempo. Só resiste à sua erosão o que é precioso, como nos minerais. Mas é preciso aceder à profundidade da memória e lapidar o que lá ficou inscrito. A poesia, para o fazer, faz como que associações livres num discurso estético até que chega ao resultado final. Uma espécie de processo de tipo psicanalítico revestido de beleza. Traz à consciência poética o que por lá estava em silenciosa ebulição. A poesia, assim, fica a meio caminho entre o contingente e o eterno, entre o sensível e o intemporal, o absoluto. Tem elementos de ambos, do sensível e do intemporal. É uma arte em movimento, aberta. E é por isso que é polissémica e que pode ser partilhada “por dentro”.
EROSÃO
A erosão da relação sensorial originária do poeta com a musa acontece. Mas é uma erosão que pode ser contornada pelo recurso ao poder de resgate da palavra poética. O tempo é escultor e, portanto, selectivo. E a poesia quando é cúmplice do tempo pode fazer milagres com as “palavras deslaçadas” do passado, as que o pintor exibe quando, a pedido do poeta, reinterpreta o poema e o devolve à sua origem. É deste milagre que o poema “O Tempo e a Palavra” fala.
TUMULTO
Alma em tumulto é a que é pacificada pelo choro poético. A poesia é lugar de onde já nunca se sai. Um amigo pergunta-se, em diálogo comigo, se, afinal, a vida não será mais dor do que felicidade. Respondi que não sabia. Mas que sabia, isso, sim, que a poesia nasce do impacto não resolvido da sensibilidade com o real, por onde se passeiam as musas tentadoras e fugidias, sim, mas também onde acontecem embates da aveludada sensibilidade do poeta com tudo o que é áspero, crespo, anguloso, rígido. A poesia é murmúrio de almas em permanente tumulto.
PALAVRAS DESLAÇADAS
Foi na releitura de um seu belíssimo livrinho (La Terra dei Lotofagi, Milano, Vanni Scheiwiller, 1993) dedicado a Mécia de Sena (mulher do seu amigo Jorge de Sena), que a Luciana Stegagno Picchio me ofereceu, em Roma, no ano da publicação (1993), que tive a ideia de desenvolver um poema a partir de “Lotofagi”, uma sua breve poesia. O poema “O Tempo e a Palavra” (que também é uma modesta homenagem in memoriam) valoriza as palavras, dando-lhes o poder de criarem o passado, como ela diz. Mas a verdade é que no passado também às palavras lhes acontece deslaçarem-se. Também elas fazem parte do passado, sofrendo erosão, embora tenham um ilimitado poder de resgate. A pintura com que ilustrei o poema, “Palavras Deslaçadas”, representa-as, por isso, deslaçadas, enquanto o poema procura reconstruí-las para recriar esse passado à medida do poeta e do seu próprio presente. Para darem nova vida ao passado deslaçado. Utopia de poeta.
O BEIJO
O dia seis de Julho é o dia do beijo. Há outro dia, em Abril, que também é. Ainda bem. O beijo merece muitos dias, muitos meses, muitos anos. Até séculos. Mas não sei se os beijos em forma poética chegam sempre ao seu destino. Se é que eles têm destino marcado. Talvez não. Mas, se tiverem, podem não chegar. Andam muitos fantasmas no ar sempre prontos a interceptá-los, para os beberem. O Kafka testemunhou isso. E di-lo nas Cartas a Milena. Eles estão sempre famintos de beijos. Os fantasmas embriagam-se de amor e poesia, logo, de beijos cantados? Ou, simplesmente, esse é o seu alimento? Prazer ou sobrevivência? Talvez as duas coisas. O poeta, quando nasce, passa a trazer consigo um fantasma que o seguirá sempre, toda a vida. E onde há musas, há poetas e há fantasmas. Se o alimento dos fantasmas são mesmo os beijos que o poeta envia à musa, pode ele deixar de os dar, de os enviar? Não. Perder-se-iam os fantasmas (eles na vida multiplicam-se e precisam de muito alimento) e, consequentemente, o próprio poeta. É por isso que ele tem sempre de recomeçar a escalada ao Monte, como Sísifo. Um incansável produtor de beijos em forma de verso. Como se vivesse permanentemente em pecado e tivesse constantemente de se redimir através da poesia. O pecado inocente como forma de vida. Através de beijos poeticamente comprometidos. O preço a pagar? Sim, perdendo no trajecto os beijos que destina à musa. Talvez seja mesmo castigo. De algum modo tem razão o Emil Cioran ao falar de poética do fracasso. Mas felizmente que é poética, mesmo que seja do fracasso: supera-se no modo como o enfrenta. Faz da fraqueza força. E mais: partilha o que sente. Na partilha, o poeta redime-se, procurando seduzir. É a beleza que o salva. E ela cobre como um véu o sentir do poeta. O fingimento, de que se fala, está concentrado todo na forma e a verdade é a própria energia propulsora. O que o move. É isso? Não sei. Seria necessário perguntar ao fantasma de estimação… Mas será que ele não diria que vale mais um beijo do que mil palavras? Ou que há palavras que, afinal, valem mil beijos? Porque são dadas com a alma. Não sei o que me diria. O que sei é que o beijo é a poesia dos sentidos (Balzac) e que quem beija perde-se, como o poeta se perde (sai de si) quando entra em êxtase e diz o que lhe vai na alma. Perde-se na partilha. É como se no encontro do beijo as almas transmigrassem, desaparecendo as fronteiras corporais. Já não se sabe o que é de um e o que é do outro. O mesmo acontece na partilha poética, onde a componente física é a sonoridade, sopro físico da alma. A sintonia (a simbiose) que um poema pode provocar entre o criador e o fruidor é como a do beijo. O poema – lugar de encontro, de partilha e de abandono. O traço de união: a beleza.
FANTASMAGORIA
Cada verso é um beijo. Dado com a alma. Um poema é carícia feita de beijos. Mas pode nunca haver chegada: um beijo que nunca chega, a não ser com os olhos da alma, seja o primeiro seja o último. O poeta parte, ficando. Tal como a musa, que, partindo, fica na fantasia do poeta. E, por isso, ele leva a perda consigo e verbaliza-a, canta-a, partilha-a. Lapida-a como pedra preciosa. O poema “O Beijo”, que sempre publico no dia seis de Julho, é feito de beijos escritos. É uma longa carícia. O vento levou-os, mas não sei se, quando estão a ser levados para o seu destino, foram ou estão a ser bebidos pelos seus cúmplices, os fantasmas. Talvez nem tenham destino. Talvez sejam dados para se perderem no caminho. O beijo confunde-se com o processo criativo. A poesia, de certo modo, é fantasmagoria. Creio que foi o T.S. Eliot que disse, falando de Coleridge, que o poeta quando é visitado pela Musa atrai fantasmas que o hão-de perseguir durante toda a vida. E o Kafka, numa carta a Milena, diz que os beijos escritos são bebidos pelos fantasmas durante o trajecto. É mesmo fantasmagoria o ambiente em que a poesia acontece. E são beijos de verdade, os do poeta, apesar de ser fingidor. Se não fossem beijos de verdade, os fantasmas, enganados, morreriam à sede. Eles não podem sobreviver alimentando-se de simulacros. Mas, se assim fosse, também o poeta definharia. E a musa? Que seria da musa sem uns e outros? É ela que lhes dá vida e, por isso, sem eles, também ela definharia. Não poderia reproduzir-se. Está tudo ligado.
RAPTO DA ALMA
Apesar de haver outra, eu fixei-me nesta data, seis de Julho, vá lá saber-se por que razão. Talvez seja dos astros. Talvez seja das musas. Mas, se é verdade o que diz o Eliot, talvez seja da musa. Como poderia duvidar deste enorme poeta? Sim, é verdade que o beijo não é remédio que tenha contraindicações. Nem se lhe conhece efeitos de habituação ou perda de eficácia. Pode dar-se à vontade. E se o beijo físico requer consentimento, que o diga o Rubiales, o beijo poético é livre. Uma vez dado voa com o vento. Vai por aí, à espera de quem o acolha. Na verdade, o beijo é um rapto da alma. E também é um repto da alma. De repente, acontece. Basta o olhar para provocar estremecimento e o desejo de beijar. No primeiro beijo e por aí em diante. É um rapto e é um repto: físico, da alma, poético. Desde que seja beijo.
OS VERSOS SÃO BEIJOS
Os beijos vão com o vento e não se sabe para onde o vento os levará. E os fantasmas viajam com o vento. Porque sabem que os beijos escritos é assim que viajam. Os poetas dão assim, com a alma, os beijos que falharam, com os sentidos. Não sabem se chegarão até às musas, mas, mesmo assim, eles tentam. É no tentar que está o ganho. Tentações. Não conseguiram seduzir com os sentidos tentam com a alma. Tentam seduzir com a beleza. Tentam o rapto da alma. E, ao mesmo tempo, lançam um repto. Os beijos poéticos. Se, como dizia o senhor Honoré, o beijo é a poesia dos sentidos, então, a poesia é o beijo da alma. E é por isso que os fantasmas o podem interceptar. Eles gostam de beijos. E esse é o mundo deles. E também é o mundo dos poetas, que nascem da visita da musa. E do estremecimento que esse encontro provoca. E da vontade de beijar, que se lhe segue. Depois, vão por aí, como jograis. O seu destino é cantar até doer. E porque dói. O Cioran tinha razão. Tudo na vida é contingente, imperfeito e destinado ao fracasso. Mas felizmente que há a poesia (e em geral a arte) para nos resgatar. Sim, a ideia de que os versos são beijos é certeira. Os beijos resgatam. E se o primeiro beijo é dado com o olhar por que razão não poderíamos beijar com as palavras. No princípio, afinal, era o verbo. No princípio não se beijava? O beijo é como o verbo – conjuga-se. E há dias que são mesmo dias de conjugação. Por exemplo, o dia seis de Julho.
ABRAÇO
O abraço é um beijo conjugado no masculino.
ANARINA E A BRISA
Beijos enviados e recebidos da e na beira-mar. São mais frescos, em tempo de Verão. Há brisa, como no Nordeste do Bandeira e da Anarina. E é bom que o beijo chegue como brisa, suave, fresco. Os beijos da alma são assim. Quase se pode viver deles como da brisa de que o poeta, com a Anarina, queria viver. Porque perduram. Mesmo que fantasmas os bebam. Sobrevivem transfigurados, mas perduram. Estes beijos da alma são mesmo para comer e para beber. Mas não só pelos “subalimentados do sonho”. Também pelos que se banqueteiam de sonho. Os fantasmas, esses sim, precisam deles para sobreviver, não porque sejam subalimentados do sonho, mas porque habitam o próprio sonho. A pintura (“O Beijo”) alude a isso mesmo: o beijo como alimento da alma. Dá-se e recebe-se… sobrevive-se.
A FRONTEIRA
O beijo é dado às portas do paraíso? Talvez. É um território de fronteira. Sensorial e espiritual. A poética dos sentidos. O dia do beijo é todos os dias, embora possa ser mais de uns dias do que de outros. Acontece ao ritmo da emoção, da pulsação sensorial e dos chamamentos da alma. Beijar é como estar na fronteira. E a tentação é passar para o lado de lá. Pecado.
PRETEXTO?
Não sou grande adepto dos dias especiais. Mas no caso do Dia Internacional do Beijo acabo sempre por usá-lo como pretexto para viajar até ao centro desta bela manifestação de afecto humano através da poesia, assumindo-a como se, neste dia, eu próprio sentisse uma absoluta necessidade interior de beijar, um autêntico imperativo. Assim, a efeméride ganha substância, sentido e beleza, tudo o que o beijo encerra em si. É um pretexto porque, afinal, todos os domingos beijo com os versos que escrevo e partilho, se é verdade que a poesia é um beijo da alma, tal como o beijo é poesia dos sentidos. Para mim, a poesia resulta de uma exigência interior. Pois também esta, sobretudo esta, a do beijo, resulta de uma incontornável exigência interior. E é também um acto de liberdade. Beijar assim, sem esperar que o beijo seja retribuído. Mas, se for, tanto melhor.
BEIJAR COM PALAVRAS
Sintetizar o universo que um beijo encerra é praticamente impossível, mesmo para um poeta. “E mesmo assim eu tentei”. Talvez porque o receio de que o beijo não chegue leve a que ele se concretize plenamente nas palavras com que é dado, e em todas as dimensões possíveis. Procurar com palavras o que não se consegue com actos, de modo a que as palavras se tornem actos, a que cada verso se transforme em beijo e o poema num demorado e apertado abraço. Falo muitas vezes na performatividade da poesia. E aqui, no beijo escrito na pauta melódica da poesia, ela é intensa. Sente-se. “How to do things with words” reza o título do livrinho do Austin. Nada melhor, para isso, do que um poema. Dizer num poema “amo-te” é bem mais performativo do que dizer “está aberta a sessão”. Trata-se de beijar com a alma, na ausência do corpo. Não podendo escrever a poesia com os sentidos, dá-se o beijo com a alma… através da poesia.
JARDINS
A natureza que se exprime nos jardins dos poetas é sempre especial. Os poetas cuidam dos jardins e regam-nos com palavras. O idiota olha para o jardim do poeta e diz: “precisa de ser regado”, sem olhar para o seu, onde as flores estão todas murchas.
INTROSPECÇÃO
Os versos do Guerra Junqueiro no poema “Idílio” (“A Musa em Férias”), em leitmotiv do poema “A Visita”, enaltecem o jardim, o cantado e o pintado (“A Musa e o Jardim”). E é verdade que no jardim corre vida, tal como ela é – renovação, mas também frustração. É a beleza de tudo o que é vital e contingente, sujeito a erosão. O poeta assistiu a uma transfiguração e julgou que com a musa em forma de arbusto a ser assaltada por rosas também o estro se esfumava. Há sempre esse risco, pois há. Mas a fragrância da vida põe-lhe remédio. E ele lá recupera o que julgava estar a perder. E canta, canta o regresso da musa e da inspiração. Introspecção? Sim, o que é a poesia senão uma estética introspecção estimulada pelos aromas que circulam na sua vida, na vida do poeta? E, com os aromas, as musas, que não lhes (aos perfumes) resistem. A relação do poeta com as suas musas, mas há sempre uma que domina (neste caso, a Erato), é sempre muito delicada e acontece sempre num ambiente de um certo velamento, ou fingimento, para que ele possa chorar a sua dor sem suscitar compaixão, cobrindo o choro de beleza musical. É a poesia que lhe permite isso, a beleza e a musicalidade do choro. O poeta confunde-se com as palavras com que age, esconde-se e revela-se nelas. E elas são a sua própria fronteira. Prosseguir para além delas é sempre perigoso… para a sobrevivência do poeta. Mas a tentação existe…
TRANSFIGURAÇÃO
No poema “A Visita” fiquei-me pela “ilha dos amores”, o andamento nono do poema (o último), o meu jardim encantado, onde um loureiro dá uvas e também pode dar rosas. E quando isso acontece o poeta é provocado para cantar o insólito, mas também fica um pouco perdido porque lhe parece que a sua musa se transfigurou. Tenta cantar, mas é-lhe mais difícil. Ele precisa mesmo que a musa o olhe nos olhos e lhe diga: “canta, poeta, canta para mim”. Mas, transfigurada, ele (quase) não a reconhece. Só os aromas do jardim o resgatarão, porque onde há perfumes há musas e ele, inebriado, sente a sua presença e recomeça a cantar. Só depois percebe que também o loureiro precisa de rosas, precisa do aroma do jasmim e até de uvas. Que ele ganha vida assim. Transfigura-se e provoca espanto no poeta. Afinal, não são só os filósofos, também os poetas são estimulados pelo espanto. Na poesia diz-se estremecimento. É mais sensitivo. Mas equivale ao espanto. Mistérios da poesia. Só geríveis com a fantasia. O arbusto está ali e fala, tem olfacto, visão e acasala com roseiras ou com videiras. Embriaga-se com o perfume do jasmim e engravida do sol que entra por ele adentro. É um ser vivo. E o poeta sabe disso. Por isso, quando vai ao jardim nunca sabe o que acontecerá. Certamente poesia, mas que poesia nunca sabe. Serão os aromas a decidir. Eles embriagam e será nesse estado que o poeta cantará. Dionísio, o reino de Dionísio. Só depois chegará Apolo.
INQUIETUDE
As musas são imprevisíveis. Oh, são mesmo. Os poetas vivem em permanente sobressalto. Nunca sabem o que pode acontecer. E sem elas não há poesia. Mas eles também sabem que elas são perdidas por aromas, por perfumes. Por flores. E que não resistem a um perfume acre e intenso. É por isso que tenho jasmins no meu jardim. Aquele aroma é potente e atrai-as, sobretudo ao entardecer. Mas, mesmo assim, a vida de poeta é uma inquietação permanente. Um desassossego. É como tudo na vida. Tudo é contingente. Mas é claro que o poeta tem recursos que dependem só dele. Nem poderia ser de outro modo. Conserva na memória as imagens mais impressivas da sua tumultuosa vida e dispõe do mecanismo da “moviola” para rever esses fragmentos de vida vivida e para os converter num filme poético. Os aromas que andam no ar também atraem os poetas e não só as musas. E eles estimulam-nos. Mas, como na vida, nada é seguro. É por isso que cada poema é um milagre. E os poetas acreditam em milagres. E em fantasmas. E as musas são como as fadas. São rápidas e imprevisíveis, mas também elas dependem dos poetas, dos fantasmas e dos milagres. Esse é também o mundo delas. Por isso não há razão para nos inquietarmos se algum poema denunciar instabilidade na vida poética do poeta. Os milagres acabam sempre por acontecer. Haverá sempre um perfume que inebria uma musa e a atrai ao poema. E lá estará o poeta para o compor.
A RESSURREIÇÃO DO POETA
A poesia tem diversas camadas de subjectividade, do sentir aos recursos estilísticos. E ao ler o que uma leitora me disse sobre o perfume dos jasmins (os versos exalam intensamente o acre perfume do jasmim) senti como real a dimensão performativa da poesia. Talvez a musicalidade, a toada, a melodia ajudem a isso. Sim, acho mesmo que cada poema é um milagre. Nele o poeta “ressuscita”, reinventa-se e no fim nem sabe bem como é que tudo isso aconteceu. E até chega a olhar para o poema como algo que lhe é exterior e até estranho, apesar de não ser. Às vezes lembro-me da doutrina da predestinação e do modo como descobrimos se fomos tocados pela graça. Claro, aqui num plano integralmente laico. Talvez seja o poder de um sentimento muito forte que nos atravessa como raio e que fica registado em nós como energia em tensão. Uma experiência seminal que acciona de modo especial a sensibilidade e que fica como se fosse um dispositivo congénito. Accionado o dispositivo, ele permite pôr em movimento a maquinaria poética. Por exemplo, o dispositivo do amor.

“O Silêncio e o Tempo”. Detalhe
A REPÚBLICA E O REPTO DEMOCRÁTICO
As Legislativas em França
Por João de Almeida Santos

“Surprise!”. JAS. 07-2024
MUITOS COMENTADORES (a quase totalidade, diga-se), vistos os resultados da primeira volta das legislativas, não só anteciparam imediatamente uma segura vitória do Rassemblement National (RN), sem tomar na devida consideração as características do sistema eleitoral francês, mas também criticaram fortemente Emmanuel Macron por ter convocado eleições. Mesmo depois de conhecidos os resultados, o Director de “Le Monde”, Jérôme Fenoglio, em Editorial, classificava a dissolução da Assembleia Nacional como “inconséquente”. Sem razão, no meu modesto entendimento. Duplo erro, o destes comentadores, como se viu e se tomarmos na devida consideração os resultados eleitorais finais. Depois daquela vitória do RN nas europeias (com 31, 37%), o PR não podia continuar como se nada tivesse acontecido. Ficou gravemente ferida a legitimidade política da maioria e seria necessário confrontar os eleitores franceses com a própria responsabilidade do voto nas europeias, pondo em cima da mesa a questão do rumo político a seguir. Mas, não, a visão de muitos comentadores reduz-se a uma mera visão da política como cálculo em função do poder exercido ou a exercer. Ou a legitimidade do poder como circunstância puramente instrumental. Legitimidade que se está a revelar cada vez mais como legitimidade flutuante e que é necessário tomar na devida consideração para que não se entre em risco de anomia política e social. E a França sabe bem o que isso representa. As eleições não servem somente para designar representantes, elas servem também para lhes conferir legitimidade. Macron, embora tenha tido certamente em consideração a natureza do sistema eleitoral e o histórico do sistema eleitoral francês, e tendo em consideração os resultados das europeias, sentiu que chegara o momento de reconduzir a política institucional à vontade dos franceses, expressa em eleições. E ficou, de novo, claro que a direita radical crescera muito e que esse crescimento, que foi evidente nas europeias, iria condicionar de forma significativa a vida política francesa. Havia, pois, que perguntar aos franceses se confirmavam ou não o que se verificara nas recentes eleições. O sistema eleitoral francês, maioritário em duas voltas, é, neste sentido, muito interessante porque se a primeira volta permite um voto de convicção ou de manifestação de descontentamento, a segunda volta permite um voto de responsabilidade. E foi isso que aconteceu, apesar de o RN ter tido, de longe, o maior número de votos: mais de 10 milhões.
Macron não tem, pois de “s’incliner”, como quer Mélenchon, porque fez o que devia perante a efectiva alteração da relação de forças política e o consequente perigo de uma progressiva degradação política do país. Degradação induzida pela imagem de que o RN já representaria politicamente a maioria dos franceses. Houve, pois, uma “clarification” que confirmou, sim, a crescente força de RN (nas eleições de 2022 tivera 89 deputados), mas não ao ponto de ser politicamente maioritária no país, pese embora o alto número de votos conseguido.
I.
O RN de Marine Le Pen/Jordan Bardella ficou muito longe da ambicionada maioria absoluta na Assembleia Nacional, deixando de poder reivindicar a formação de um governo liderado por Jordan Bardella e ficando, de novo, periclitante a meta fundamental de Marine Le Pen: chegar ao Palácio do Eliseu. O RN aumentou consideravelmente a sua representação na Assembleia Nacional, mas nem sequer se confirmou como primeiro bloco político, tendo ficado em terceiro lugar, depois da Nova Frente Popular (NFP) e do ENSEMBLE, de Macron, ou seja, longe dos valores que lhe permitiriam chegar ao Hotel Matignon. A verdade, todavia, é que RN confirmou, com resultados muito consistentes, a tendência que se tem vindo a verificar em toda a União Europeia: o reforço substancial da direita radical nos mais importantes países da União e a sua caminhada para o poder. Essa tendência de algum modo acabou por se manifestar também no BREXIT, mas ficou com reduzida expressão nestas eleições. Reform UK, de Nigel Farage ficou-se pelos 5 deputados, apesar dos mais de 4 milhões de votos, equivalentes a 14,3%. Também aqui o sistema – maioritário uninominal a uma volta: “first-past-the post” – penalizou a extrema-direita de Farage.
II.
Mas para que não fiquem dúvidas sobre o que se passou em França na primeira volta das legislativas, vejamos alguns dados.
- França – Legislativas 2024, convocadas pelo Presidente Macron depois dos resultados das recentes e surpreendentes (ma non troppo) europeias de 2024 e de uma expressiva vitória da direita radical (RN).
- Eleitores: 49, 3 milhões.
- Sistema eleitoral: uninominal maioritário em duas voltas: são eleitos na primeira volta os candidatos que obtiverem maioria absoluta, indo à segunda volta os que tiverem obtido pelo menos 12,5%, disputando-se a competição entre 1) os dois mais votados; 2) os três que superaram a fasquia dos 12,5% (“triangulares”); 3) os quatro que também obtiveram este resultado (“quadrangulares”). 1) 190; 2) 306; 3) 5.
- São 577 os círculos eleitorais e, portanto, 577 os deputados, fixando-se, pois, a maioria absoluta em 289 mandatos.
- Votaram cerca de 33 milhões de eleitores (66,71%). Abstiveram-se cerca de 16 milhões de eleitores (33,29%).
- Foram eleitos directamente, na primeira volta, 76 deputados (em 577).
- O Rassemblement National, aliado à facção dos Republicanos de Eric Ciotti, obteve 33,35%, com cerca de 10,7 votos milhões de votos, tendo, na primeira volta, eleito 39 deputados.
- O NFP, esquerda unida em frente popular, obteve 28,28%, com mais de 9 milhões de votos, tendo, na primeira volta, eleito 32 deputados.
- O partido do Presidente, Ensemble, obteve cerca de 21,8%, com 6,9 milhões de votos, tendo, na primeira volta, eleito dois deputados.
- Os Republicanos (que não se aliaram com RN) obtiveram 7,25% cerca de 2, 3 milhões tendo, na primeira volta, eleito 1 deputado.
III.
Pelo que se vê, tudo ficou por decidir, dependendo os resultados das alianças que, na segunda volta, fossem efectuadas em cada um dos 577 círculos eleitorais. E as desistências que viessem a verificar-se, com o objectivo de barrar o caminho ao RN, seriam decisivas. Estas desistências dos candidatos que não estivessem em condições de ganhar foram feitas em função de uma variável central: a da direita radical. Assistimos, assim, na segunda volta, a uma redução das 306 “triangulaires” para 89. Em nome da democracia e dos valores da República, mais do que em função de um concreto programa político. Ou seja, na segunda volta a polarização intensificou-se como resultado da dupla vitória da direita radical (nas europeias e na primeira volta), um avanço enorme em relação a todas as anteriores eleições. O centro do debate foi, pois, a direita radical, o que pode ser considerado como a sua terceira vitória: a polarização integral da atenção social e política sobre si. É certo que esta polarização, apesar de lhe ter confiado um maior número de votos, se virou contra ela (Bardella consideraria as desistências à esquerda como resultado de uma aliança da desonra), mas também é certo que a ajudou a crescer eleitoralmente de forma muito significativa. “A maré sobe” e a “nossa vitória só ficou diferida” no tempo, dizem. RN é, de facto agora o maior partido francês (com 126 deputados), seguido do “Renaissance”, de Macron (com 102), de “La France Insoumise” (com 74), do PS (com 59), de “Les Républicans” (com 45), de “MoDem” (com 33), de “Les Verts” (com 28), de “Horizons” (com 25) e, finalmente, do PCF, com 9. Este o quadro partidário que resultou destas eleições. Tudo isto, em matéria de mandatos, apesar de o RN ter obtido na segunda volta mais de três milhões de votos e mais de 11 pontos percentuais sobre o NFP e sobre ENSEMBLE (mais de 10 milhões de votos contra cerca de 7 milhões de cada uma das duas outras formações).
IV.
Sobre as ideias fundamentais que o RN tem vindo na avançar constata-se que alinham com o que em geral a direita radical vem defendendo e propondo: controlo radical da imigração (a linha estratégica dominante de RN, como, de resto, de toda a direita radical), o reforço da componente nacional no processo europeu (a “préférence nationale” ou a mais suave “priorité nationale”, que “reste le coeur idéologique de son project”, como se lê no manifesto anti-RN, assinado por mil historiadores – Le Monde, 03.07, pág, 25), a abolição do “jus soli” como base para a aquisição da nacionalidade francesa, a limitação do acesso a funções do Estado aos possuidores de dupla nacionalidade e, em geral, como disse, a ideologia da direita radical, ou seja, “un populisme autoritaire, où les contre-pouvoirs sont affaiblis, les oppositions muselées, et la liberté de la presse restreinte” (sobre a doutrina veja-se o meu livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo, S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, versão digital, pp. 79-118). Acresce ainda que à doutrina se juntam as afinidades electivas com o senhor Viktor Orbán e com o senhor Putin. Apesar de programaticamente o RN afirmar que “nous ne sommes pas un parti d’idéologie, mais un parti d’action”, nisto sendo parecido com Fratelli d’Italia, e inspirando-se na famosa tradição da direita francesa, a “Action Française”, de Charles Maurras (politique du fait e não politique des idées), transcrevo um curto extracto de uma entrevista do guru da direita radical Alain de Benoist, que inspira também Aleksandr Dugin, o filósofo putiniano de serviço, e que sintetiza a filosofia da direita radical: “Nous vivons aujourd’hui des formes nouvelles de tribalisation et d’ ‘archipélisation’ (Jérôme Fourquet). La cause essentielle en est que les formes organiques de vie communautaire ont été systématiquement détruites par la modernité. La société prime désormais sur la communauté, et cette société est une société d’individus. Pour les libéraux, toute analyse de la vie sociale relève de l’individualisme sociologique. L’idéologie des droits de l’homme, qui est la religion civile de notre temps, professe pareillement que les pouvoirs publics doivent faire droit à toutes les revendications individuelles, ce qui aboutit nécessairement à la guerre de tous contre tous” (http://breizh-info.com/, de 19.06.2024; itálicos meus). O adversário é, pois, o liberalismo, o iluminismo e as cartas universais de direitos, de resto, na linha do velho romantismo do século XIX. Mas Benoist, na entrevista, acrescenta ainda duas ideias que na sua opinião exprimem a orientação estratégica do RN: “l’effondrement du centre” e “absorber ses concurrents”. A derrocada do centro e a absorção dos seus concorrentes. Mais claro do que isto não poderia haver. A filosofia de fundo que inspira a direita radical e o RN é a que deste modo é formulada por Alain de Benoist.
V.
A vitória estrondosa do Labour no Reino Unido, com mais de 46 milhões de eleitores e mais de 28 milhões de votantes, correspondentes a pouco mais de 60%, é muito mais expressiva do que a vitória da esquerda unida em França, mas, mesmo assim, é significativo que em dois grandes países europeus a esquerda tenha ganho as eleições, num caso, ao centro-direita (conservadores) e, no outro, à direita radical, que, como disse, já tinha ganho as europeias e a primeira volta das legislativas. Apesar de o Reino Unido já não fazer parte da União Europeia, os resultados têm uma importância estratégica também para a União, já que, combinados com os resultados verificados em França, podem vir a induzir uma dinâmica de recuperação do centro-esquerda, hoje em evidente crise. Trata-se de sinais muito relevantes. Disso não há dúvida, qualquer que seja a leitura e o distanciamento crítico relativamente ao estado “clínico” ou crítico do centro-esquerda. Em França, é preciso notar a lenta, mas já significativa, recuperação do partido socialista de Olivier Faure, ao obter, com Raphael Glucksmann (filho do filósofo André Glucksmann, autor do famoso e belíssimo livro Le Discours de la Guerre, 1967) um razoável resultado nas europeias, 13,83%, e, agora, nas legislativas, com 59 deputados, menos 15 do que os que La France Insoumise conseguiu.
VI.
Em relação ao Reino Unido, parece-me que este resultado do Labour talvez tenha a ver, mais do à primeira vista pode parecer, com as consequências do BREXIT e com a responsabilidade que os conservadores tiveram nessa decisão, sem desconsiderar, todavia, as peripécias do governo de Boris Johnson, designadamente na gestão da pandemia, e a própria transição, com o brevíssimo e impreparado governo neoliberal de Liz Truss, para Rishi Sunak. Alguém que teve altas responsabilidades no partido conservador, Ruth Elizabeth Davidson, Baronesa Davidson of Lundin Links, dizia que os conservadores irritaram os pensionistas, os que têm hipotecas, os jovens, os que queriam permanecer na União Europeia e os próprios “brexiters”, por se ter verificado o contrário daquela que fora a promessa fundamental no referendo: a contenção drástica da imigração (The Times, 05.07.2024). Na verdade, os dados são muito significativos – a imigração parece mesmo ter aumentado muito, sobretudo a que vem de países não europeus. E também é verdade que quase todos os índices económicos do Reino Unido ficaram fortemente negativos, após 14 anos de governo Tory. De qualquer modo, parece ter havido nestas eleições uma orientação central: a de tirar os conservadores do poder. De referir ainda a importância que teve neste processo a mudança de líder e de orientação política do Labour, relativamente ao insustentável radicalismo do Labour de Jeremy Corbyn (entretanto eleito, nestas eleições, como independente). De certo modo, Karmer regressou à política moderada da terceira via e também essa orientação ajudou ao resultado.
VII.
Mas vejamos, finalmente, o que aconteceu em França, agora, na segunda volta. Votaram cerca de 67% dos eleitores, dando a vitória à Nova Frente Popular, com 182 mandatos, e atribuindo 168 mandatos ao bloco político do Presidente, ENSEMBLE, 143 ao Rassemblement National e 45 aos Republicanos. Nenhum destes partidos ou blocos políticos obteve a maioria absoluta e agora o Presidente deverá desenvolver negociações para a formação de um novo governo que tenha condições de durabilidade até às próximas presidenciais, em 2027. Mas uma coisa é certa: o voto da primeira volta, aquilo que eu designo por voto de convicção e/ou de descontentamento deve fazer reflectir sobre as razões da desafeição de tantos franceses em relação ao establishment. Ainda que os franceses tenham votado na segunda volta de acordo com a “ética da responsabilidade”, o sistema político não se alimenta exclusivamente dos valores republicanos. O voto de convicção e/ou de descontentamento foi muito claro e isso merece a maior das atenções. O sistema político deve poder funcionar com programas políticos concretos que mereçam o reconhecimento da cidadania. E isso passa antes de mais por uma nova visão do centro-esquerda (e do centro-direita) acerca da sociedade, ao contrário do que tem vindo a acontecer e que tem dado origem ao crescimento dos movimentos do populismo autoritário. O que não pode acontecer é um deslize para o radicalismo de que o senhor Mélenchon deu provas logo no discurso do dia da vitória. Porque é precisamente esse radicalismo e essa auto-suficiência ideológica que alimentam o avanço da direita radical. Nem assepsia de valores políticos em nome da governança, da tecnogestão da sociedade ou da macroeconomia nem radicalismo ideológico ou populismo de esquerda. RN já veio dar sinais de que também no seu discurso algo tem de mudar, uma indicação vinda do círculo restrito de Marine le Pen (Bruno Bilde), apesar do volume impressionante dos votos que conseguiu quer na primeira quer na segunda volta. E, todavia, uma outra conclusão é também certa. Com estes resultados, no Reino Unido e na França, o senhor Putin e o senhor Orbán não se podem dar por satisfeitos. Esta também foi uma derrota deles. Sim, é verdade, mas a construção de uma política apelativa e justa é muito mais difícil do que a união perante um ameaçador ”inimigo externo” dos valores da República. Raphael Glucksmann, o eurodeputado que liderou, com resultados muito interessantes, o bloco socialista às europeias (“Réveiller l’Europe”, com 13 mandatos, igualando o bloco de Macron e superando LFI, que teve 9 mandatos), já veio sugerir uma “mudança de cultura política” ao mesmo tempo que o líder do PS, Olivier Faure, dizia que “ce vote doit ouvrir une refondation”. São intenções, mas indicam vontade de mudar, depois de um longo período de insignificância política. De qualquer modo, o que aconteceu em França é ao mesmo tempo animador e preocupante. Animador, porque, em situação-limite, os valores da democracia e da República acabaram por se impor fruto da assunção clara de uma “ética da responsabilidade”, preocupante porque numa segunda volta em que os votantes foram 28,87 milhões, o partido de Marine le Pen (e os amigos republicanos do senhor Éric Ciotti) obteve mais de 10 milhões de votos. Só a natureza do sistema eleitoral e a determinação republicana e democrática dos franceses puderam evitar o que muitos já temiam, a chegada a Matignon do senhor Bardella e, mais tarde, a chegada de Marine le Pen ao Palácio do Eliseu. O que representaria um sério golpe para a França democrática e para a União Europeia. Já acontecera nos Estados Unidos algo parecido (embora em sentido contrário), devido, também aqui, ao sistema de eleição do Presidente – Hillary Clinton perdeu as eleições para Donald Trump, apesar de ter obtido quase mais três milhões de votos. Que tudo isto sirva de lição para os que se encontram obrigados a encontrar uma política de projecto para a França, capaz de evitar que este, afinal, tenha sido um acontecimento que somente manteve diferida no tempo uma inevitável vitória da direita radical. JAS@07-2024

FRAGMENTOS (XIII)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos

“Palácio das Artes no Monte Parnaso”. JAS. 07-2024
A ARTE E A VIDA
A PROCURA DO BELO não é casual, desinteressada, técnica, mas responde a uma exigência interior. Quer de quem produz quer de quem frui. Bem sei que os artistas sempre fizeram obras por encomenda. Por exemplo, sobre motivos religiosos. E que têm de sobreviver. Mas, na essência, a arte, e em particular a poesia, resulta de um encontro sofrido com o mundo ao qual ela procura dar resposta num plano superior, recriando-o com a sua linguagem. A arte não está confinada no virtuosismo. Na habilidade de execução. É mais do que isso. A escolha originária do caminho da arte responde, sim, a um imperativo interior. É nesta decisão que reside o essencial. E até diria que ela também resulta de um compromisso existencial.
A ARTE E A DOR
A arte suspende, provisoriamente, as dores da vida, pois ela atinge o plano mais elevado da própria humanidade. Desprende-se do contingente e da sua rugosidade para se elevar ao plano do sublime onde não encontra corpos rígidos e opacos onde embater e de onde resulta sempre dor. Mas não se trata de uma fuga, porque ela, a arte, incorpora a dor, embora a transfigure, a estilize, a verbalize (no caso da poesia), dominando-a com as formas com que a exprime. A dor como que fica encapsulada numa esfera de cristal. Está lá, mas perdeu a rugosidade, as arestas que ferem. E tem luz refractada. É claro que a sua presença gera sempre uma certa melancolia, mas é uma doce e luminosa melancolia. Lá no alto do sublime a viagem é suave e convida à contemplação. Mas para lá chegar sobraram dores, suor e lágrimas. E também fantasia, tecnicidade e inspiração. Tudo isto dá um poder imenso à palavra poética, pois ela aveluda a rugosidade e converte a contingência em universalidade, promovendo uma feliz e luminosa partilha em comunidade, a de todos os que nela sentem o que um dia sentiram.
ARTE E PREDESTINAÇÃO
Predestinação? O poeta nasceu para um dia estremecer perante a visão da musa e receber como dádiva o estro… para a cantar. Um dom, uma missão e um “castigo”. Subir sempre, qual Sísifo, ao Monte Parnaso, carregando palavras que hão-de ser presentes a Apolo para serem convertidas em canto, em poesia. Mas nem todos são admitidos à presença de Apolo ou sequer a subir ao Parnaso. Elevar-se sobre a dor não é para todos. Não se herda nem se adquire através do estudo. É um dom. Uma graça recebida. Um destino traçado e marcado pelos deuses. A que o poeta fica submetido. É por isso que a vida de poeta não é fácil.
O DESTINO DOS POETAS
O deus é Apolo. O poeta sente, sofre, sente-se náufrago nesse mar alteroso da vida. E pede ajuda aos deuses para que o libertem desse destino infausto do fracasso. Os deuses são exigentes, mas dão-lhe a oportunidade de ir ao oráculo do Parnaso ouvir vozes e colher inspiração. E, então, ele vai por aí, como Sísifo, carregando palavras para que no Monte ganhem sentido, sem saber qual será o desfecho final das caminhadas em subida. Suspeita que não terão fim, mas não sabe. Por isso, tem de subir e descer constantemente o Monte até que os deuses determinem um final. Se determinarem. É o destino dos poetas. Porque entraram num mundo que é maior do que eles. Mesmo assim, e por esse mundo ser o que é, eles podem dizer, como Giacomo Leopardi, que “il naufragar m’è dolce in questo mare” (“L’Infinito”).
MULHER-NUVEM
No certo poema, “Nuvem”, fala-se de uma mulher-nuvem que o poeta vê com nitidez com o olhar da alma. O pintor oferecera-lhe silhuetas trazidas do jardim das cores, materializando, de certo modo, o que o poeta vê nas nuvens, estimulado pela pulsão que o leva a procurar a musa nos céus do desejo. É intensa a luz dos seus olhos negros flamejantes que lhe iluminam o corpo, que ele vê com nitidez, vagando nesses territórios intangíveis da memória dos afectos. Também o poeta poderia dizer o mesmo que um Amigo lhe disse: “o que eu demorei para aqui chegar!”. Mas tinha mesmo de chegar, nesse excesso de palavras com que sempre a procura, onde a interpela e onde, qual divã, a traz à palavra expressa e à luz da consciência. Onde a verbaliza. Onde lhe dá vida e a coloca ali, perante si, para, seduzido e sedutor, a olhá-la nos seus olhos negros e, assim, atravessando a imensa fronteira da ausência e do silêncio, entrar em doce e luminosa melancolia poética. E em diálogo com ela. O poeta antecipa nestes andamentos o que julga que o senhor e príncipe do espaço e do tempo um dia lhe trará: a atenção da musa aos seus cantos. A verdade é que ele canta como se ela o esteja a ouvir, submetendo-se aos desígnios do destino e sabendo que também ela estará sujeita a ele, ao destino. Sai de si, entrega-se ao vento que passa e deixa que o seu canto a seduza quando os deuses o acharem e se o acharem oportuno. Entra num mundo que já não lhe pertence e onde as leis são ditadas por Apolo, por Athena e, claro, por Aphrodite. O que possa um dia acontecer será simplesmente por partilha, já impessoal, a da comunidade dos amantes do belo. Mas, ainda do lado de cá, ele sente-se realizado por poder participar num sofisticado processo que é maior do que ele. E cujo desfecho fica entregue ao destino. A sensação que invade o poeta é a de missão cumprida… por momentos.
O POETA E O PECADO
Mereces sempre a minha atenção, mesmo quando não me adjectivas com qualificações certeiras – foi o que um dia disse a um Amigo que me comentava um poema. Sim, continuei, o que me dizes é verdade: as mãos pecaminosas do poeta são as palavras. É com elas que quer acariciar o rosto intangível da musa. É com elas que a olha de frente e procura seduzir esses seus olhos negros, que são a luz do seu corpo. É com elas que quer acariciar suavemente a sua pele, o seu corpo, a sua alma. E nunca se trata somente de pura fantasia, embora, como esse Amigo lhe dizia, ela como que se dilui ou dissimula no eu lírico do poeta. É recriação e responde ao seu desejo. O ser recriado é como que o resultado, por um lado, do desejo, uma sua projecção, e, por outro, da figura da musa, gravada na memória activa dos afectos. Tudo se passa como se o poeta estivesse perante a moviola: quando o poeta lá vai é como se revisitasse o filme da sua vida. Para depois o contar com a arte da palavra. A Yourcenar/Michelangelo dizia que o amante recriado pela arte era plus beau que soi-même. Sim, um desejo tão intenso tem mesmo de dar origem à superação da realidade. A arte acrescenta valor ao real, valor estético. E é por isso que é poderosa e sedutora. E tem poder de resgate. Sim, são muitos os adjectivos que podem ser utilizados para descrever esse complexo que intervém na composição poética. São muitas coisas ao mesmo tempo, tudo a funcionar em simultâneo. A música intensifica-se somente na parte final da composição, como não poderia deixar de ser. Como que anima e veste todo o poema, reforçando o seu poder de impacto sensorial. É ela que dá força performativa ao poema.
SENSUALIDADE
Sobre a sensualidade poderia dizer o seguinte: é sempre algo que mexe com o pudor do poeta e que ele “arranca sempre a ferros”, no poema. É uma fronteira tão sensível e delicada que ele tem receio de a atravessar, expondo a sua intimidade, embora seja sempre atraído por ela. Mas, quando a pulsão é mais forte, ele deixa-se ir. Não resiste. E diz: “que se lixe o pudor”. É um acto de liberdade. A que tem direito. A performatividade atinge aqui o seu zénite.
PRIMUM CARMINA FACERE DEINDE PHILOSOPHARI
Eu creio que dizer em poesia é mais difícil, complexo e delicado do que dizer em prosa. Também interpretar a poesia é mais difícil, complexo e delicado do que interpretar a prosa. Por uma simples razão: a poesia não descreve, é acção, é lamento ou grito de alma, é sangue, é volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. E dói nas veias, é amargo quente, angústia rouca e os versos caem gota a gota do coração. O poeta escreve os seus versos “como quem morre”. É isto o que diz o grande Mestre Manuel Bandeira, no poema “Desencanto”. Para entender a poesia é, pois, preciso sentir, sofrer, como quem grita a dor que o poeta sente, fazendo-a espontaneamente sua. Em boa verdade, nem se trata bem de entender, mas sim de partilhar, de sintonizar. Pelo contrário, entender o que se diz sobre a poesia talvez seja mais fácil, ainda que esta escrita quase sempre deslize para o verso e, às vezes, quase também caia gota a gota do coração. Como dizia o Edgar Allan Poe, os poetas falam melhor da poesia do que os que simplesmente a analisam. Porque a sentem por dentro. Porque têm como que um dispositivo natural (ou mesmo adquirido, quando estremeceram por uma visão “demolidora” da sua sensibilidade) que regista o que outros não conseguem registar. Entender a poesia através de um discurso fragmentado e fragmentário, vindo de alguém que se interpreta a partir de um ponto exterior a si, enquanto poeta, mas sem deixar de o ser no próprio acto dessa escrita fragmentária, talvez seja possível e até desejável, embora aqui se trate de uma duplicidade perigosa porque demasiado comprometida. Palavras em causa própria. Pelo menos, salva-se a dimensão dionisíaca ou pulsional do exercício discursivo. A verdade é que a mãe desta prosa, vinda de poetas, acaba por ser sempre a poesia. Mesmo que se corte o cordão umbilical, a filiação e a matriz estão lá sempre, continuam… até como património. Eu, quando me comento, procuro sintonizar comigo próprio, enquanto poeta. E quando pinto também. Talvez exagere, ao dizê-lo, mas sinto-o: a poesia é a madre de todalas as artes e até mesmo “a mais filosófica de todas as formas de escrita” (Aristóteles, segundo E. A. Poe). E diria, ainda, glosando a frase atribuída habitualmente a Thomas Hobbes: primum carmina facere deinde philosophari. Ou: no princípio era a poesia (o verbo poético). Prima furon i versi, glosando Galileo Galilei (“prima furon le cose”). É assim. Talvez seja assim.
FRUIR A BELEZA
Sim, essa prosa fragmentária sobre a poesia distancia mais do que a própria poesia, para quem a lê (e não tanto para quem escreve, enquanto poeta), porque coloca o leitor numa posição exterior à de fruidor directo de beleza, da dor esteticamente convertida, estilizada e sensitivamente partilhada. É isso, creio. JAS@07-2024

FRAGMENTOS (XII)
Para um Discurso sobre a Poesia
João de Almeida Santos

“Oráculo”. JAS. 06-2024
RECUSA OU FALA DA MUSA?
HÁ SEMPRE UMA HISTÓRIA que inspira o poeta. Algo que a sua sensibilidade registou. De certo modo, as histórias são sempre também suas. Porque as assume poeticamente como suas, como expressão do seu sentir ou mesmo como grito de alma. Precisamente porque algo fez disparar a sua sensibilidade. Há silêncios, há palavras trocadas, “intensities” evocadas, há interpretação do silêncio (recusa ou a fala da musa?), há o seu eco nas palavras do poeta… Mas de nada vale perguntar-lhe sobre “estados de facto”, sobre referentes, porque a resposta será sempre a mesma. E isso não importa, porque o que importa é o que a sensibilidade registou e a fantasia recriou. É essa a conversa que importa. Os poetas não sabem falar em prosa. Não se ajeitam com a prosa. O poeta é como que um “constructo” da própria poesia, o seu correlato, um “derivado”. Não existe fora da poesia… e sem musa. Por isso, a sua existência é indissociável delas. Querer dar vida a um poeta fora da poesia é como alimentar um peixe fora de água. J´ºa se sabe o destino. Perante um estímulo, a sensibilidade só dispara se já estiver inscrita prévia e geneticamente no modo de ser poético. O registo sensível é poeticamente modulado. Não se pode pedir ao poeta que registe de outro modo e que fale noutra linguagem. Não saberia.
A VISITA DA MUSA
Ser um sonho de alguém que não existe… Oxímoro? Ou seja, será o poeta, ele próprio, o resultado da sua própria fantasia, lá onde habita a musa? Um “constructo” ou correlato da poesia? Uma ficção? A poesia antecipa a existência do próprio poeta que a compõe? De certo modo, sim, se o poema estiver já inscrito no registo sensível que lhe deu origem. Aqui, o poeta é somente o executor de algo que já aconteceu na sua sensibilidade. Coup de foudre. Um dom natural. Uma dádiva divina (ou da musa). Algo parecido com o que acontece na doutrina da predestinação. Com a graça. E, então, ele é somente o agente apolíneo da poesia, digamos assim. Existe poeta sem poesia e sem musa? Não. Da musa, da visita da musa, nasce o poeta. Isto dizia-o Eliot. E a poesia é a casa da musa. O poeta entra na casa da musa e engravida poeticamente. Os filhos são os seus poemas. Depois chegam os fantasmas. Isto dizia-o Kafka, nas “Cartas a Milena”. Estamos no terreno da fantasia. E no do desassossego, que suscita a intervenção da fantasia para o moderar e o tornar suportável. É claro que a visita da musa o põe em desassossego e o obriga a entrar na casa da fantasia que ela habita e que é também frequentada por fantasmas. Digamos que passa a ser um desassossego produtivo e criativo. Neste ambiente só a poesia o pode sossegar e resgatar. O poeta atormentado e inquieto. Ela é eficaz porque é altamente performativa. Mais do que as outras artes. Até mais do que a música. Introduz realismo no ambiente ficcional em que entrou. Sim, é natural que o Bernardo Soares apareça sempre, embora não se ajeite lá grande coisa com a poesia. Mas aparece muitas vezes a comentar a vida do poeta. O que se compreende, porque tem lá em casa muitos irmãos poetas. Eu creio que ele (o Pessoa e também o Shakespeare) também anda por aqui, neste poema, “O Poeta e o Silêncio” (09.06.2024).
DESTINO
Penduro o quadro, que fica a contemplar a melancolia do poeta, e sigo-o na sua caminhada de diálogo terapêutico com ela, a melancolia. Isto dizia um Amigo na sua habitual viagem por dentro dos meus poemas. Dizia, e bem. O que o poeta quer verdadeiramente é atingir um estado de doce melancolia. O que lhe resta. Mas para isso tem de interpretar o silêncio da musa e encontrar o seu eco em palavras com ritmo e melodia. É assim que ele tempera a melancolia e se instala suavemente nela. Uma coisa é certa: não acredita que haja recusa, mas sim que o silêncio seja a sua fala, a da musa, o seu modo de estar permanentemente frente a ele, à sua fantasia, sem o amarrar a palavras, que até poderiam ser mal interpretadas. Ou fazerem-lhe mal. E ele responde-lhe com as solícitas palavras de que sempre dispõe quando se trata dela, do seu silêncio. É claro que ele frequenta o oráculo. Nem de outro modo poderia interpretar o seu silêncio. E o oráculo diz-lhe que ela lhe fala através dele. E ele ouve-o e ouve-a, com a ajuda da deusa. E responde. Tinha razão o Eliot: a musa um dia visitou-o e o poeta nasceu. Agora tem de cumprir o seu destino: cantá-la.
O POETA E O SILÊNCIO
Renovar e recriar o passado que subsiste na memória do poeta é (também) uma das suas missões. Muito importante porque é viajar no tempo e modulá-lo com a alma e com a fantasia, podendo assim resgatá-lo. É o poder da arte. Mas é na interpretação dos silêncios gerados por esse passado não resolvido, quase sempre não resolvido ou fracassado, que a missão do poeta mais se afirma… e a arte acontece. Rei do silêncio: parece ter sido o Shakespeare que usou esta expressão e ela adequa-se bem à condição do poeta. O passado é silencioso, mas não fica inactivo. Às vezes produz autênticas hecatombes, quando o que o sofre é incapaz de o verbalizar. O poeta, pelo contrário, dá-lhe voz num sofisticado processo de recriação. E preserva-o, mas convertendo-o. De resto, a linguagem poética é de todas a que mais se aproxima do silêncio, podendo ambos quase tocar-se e trocar-se. Um no outro. O silêncio em poesia e a poesia em silêncio. Há intercâmbio entre o silêncio e a poesia. Há, sim. Fácil, fácil é trocar palavras, difícil é interpretar os silêncios, dizia o Fernando Pessoa. Ir mais ao fundo, para além do virtuosismo. Difícil o deslizar das palavras sobre o silêncio e regressar a elas com o eco dele, com o sentido dele… para o cantar. Isso, sim, é difícil. Passa por grandes provações. Que o diga a musa.
O ECO DO SILÊNCIO
“Poeta de ser e de estar” – disse-me um Amigo quando comentava um poema meu. O tempo e o espaço na vida do poeta. Vai sendo, vai construindo a sua identidade no tempo à medida da criação poética. Tudo no espaço da sua intimidade partilhada. E os silêncios dizem sempre muito… ao poeta. Permitem-lhe completá-los com palavras. Se forem pura ausência passam a ter um novo sentido. Mas nunca há pura ausência porque subsistem os registos da memória e é sobre eles que o poeta discorre. Como expressão subjectiva de um tempo reconstruído esteticamente com a sua sensibilidade. Como eco do silêncio vertido em palavras.
O LOUREIRO E O POETA
O loureiro não era o arbusto só dos vencedores, mas também dos poetas. E não deixa de ser curiosa esta dupla função. Os poetas são mais perdedores do que vencedores, porque se assim não fosse não sentiriam necessidade de “desabafar” em poesia, de se libertarem do insustentável peso do fracasso através da palavra poética. De se libertarem do sufoco em que ficaram quando tropeçaram na realidade e se estatelaram. É então que o seu espírito entra em acção e eleva a alma perdida nessa “selva oscura” da vida. Tornam-se, assim, vencedores. Com direito a folhas de louro. Mas talvez o louro em excesso os narcotize e os leve a perder o norte, “la diritta via”. E, todavia, sendo poetas, não sendo só filhos de Dionísio, mas também de Apolo, a sua redenção, a sua subida ao Parnaso, fica garantida. E com o triunfo, o acesso ao Parnaso, regressam as merecidas folhas de louro. A perdição, o resgate, o louro. Ecco.
DELFOS
Em Delfos, junto ao Monte Parnaso, a morada das musas, havia construções com pedras vindas do Monte Parnaso. Tudo estava em ligação com tudo na mitologia grega. E sobretudo na tragédia grega, onde o “espírito dionisíaco” estava em harmonia com o “espírito apolíneo”. Páthos, luz, sabedoria, poesia. Apolo. Mas também Dionísio e as libações. A ilustração do poema “O Loureiro” chama-se “Luz” (16.06.2024), a que chegou ao coração do loureiro (a forma é um coração). De outro modo, sem luz, como poderia ser o louro o símbolo da vitória? E a mancha (da pintura) é inspirada no loureiro que o poeta tem no seu inspirador jardim. Só que com cores aquecidas para melhor sintonizar com o poema e com o que o poeta sente. Apolo inspira a componente racional e espiritual da poesia. O templo de Apolo é o templo da sabedoria, a que espiritualiza as pulsões dionisíacas que estimulam no poeta o movimento apolíneo para o sublime. Para o resgate, para a redenção. O loureiro aqui cantado e pintado tem luz dentro de si e não só estimula o poeta-pintor como o protege e o inspira. Talvez a leitura (também aqui se trata de sinestesia) deva ser feita do poema para a ilustração e não da ilustração para o poema. Acho eu, mas cada um dos leitores segue as suas próprias intuições e o seu processo de descodificação da mensagem oracular do poema e da pintura. A poesia deixa-se seduzir pelo leitor e corresponde às suas inclinações. É feminina, a poesia.
TRANSE
Bem sei que as folhas de loureiro usadas em excesso podem tornar-se narcóticas. Pode-se entrar em transe, como acontecia lá em Delfos. Mas a verdade é que o poeta de certo modo vive sempre em estado narcótico ou em transe existencial. É neste chão que acontece a poesia. Será por isso que as folhas de loureiro estão também associadas aos poetas? Tudo parece estar ligado. E não era o Nietzsche que punha as libações dionisíacas como base necessária da arte? Dionísio, sim, para só depois intervir Apolo na espiritualização das pulsões. A verdade é que sem um doce estado de embriaguez existencial talvez nem seja possível poetar. Mas não sei. Não sei se será o caso do poeta que reflecte sobre a poesia. O que sei é que o loureiro que o inspira tem uma densa folhagem e, por isso, talvez o seu perfume lá no jardim seja tão intenso que chegue mesmo, às vezes, a pô-lo em estado de embriaguez. Em transe. Mistérios da arte. E do loureiro.
RENASCER
O poeta, com a sua arte renasce, tal como o loureiro, com a poda. Poda-se o loureiro e ele renasce e mais cresce ainda; o poeta poda as palavras e a poesia renasce e cresce. Um encontro feliz que merece ser cantado.
A PODA
O loureiro também dá uvas, como um dia o poeta constatou, ao ver o enlace entre ele e uma videira cardinal, sua vizinha. Não dá, pois, só pequeninas bagas, quando rejuvenesce, e folhas. Mas poder-se-ia dizer, hoje, que “foi chão que já deu uvas”. Talvez porque a videira cardinal não tenha gostado do enlace e nunca mais voltou a acasalar com o loureiro. A verdade é que o loureiro continua atractivo, agora não com uvas, certamente, mas com tanta luz. Graças ao pintor. E um dia, levado pelo vento, foi até à Beira-Tejo, onde estava instalado um amante da poesia, iluminando-lhe a sala e o seu sempre atento espírito. Foi ter com ele, o loureiro. Pois foi. Mas posso confessar (embora este seja um segredo mal guardado) que ele, afinal, sempre gostou muito da Beira-Tejo. Disse-o um dia e o poeta registou. E, desta vez, chegou lá já podado, para não desmerecer as palavras, também elas cuidadosamente podadas. Ou terão elas sido podadas para não o desmerecerem a ele, o loureiro? Talvez seja mesmo assim. É a sua centralidade no jardim que exige todos os cuidados. Sobretudo quando o vento o leva para outras paragens. O poeta nunca quer que ele se queixe do canto com que o celebra nos dias de festa, lá no Jardim Encantado. E isso não muda, na mudança. Mesmo quando é podado e perde momentaneamente alguma pujança visual. Porque sabe que logo adquirirá “novas qualidades”. O que, naturalmente, faz o poeta feliz e o inspira para novos cantos. JAS@06-2024

OS PARTIDOS E A CRISE DE REPRESENTAÇÃO
A PROPÓSITO DE UMA INCIATIVA DO PS
João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 06-2024
ANALISANDO A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS PARTIDOS e dos movimentos eleitorais, em geral, o que se verifica é que a bipolarização entre dois grandes partidos ou blocos políticos que, a seguir à segunda guerra mundial, se foi impondo até aos anos noventa começou a sofrer um lento desgaste a partir desta altura, dando lugar a uma progressiva fragmentação dos sistemas de partidos e à emergência de novas formações políticas, à esquerda e à direita. A causa geralmente atribuída a este desenvolvimento é a chamada crise de representação, associada à queda das ideologias, que alimentavam o sentimento de pertença, mas também às mudanças na middle class, que suscitaram a transformação dos chamados partidos-igreja em catch-all-parties, de baixa densidade e intensidade ideológicas, interclassistas e totalmente dependentes do aparelho de Estado. A lógica da alternância no governo entre estes dois partidos ou blocos de partidos levou à emergência de uma crescente endogamia que curto-circuitou progressivamente as suas ligações à sociedade civil. Entretanto, aconteceu uma profunda mudança na identidade da cidadania, sobretudo pela revolução tecnológica, pelo crescimento da middle class, pela globalização e pela profunda alteração e alargamento das plataformas de comunicação/informação, designadamente pela emergência da mass self-communication, pondo em crise o chamado sentimento de pertença, ancorado nas ideologias e na relação orgânica e territorial entre o cidadão e os partidos políticos.
1.
E, todavia, no meio de todas estas mudanças e depois da transformação destes partidos em catch-all-parties, a política continuou a mover-se nos carris tradicionais, numa lógica equivalente à das grandes plataformas de comunicação tradicionais, dos mass media, a de broadcasting, vertical e hierarquizada, e a socorrer-se generalizadamente, e cada vez mais, de outsourcing comunicacional, deixando definhar lentamente, em várias frentes, o seu próprio corpo orgânico e territorial e tendo como estratégia central viver e reproduzir-se à custa do aparelho de Estado.
2.
O que, entretanto, está acontecer, nos nossos dias, com a emergência de uma direita radical politicamente já muito forte, deve-se, por um lado, a esta crise de representação e, por outro, à capacidade desta direita de interpretar com eficácia os vários nódulos críticos da política desenvolvida pelos partidos da alternância ou do establishment, em particular o da redução da política a mera tecno-gestão ou management dos processos sociais e a generalizada assunção acrítica da ideologia identitária dos novos direitos, mas também a um uso competente e eficaz das novas plataformas comunicacionais digitais para fins políticos, como se viu no caso da vitória de Trump e do BREXIT, em 2016. Falo de tudo isto no meu mais recente livro Política e ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, 262 pág.s – já disponível na versão digital, em pdf).
3.
Sim, são estas as linhas de força da política contemporânea, sem dúvida, mas o que, concretamente, motiva este artigo é a iniciativa, em curso, do PS de abrir as suas sedes nos círculos eleitorais, regularmente, de modo a estabelecer um canal de comunicação permanente com a cidadania. E é claro que o que este partido pretende, com a iniciativa, é precisamente dar resposta à crise de representação e recuperar uma ligação orgânica e territorial mais sólida com a sociedade civil. A começar pelos cidadãos, singularmente considerados. É, quanto a mim, uma boa iniciativa, a que deveriam seguir-se outras na lógica bottom-up e numa dinâmica em rede, para além da lógica broadcasting ou one-to-many, que se continua a revelar, tal como na mass communication, como lógica dominante, mas cada vez mais unilateral e democraticamente pouco consistente. Creio que os anunciados estados gerais também se inscrevem nesta lógica e nesta dinâmica em rede. O que é muito positivo, desde que a pulverização de iniciativas não acabe por resultar numa perigosa fragmentação do discurso político do PS, como discurso para todos os gostos, ou mesmo num deslize fatal para esta insinuante e perigosa ideologia identitária dos novos direitos, com o seu cortejo de frentes centradas numa vasta fragmentação identitária. Risco que só poderá ser evitado se o PS tiver uma identidade muito bem definida – que não as gastas fórmulas que já nada dizem aos cidadãos e que até são partilhadas por outras forças políticas (por exemplo, a ideologia das “contas certas”) -, em linha com as profundas mudanças que há muito se vêm verificando e que já mudaram o perfil da própria cidadania, designadamente, na sua relação com o novo perfil que o cidadão adquiriu na sociedade digital em rede (ou na nova sociedade algorítmica) globalizada, mas também na sua relação com a matriz da nossa própria modernidade, hoje fortemente combatida quer pela direita radical quer pela esquerda identitária dos novos direitos.
4.
É neste quadro que se deve olhar para a iniciativa do PS, mas é também neste quadro que se deve pôr em destaque uma outra questão, sendo, de resto, o PS o partido que está em melhores condições de promover a sua resolução. Esta: os deputados, de acordo com o regimento da Assembleia da República, tendo mandatos universais e representando a nação (e não o respectivo círculo eleitoral), desenvolvem, todavia, o seu trabalho político também nos círculos eleitorais por onde foram eleitos, designadamente ouvindo os seus eleitores sobre aquilo que são as suas expectativas e os seus problemas (“constituency surgery”). Matéria prevista na Constituição (Art. 155.º) e no regimento da AR (Art.16, n. 2, al) a): “Compete ao Presidente da Assembleia da República, ouvida a Conferência de Líderes: a) Promover o desenvolvimento de ferramentas que visem o contacto direto ou indireto dos Deputados com os seus eleitores, nomeadamente a criação de formas de atendimento aos eleitores, a funcionar nos respetivos círculos eleitorais”.
5.
Ora acontece que em Portugal os deputados não têm nos círculos eleitorais um espaço institucional para receberem os cidadãos. Antes, podiam usar os governos civis para esse efeito (o que representava somente um espaço físico disponível, mas não mais do que isso, e uma gentileza do poder executivo para com o legislativo). Agora nada existe. E não se pode argumentar dizendo que há as sedes dos partidos porque os deputados representam a nação, não os partidos e nem sequer os círculos que os elegeram. Têm, todavia, o dever de ouvir os cidadãos e, na lógica de uma divisão técnica do trabalho político da Assembleia, entende-se que o trabalho dos deputados se exerça também no seu próprio círculo eleitoral, por imperativo constitucional (art. 155.º da Constituição: “1. Os Deputados exercem livremente o seu mandato, sendo-lhes garantidas condições adequadas ao eficaz exercício das suas funções, designadamente ao indispensável contacto com os cidadãos eleitores e à sua informação regular “). Só que para que esse trabalho seja eficiente tem de haver, como indica a Constituição, condições para isso. Condições com dignidade e eficazes. Nesta ocasião, em que o PS avança com a iniciativa que referi, deveria ser ele a promover a resolução desta falha inacreditável junto da Presidência da Assembleia, tornando-se seu promotor. Nem sequer seria nova a iniciativa, pois há mais de dois anos um deputado do PS, António Monteirinho, apresentou um requerimento (1/AR/XV/1, de 28.04.2022) ao Presidente da AR, Augusto Santos Silva, precisamente neste sentido, tendo merecido acolhimento e tendo-lhe sido dado andamento administrativo para os serviços com vista ao estudo técnico das soluções possíveis. Iniciativa que, todavia, não teve, até ao momento, sequência prática (que eu saiba).
6.
Parece-me, pois, que esta iniciativa deveria ser assumida pelo próprio PS uma vez que se trata de aperfeiçoar o funcionamento da democracia, melhorando as condições de exercício do mandato de todos os deputados, e não só dos do PS, e podendo, assim, dar resposta às expectativas dos eleitores. Afunilar no espaço político do PS a acção dos seus próprios deputados parece-me desadequado, até porque a acção de um deputado da nação não deve ficar confinada nas fronteiras do seu próprio partido. Pela simples razão de que o seu mandato, enquanto titular de um órgão de soberania, é mais vasto do que o raio de acção do respectivo partido, que é uma organização privada (embora com fins públicos e relevante inscrição constitucional). Trata-se, pois, de separar o que é do foro partidário – e a iniciativa partidária anunciada é de louvar, como disse – daquilo que é do foro da representação nacional, extra e suprapartidária. De resto, as duas iniciativas complementam-se e não se anulam, porque se trata de realidades muito distintas, embora convergentes em relação ao mesmo fim: a superação da crise de representação.
7.
Confesso que não compreendo a existência desta falha, que é total e até desrespeitosa em relação à Constituição, pelo menos desde que foram extintos os governos civis. E se muitos se interrogam sobre a real consistência das representações parlamentares, devido à forma como os candidatos a deputados são recrutados e ao funcionamento do sistema de poder interno, esta situação ainda vem reforçar mais essa dúvida ou mesmo a crua descrença no valor do trabalho dos representantes. O que espero, pois, é que o PS tome mesmo em consideração esta questão e promova a sua resolução. Seria um bom sinal da nova liderança do PS. A democracia ficar-lhe-ia devedora de uma boa iniciativa para melhorar a sua qualidade, demonstrando ao mesmo tempo que não identifica a acção política como exclusiva de uns tantos iluminados que, sentados em torno do líder, tudo decidem, em nome de toda a sua representação parlamentar. Os estados gerais não se podem confinar a uma grande operação de marketing para efeitos eleitorais. Ela deve combinar ampla auscultação da cidadania com reflexão aprofundada sobre o que são a política, a democracia e a cidadania, hoje, mas deve também promover mudanças concretas que melhorem o sistema em geral, incluído o próprio. E eu creio que a qualificação da democracia pode beneficiar, por si mesma, as forças da esquerda. Não sendo por isso que ela deve ser melhorada e aprofundada, como é evidente, também creio que os seus efeitos sentir-se-ão mais à esquerda do que à direita. Pela óbvia razão de que a esquerda é mais subsidiária de uma política qualificada do que a direita, mais vocacionada para, através da política, defender os interesses instalados do que para transformar a sociedade, designadamente na sua dimensão política, social e cultural. JAS@06-2024
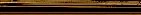
AS EUROPEIAS 2024
E suas consequências
João de Almeida Santos
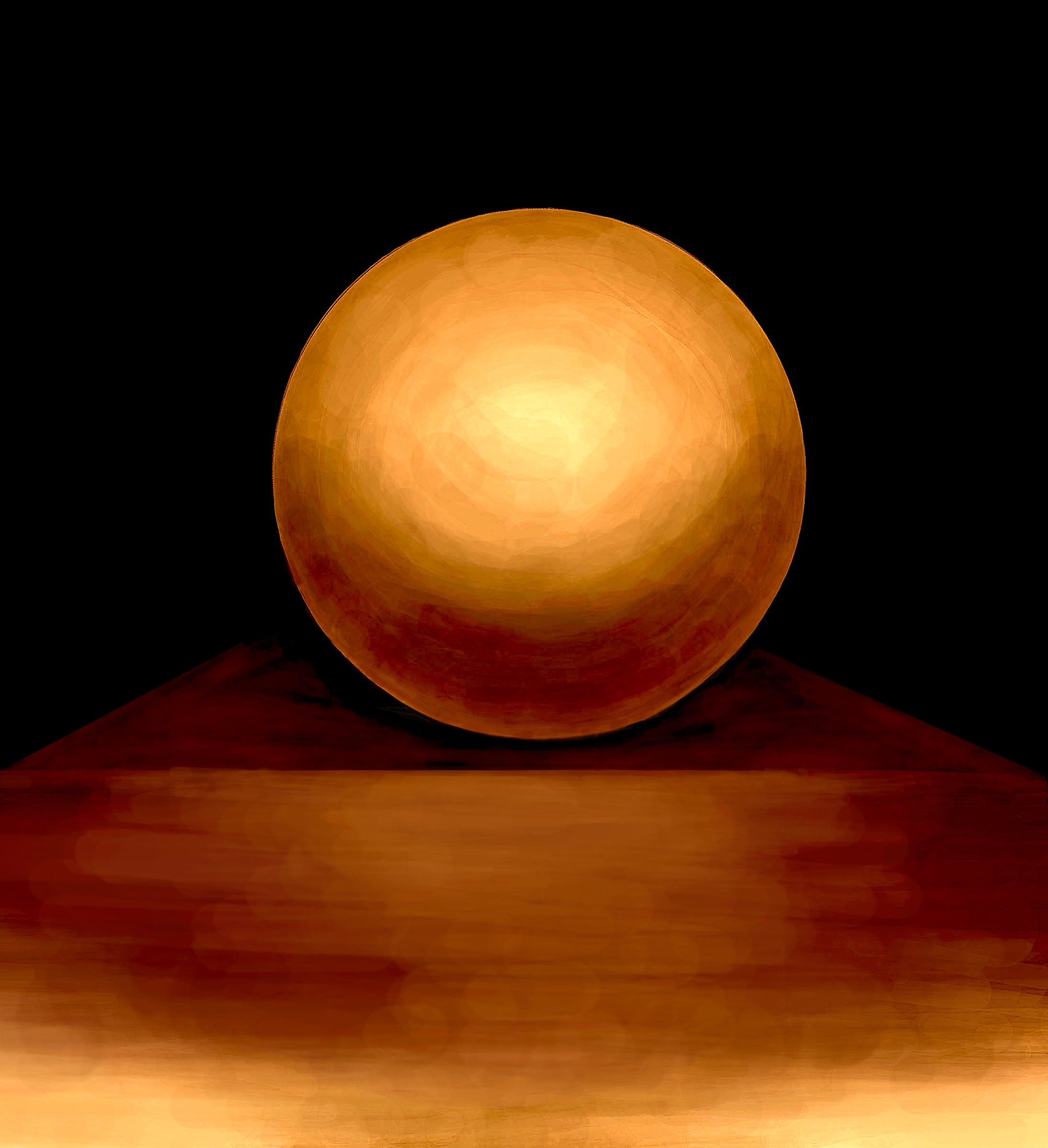
“S/Título”. JAS. 06-2024
SE ANTES DAS ELEIÇÕES é sempre conveniente formular a pergunta “Para que serve o meu voto?”, depois do voto ainda o é mais. Votei e, agora, o que irão fazer do meu voto os representantes e os seus proponentes? Uma primeira resposta é óbvia: o voto serve para eleger representantes para a instituição em causa no processo eleitoral. Neste caso, para o Parlamento Europeu. Sim, mas a questão não se esgota nisto. O voto serve também para legitimar (ou para pôr em crise de legitimidade) as forças políticas proponentes, os partidos, ou seja, tem efeitos decisivos a montante. O voto tem, pois, duas funções essenciais: a da designação dos representantes e a da legitimação dos mandatos e das forças políticas proponentes que, de acordo com a Constituição, se mantêm decisivas no processo político. O mandato é não imperativo, sim, mas ele tem uma correspondente a montante, naquelas instâncias que detêm o monopólio da propositura, ou seja, nos partidos políticos. Este segundo aspecto é mais relevante no caso das eleições europeias por uma razão essencial: não tendo os 21 mandatos atribuídos, numa câmara com 720 mandatos, a importância que têm quando se trata de um parlamento nacional, a expressividade do voto recai também com muita intensidade sobre as forças políticas proponentes, conferindo-lhes ou retirando-lhes legitimidade e densidade política para efeitos de participação no processo político nacional. Não creio que seja muito difícil de perceber isto. A legitimidade é mais ampla do que a que fica inscrita em cada mandato, porque é ela que confere consistência e credibilidade às forças políticas e à sua expressão institucional para prosseguirem numa determinada direcção política. Sendo certo que os mandatos são autónomos e universais, a legitimidade decorrente da atribuição do número de mandatos retroage sobre as forças políticas proponentes na exacta medida em que a constituição prevê uma relevante função dos partidos políticos no sistema democrático, mas também por serem eles que detêm o monopólio de propositura e por a escolha se efectuar (no boletim de voto) sobre a sigla partidária e não sobre os concretos candidatos. O voto tem, pois, estes efeitos: a designação dos representantes, a gestação de um governo, com base no princípio da maioria, e a legitimação dos mandatos e das forças políticas proponentes.
1.
Assim sendo, tendo a AD perdido estas eleições quando quase 4 milhões de eleitores se pronunciaram, fazendo a sua escolha precisamente numa sigla (não num nome), é claro que estas eleições têm um impacto político interno e directo sobre uma maioria e um governo que já exibiam uma legitimidade eleitoral extremamente frágil (assente em menos de um ponto percentual, se comparada somente com a do PS) e que agora ainda fica mais diminuída. Subtraídos os votos do CDS/PP e do PPM, o PSD (sobre o qual recai a responsabilidade do governo) fica a quase 300 mil votos do PS nestas eleições (cálculo baseado nos resultados do CDS e do PPM nas eleições europeias de 2019), o que representa cerca do 7,5% dos votantes nestas eleições. Não é coisa de somenos, do ponto de vista da legitimidade. A AD perdeu e o PSD, comparado com o PS, perdeu muito mais, não se vislumbrando, pelo que já se viu, grandes melhorias na sua acção política.
2.
Para que serve, pois, o voto? Serve para clarificar a situação política global de um país quando se trate de milhões de cidadãos a manifestarem a sua confiança numa determinada marca ou sigla política, ou seja, numa determinada proposta política. Por isso, a legitimidade do actual governo, depois desta clarificação, ainda ficou mais frágil na medida em que não tem a preferência da maioria dos eleitores intervenientes nestas eleições (e o mesmo já se verificara em relação ao PSD nas eleições legislativas). Digamo-lo de forma mais clara: este é um governo do PSD e este partido, que já não era o partido mais votado, viu mais diminuída ainda a sua dimensão depois das eleições, e nos termos que acima referi. Não tendo, como é óbvio, estas eleições aplicação directa em matéria de governação, ficará para o momento decisivo da discussão do orçamento a pronúncia sobre a legitimidade (a que resulta do voto e a que resulta do exercício) e da densidade política desta maioria de governo, sendo certo que, não considerando a posição do CHEGA, do que se trata é, de facto, de uma minoria que pode ver o orçamento recusado pela maioria relativa de esquerda que existe no Parlamento. Macron, vistos os resultados das europeias, não hesitou e decidiu, de imediato, perguntar aos franceses o que querem em matéria de formação de um novo governo. Foi uma decisão sensata (perguntar ao povo soberano o que é que, afinal, quer) e não é seguro que o vencedor destas eleições, o Rassemblement National do senhor Jordan Bardella, confirme em eleições legislativas a vitória, tendo em conta o sistema eleitoral francês, maioritário em duas voltas. Poder-se-á, todavia, dizer que a hecatombe do SPD de Scholz (ficou em terceiro lugar, com 13,9% contra 30% da CDU/CSU e 15,9% do AfD) nestas eleições europeias não o levou à demissão, apesar de a soma da coligação semáforo que sustenta o seu governo ter ficado somente um ponto acima da CDU/CSU, ou seja, 31%, ou seja, tendo-se verificado uma fortíssima quebra na legitimidade da coligação. Sim, mas Scholz ainda dispõe de 416 deputados num Parlamento com 736 deputados, ou seja, ainda dispõe de uma robusta maioria absoluta no Bundestag. Gasta, sim, mas efectiva, o que não acontece entre nós – aqui temos uma dupla minoria, em relação ao número total de deputados e em relação aos deputados da esquerda.
3.
Por cá, de facto, isso não se verifica, tendo a esquerda a maioria, desde que o CHEGA não entre na equação, proibida que está pelo “não é não” de Luís Montenegro. A clarificação da situação fica assim dependente de uma posição favorável no orçamento ou mesmo de uma integração daquele partido na solução de governo, o que não é certo que aconteça. É claro que o fraco resultado obtido por este partido nestas eleições pode levar André Ventura a temer uma ida às urnas por risco de perder a força de que dispõe actualmente no Parlamento. Sim, é verdade, mas parece ser útil lembrar que também a AD e o PS perderam, relativamente às eleições de Março, 585.704 votos (AD) e 545.655 (PS), o que, sendo, em ambos os casos, menos do que aquilo que o CHEGA perdeu, ou seja, 783.154 votos, não deixam também de ser perdas significativas. Pelo menos, perdas que relativizam a perda do CHEGA. Ou seja, se a comparação com as legislativas é válida para o CHEGA, manda a coerência que também seja válida para os dois maiores partidos.
4.
O que pretendo dizer com tudo isto é que a legitimidade política da minoria que suporta o governo se já era pífia, depois destas eleições mais fragilizada ainda fica, sendo, pois, necessário evidenciar ou sublinhar esta situação. Eu não acho que o PS deva estar constantemente a afirmar-se como o partido da estabilidade, o partido da responsabilidade ou então ter medo de ir para novas eleições se a actual situação de crise de legitimidade do governo se mantiver. A verdade é que a direita tem a possibilidade de construir uma maioria estável no parlamento (esta solução já existe em vários países da União Europeia, por exemplo, na Suécia e na Finlândia, para não falar da Hungria, da Holanda ou da Itália), sobretudo agora, depois destas eleições, podendo hoje o CHEGA estar ainda mais disponível para a integrar, pese o famoso “não é não” de Luís Montenegro, cujas performances eleitorais não parece estarem a ser muito consistentes e auspiciosas. Ou seja, o sistema democrático ganharia com uma clarificação da questão da legitimidade: ou através de eleições ou através da conjunção das forças da direita moderada e radical como suporte do governo.
5.
Visto isto, não compreendo a atitude do Secretário-Geral do PS, precisamente na noite em que este partido ganhou as eleições, de se apressar a dizer que não será o PS a pôr em causa a estabilidade política, querendo, talvez, com isso significar que, afinal, já está disponível para aprovar o orçamento, cedendo a chefia da oposição ao CHEGA, o que contraria a posição antes afirmada pelo próprio Pedro Nuno Santos. De resto, bem vistas as coisas, será mais provável que nestas circunstâncias o CHEGA não esteja interessado em provocar eleições e, por isso, esteja mais disponível para aprovar o orçamento do que para o chumbar, o que deixaria o PS na confortável posição de exprimir, com o voto no Parlamento, a sua diferença programática relativamente ao PSD. A verdade é que este governo, sem consistente legitimidade, tendo o orçamento aprovado terá ipso facto uma vida prolongada pelo menos até 2026, a não ser que, entretanto, uma moção de censura seja aprovada pelo Parlamento ou uma moção de confiança do governo seja recusada. O que me parece é, pois, que o momento decisivo para a clarificação política seja o da apresentação do orçamento. E muito mais na circunstância de, no momento em que for apresentado o orçamento para 2026, o Parlamento já não poder ser dissolvido pelo PR.
6.
O que está aqui em causa é a questão da legitimidade. Bem sei que esta questão da legitimidade está hoje muito desvalorizada (as eleições servem sobretudo para designar os representantes), tendo dado lugar, sim, à chamada legitimidade de exercício ou, como eu prefiro, à legitimidade flutuante. Mas esta última acaba de ser posta à prova nesta mega-sondagem das eleições europeias e com resultado negativo. Ora, combinando ambas as legitimidades (a que resulta do voto e a que resulta do exercício governativo) o que parece ser mais evidente é uma efectiva crise de legitimidade deste governo. E, como diz o povo, para grandes males, grandes remédios. Que seja o povo a dizer claramente o que pretende ou então que a direita se assuma como bloco na sua compósita configuração. JAS@06-2024.

FRAGMENTOS (XI)
Para um Discurso sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos

“La Diseuse” 2022. JAS. 06-2024
O POETA VAGUEIA POR AÍ
O POETA VAGUEIA por aí, ouve vozes, vindas lá dos confins da sua memória, vozes que o interpelam intimamente e às quais responde em público, embora de forma cifrada, ou seja, poética, mas comprometendo ou empenhando a sua palavra, na semântica e na estética. Sim, o canto do poeta é livre, mas a partir do momento em que lhe dá forma e o propõe à sensibilidade de outrem ele deixa de lhe pertencer e fica sujeito à sensibilidade de quem o ouve, de quem a ele acede. A poesia é partilha com regras, as que transformam um grito de alma em arte, pronto a ser interiorizado por quem o ouve, por quem o pode sentir como seu. Nesta passagem, o destino é o da universalidade, a partilha universal, a pertença a uma livre comunidade de sentimentos. Uma experiência que se pode transformar em discurso colectivo, em fala partilhada de uma comunidade, sem deixar de ser uma confidência, um segredo confessado a cada um dos amantes da poesia. A fala da sensibilidade. Só com este destino o canto pode cumprir a sua função de resgate e libertação. Um poeta tem sempre muito clara esta vocação, este destino da poesia. A consciência de si e de destino é uma característica essencial do poeta, enquanto tal. É mesmo por isso e para isso que ele compõe as suas partituras.
REVELAÇÃO I
Os poemas “contam” sempre uma história, mas não de forma descritiva. E o poeta, no poema “Revelação” (publicado a 12.05.2024), faz uma confidência, que é sobretudo um desabafo “sincero”: se interpela a musa (do canto silencioso) é para ouvir o eco do seu próprio chamamento poético (da sua dor, relativizando-a) e se a quer, à musa, é como objecto do seu olhar e da sua atenção, não como corpo para “possuir”. Possuir não o corpo, mas a alma, com o olhar interior, nesse movimento de recriação que a arte lhe concede. O lugar do poeta é, pois, mais o da janela do que o da porta ou o da rua. Refugia-se na janela para ver o seu mundo passar, em moviola, sendo, todavia, ele o realizador. Dir-se-á que ele também sai pela porta e anda na rua. Sim, é verdade, e é aí que ele sofre o peso de um real que não corresponde nem responde aos seus desejos. Então ele, melancólico, refugia-se na janela e enfrenta o real com o olhar poético e com as “armas” da poesia, devolvendo, com a ajuda do vento que passa, os seus desejos em forma de canto sedutor. Devolver a quem? A ninguém e a cada um. Mas sempre também a Ela. Sedução heterodirigida, pois. No outro poema da janela (“A Janela”) era ela, enquanto sujeito poético, que se colocava ali para o ver passar, era ali que ela mais se reconhecia nele, no amante. Neste (“Identidades”, publicado em 26.05.2024), é o próprio poeta que a situa no horizonte do seu olhar sobranceiro à rua por onde ela sempre passa. Se o lugar dela é a rua, o dele é a janela. Mas o poeta não é um “voyeur” porque a janela é simplesmente o lugar onde ele reconstrói, preserva e declara o seu afecto, é onde canta para que o mundo o ouça e o reconheça. E, claro, ela também. A janela está para a rua como a poesia está para formas de linguagem puramente descritiva. A poesia é sobretudo performativa. Exprime sentimentos, não os descreve. Sente melhor, dizendo. E, de certo modo, resolve. Pode haver distância no olhar ou somente um fio de horizonte, mas, sim, pode, pelo contrário, haver íntima proximidade no sentir (e no dizer), apesar da distância espacial. O olhar poético acontece em virtude da íntima proximidade no sentir. O olhar poético é apolíneo, mediado pelas categorias da arte, mas só é possível porque acontece em ambiente dionisíaco – para usar as categorias de “A Origem da Tragédia”, do Nietzsche. Primum vivere deinde philosophari.
REVELAÇÃO II
A revelação dos poetas é meia revelação porque é sempre cifrada. São cautelosos, os poetas. Quase timoratos, no meio de tanta nudez. Na verdade são tímidos, muito tímidos e é daí que lhes vem a necessidade de falarem poeticamente. A poesia como manto protector da timidez, mas, ao mesmo tempo, como arrojo e libertação, resgate, redenção. Sim, a revelação poética é sempre ficcionada, acontece sempre em ambiente de “fingimento”, como dizia o poeta. É ela e não é. Mas isto tem um preço: nunca acaba. É a poesia que alimenta o romance, a intimidade (e não só os fantasmas). É a continuação, por outros meios, de uma história inacabada. Vivida a solo. Por isso, o poeta tem o dever de se preservar. Para preservar a sua própria história, mas também o seu sofrimento, em diferido, já sob forma poética. Não é testemunho; é, sim, grito de alma, em surdina.
COMPROMETIMENTO
Que o poeta não comprometa a musa, é só uma forma de dizer. Não é o corpo o que o poeta mais quer, mas a alma. E se for só a alma até parece que não compromete. A verdade é que os poetas só sabem possuir a alma. Mas não é isto comprometimento? Certamente que é, e maior, mas de outra dimensão, de outro nível. Porque cria – ou é resultado de – laços íntimos, interiores, invisíveis. Neste nível de relação entre o poeta e a musa tudo é mais complexo, delicado, menos linear, difícil e, por isso, pode suscitar mais interrogações. Como as que o poeta exprime no poema “Identidades” – Quem és tu? Quem sou eu?
"A OUTRA JANELA"
“A Outra Janela” é a que importa, no poema “Identidades”. Mesmo que seja a mesma (“A Janela”), mas agora vista de fora. A dialéctica a que alude o poema “A Janela” é entre a rua e a janela. Mas agora (no poema “Identidades” e na pintura “A Outra Janela”) o que conta é a visão da janela a partir de fora, da rua. Visão de quem? Talvez da musa. Ou sobretudo da musa. Mas não sei. Pode até ser que o poeta tenha momentaneamente descido à rua, não sei bem por que razão, e fixado o olhar na janela de onde ele próprio observa o mundo. O que sei é que o poeta interpela a musa e lhe diz que, afinal, o que quer é olhá-la da janela. Porque é essa a sua essência, enquanto poeta. Perscrutar-lhe a alma para a seduzir… com palavras ditas com a sensibilidade à flor da pele. Seduzi-la, assim, embora saiba que as musas, como os fantasmas, não se deixam seduzir. E ele diz que o segredo é esse: mais do que o corpo, o que lhe interessa é a alma. Vê-la com o olhar interior interessa-lhe mais, muito mais. Mas ele também sabe, e talvez ela nunca tenha ousado pensar que poderia ser assim, que só a arte pode conduzir a essa posse, à verdadeira posse… pela recriação. Mas que, para isso, é preciso estar à janela. Saber estar à janela. Num plano mais elevado, pois. Eu, sinceramente, não sei se ela, a musa, sabe isso. Se ela sobrevive sem nunca olhar o mundo de uma janela. Olhando-o só da rua (se isso for olhar), sem ver a floresta nem o horizonte. O que pode ser representado por uma porta por onde se entra e se sai… para a rua. Talvez essa seja mesmo a condição das musas. Andarem na rua para atormentar os poetas que por ali passam a caminho das suas janelas. E estarem ali sujeitas ao olhar dos poetas… É claro que o poeta reflecte sobre dois seres, sendo ele próprio um deles. Mas se o faz é porque ambos representam uma relação intensa, sim, embora frustrada ou inacabada ou mesmo nem sequer começada. Um olha da porta, o outro olha da janela. Um age, o outro observa, depois de agir sem consequência. Como podem entender-se, assim? Mas a poesia é isso mesmo: uma viagem da fantasia sobre ruínas com intuitos reconstrutivos. Para que da devastação sobre alguma coisa. Sobrará?

“A Outra Janela”. JAS 2024
O POETA, A FONTE E A NEVE (I)
A fonte, a água, a montanha, a neve, elementos matriciais, alimento do poeta. Movemo-nos entre eles, nós, os de lá, como numa cenografia natural que temos também inscrita na alma. Beber dessa água na fonte primordial é como continuar a incorporar a montanha em nós. Perder-se na neblina cintilante da neve é como dissociar-se desse mundo demasiado sinalizado e entrar em estado de imanência total na natureza. Desapossar-se de si para entrar em relação orgânica com a natureza. O poema (“A Fonte e a Neve”, publicado em 19.05.2024) refere-se a uma experiência vivida e sentida profundamente, não como descrição, mas como recomposição e revivescência poética dessa experiência, dando-lhe unidade, expressividade, coerência, ritmo…beleza. A mesma que foi sentida nesse andamento existencial a caminho da montanha, mas reconstruída com a sensibilidade já em quietude, em repouso. Para não a perder nas grutas escuras da memória. Reforça-se assim a cada regresso a essa fonte do Vale Glaciar a densidade da experiência. Falta pintá-la, mas de modo a que a pintura apenas aluda a ela, à fonte, em tonalidades e formas que consagrem o que sinto interiormente quando me sacio com aquela água gelada que jorra lá do alto a caminho do Zêzere que está ali a nascer, rumo a sul. Mas, claro, nem sempre é possível suspender a viagem até ela para ir lá mais acima ser abençoado pelos farrapos brancos que caem do alto, no topo da montanha. Sim, é verdade, mas como a guardei na alma, a neve, sempre posso fazer nevar “na alta fantasia”, para glosar o grande Dante Alighieri. Assim, depois, posso convidar os amantes da poesia a levarem, também eles, a montanha e a neve guardadas na alma, embora para isso seja sempre necessário entrar em sintonia com elas… e amá-las.

“Pasárgada II”. JAS 2022.
O POETA, A FONTE E A NEVE (II)
Sim, regressa-se sempre com a montanha na alma. É um ritual, a ida à fonte. Um rio de água gelada que cai lá de cima… Até sinto remorsos por a aprisionar em garrafas para a ter sempre comigo, a montanha em estado líquido. E gosto daquela geometria do Vale Glaciar. Às vezes saio de lá completamente molhado tal a força com que a água cai lá de cima. Cai-me a montanha em cima (e neve em estado líquido) e eu gosto. Durante um ano não pude lá ir. Os acessos estavam fechados. E isso custou-me. Mas agora, sim, vou sempre. Com o corpo e com a alma. À espera que neve, mesmo no Verão. Pelo menos, que me neve na alma…
O POETA, A FONTE E A NEVE (III)
Saudades de mim, diz-me um Amigo, também ele lá de cima, da montanha. Saudades daquele que esperava sempre a neve e a via chegar farta e fria naqueles vales de montanha. Tenho saudades do que me ficou inscrito na alma e me acompanha sempre, mas sem vir à tona, porque escasseia. Mas agora vou à procura desse eu cada vez que me dirijo àquela fonte, neve e montanha em estado líquido, na esperança de que lá mais no alto ela se anuncie tal como é, em farrapos brancos. Sei que é o mesmo que sentem os filhos da montanha. Mas, se não chegar, faço-a chegar em cores e em palavras para a poder reviver e partilhar. Canto-a e peço ao vento que passa que a leve, a neve… branca e leve, branca e fria. Maravilhas da arte.
O POETA, A FONTE E A NEVE (IV)
Ah, sono montanaro – cos’altro potrei essere? Nato in montagna, mi piace la montagna e la neve. Ci ritorno spesso, corpo e anima. Fiuto la neve quando sta per nevicare. Ho, dentro di me, un sensore per fiutarla. Sì, il poeta si sente proprio un montanaro… anche in mezzo alla città. Ed è proprio nella città che ne sente più bisogno. Musica e contrappunto.
MUSAS
As musas são o alimento da poesia, tal como os versos são alimento dos fantasmas. Sobretudo os que levam mensagens de amor. Ou beijos escritos, desenhados com letras deslaçadas na pauta poética. Para orquestra. É pelas musas que os poetas se apaixonam irremediavelmente. É por elas que eles sofrem. Mas elas são fugidias e obrigam-nos a tentar alcançá-las permanentemente. Com poemas. Mas elas fogem-lhes. Ainda por cima os fantasmas interpõem-se e bebem os beijos que os poetas lhes enviam. É por isso que a sua tarefa nunca tem fim. Sabem que há fantasmas esfomeados de beijos, arriscam, ou são mesmo cúmplices do fantasmático assédio, e nunca sabem se os seus foram interceptados. E às vezes a intersecção provoca danos irreversíveis, interrompendo o contacto com as musas. Mas é raro acontecer. Todavia, se acontecer o poeta tem de se esforçar de forma redobrada para reinventar a musa como novo eco da sua voz.
ETERNA DESPEDIDA, A DO POETA
Uma eterna despedida… Afinal, é a forma de nunca a perder, a sua musa. Por isso, ele continua a cantá-la e a pintá-la com as cores quentes da saudade. Elas, as musas, são delicadas e um pouco (só um pouco) pérfidas. Insinuam-se para logo se afastarem, deixando o poeta no limbo. É assim que a musa o inspira. Oh, se é. Diz ao poeta que lhe pode dizer que a ama, para logo a seguir dizer que já não se lembra de o ter dito, deixando o poeta entre o dito e o não dito. Num intervalo ambíguo, onde o sofrimento aumenta em intensidade, provocando falta de equilíbrio, como se o chão lhe fuja dos pés. O que lhe vale é que, sendo poeta, acaba por navegar bem nesse intervalo. O intervalo até é mesmo o terreno em que ele melhor se move. Essa instabilidade aparente cria chão à criatividade. Quanto mais intensa é a dor e o desequilíbrio, mais cresce a necessidade de poetar, de recriar um novo chão mais sólido, embora intangível. Mas não deixa de ser doloroso porque lhe sabe a castigo. A vida de poeta é assim. Não é cheia de facilidades e de rotinas. Não é de assobiar para o lado. De fazer-de-conta que nada se passa. Bem pelo contrário, anda sempre em contraponto, com as palavras a rimarem com o silêncio insinuante da musa ou com as suas contradições. Os seus ditos e não-ditos. Sim, a poesia é o contraponto do silêncio que vem do outro lado da fala e da rua. Seja ele pura ausência, castigo ou indiferença. É uma dança que nunca termina. E os “penchés” não são fáceis de fazer. A poesia é como a dança: requer muita técnica para interpretar a melodia e o ritmo das musas, sendo que às vezes o poeta, tal como as bailarinas, tem de fazer 32 “fouettés” com palavras até quase cair, prostrado, no solo, no linóleo da sua vida e dos seus amores. Mas lá se levanta, sempre, agarrado a alguma palavra que ficou por dizer. Eterna despedida.
QUEM É ELA?
À pergunta, recorrente ou sempre latente, sobre quem é e como será a sua musa inspiradora, ele responde com a linguagem da poesia, que não é descritiva ou reveladora do referente, mas sim exclamativa e libertadora. Dionisíaca, sim, mas também apolínea. A poesia evoca e invoca ao mesmo tempo, onde a invocação, só por si, altera a forma de evocar. Lembra, mas suplica, ao ser evocado, inspiração. A invocação é, de facto, dominante, porque é ela que dá forças ao poeta. É certo que a linguagem poética não pode ficar prisioneira de um qualquer referente porque aspira a ser universal, como, de resto, é a pretensão de qualquer arte. Mas, de certo modo, fica, como estímulo e remota inspiração. A universalidade acontece, sim, na forma, mas sobretudo na partilha, num momento posterior à evocação/invocação. Muito do que se lê nos poemas, certamente já foi sentido na própria experiência existencial. Mas o que fica dito é mais do que aquilo que se viveu como experiência.
AMORES INACABADOS
Os amores dos poetas são sempre inacabados. Ou fracassados. É assim que nasce a poesia. para concluir o que não foi concluído. Ou resgatar o fracasso. E é por isso que eles precisam da poesia. Que, todavia, nunca consegue acabar o que um dia começou. Ela vai atenuando a dor do inacabado, mas não a resolve. Assim, o poeta fica condenado a subir ininterruptamente o Monte Parnaso, com as palavras às costas. E algumas pesam mesmo muito… tão carregadas de sentido que estão.
LIBERDADE
O poema que tem este título foi escrito para o 25 de Abril a pedido de uma leitora, para ser lido numa cerimónia de comemoração do 25 de Abril. Pintei também este quadro infra: “Liberdade”. Mas também poderia ter sido o meu “Pássaro de Fogo”, o pássaro da liberdade, na mitologia russa, que mais tarde viria a usar para ilustrar o mesmo poema. Mas também quis associar o amor entre um homem e uma mulher à liberdade conquistada de um povo, humanizando ainda mais a própria ideia de liberdade: dar-se as mãos e voar de mãos dadas no céu azul de um poema, tendo como horizonte a montanha e o seu ar frio, mas puro. Respirar liberdade com a alma, lá no alto. Um poema do Paul Eluard sobre a liberdade, relembrado por um Amigo, é muito belo porque escreve o nome da liberdade em cada sopro de vida, em cada gesto, em cada momento, “sur les champs de l’horizon /sur les ailes oiseaux /et sur le moulin des ombres”, sobre a lâmpada que se acende como sobre a lâmpada que se apaga… sobre tudo. E, tinha de ser, também, “sur le sable” e “sur la neige” – para recomeçar a vida com o poder de uma só palavra: liberdade. Belíssimo. JAS@06-2024

“Liberdade”. JAS 2024
“POLÍTICA E IDEOLOGIA NA ERA DO ALGORITMO”
Novo Livro de JOÃO DE ALMEIDA SANTOS (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, 262 pág.s)

A Capa do Livro. JAS. 06-2024
“POLÍTICA E IDEOLOGIA NA ERA DO ALGORITMO”
No próximo sábado, 1 de Junho, estará já disponível, em formato digital, este novo livro.
FICHA TÉCNICA Título: Política e Ideologia na Era do Algoritmo Autor: João de Almeida Santos Capa: João de Almeida Santos Design & Paginação: Pedro de Almeida Santos ISBN: 978-989-33-5389-9 Local: S. João do Estoril Ano: 2024 Copyright: João de Almeida Santos & Associação Cultural Azarujnha Editora: ACA Edições Rua Brito Camacho, nº 129, 2.º D.to 2765-457 - S. João do Estoril E-mail: acazarujinha@gmail.com
ÍNDICE INTRODUÇÃO I. A POLÍTICA NA ERA DO ALGORITMO A Política na Era do Algoritmo Apocalipse Now? Algoritmocracia Os Novos Spin Doctors e o Populismo Digital A Política Tablóide e a Crise da Democracia II. A DIREITA RADICAL A Democracia Iliberal A Direita Radical A Direita Radical em Itália III. A POLÍTICA DELIBERATIVA A Democracia Deliberativa Globalização, Capitalismo e Democracia IV. IDEOLOGIA - A LAVANDARIA SEMIÓTICA A Lavandaria Semiótica Woke Os Novos Progressistas Ideologia de Género e Luta de Classes Os Revisionistas e seus Amigos V. CONCLUSÃO VI. BIBLIOGRAFIA
TRATA-SE, COMO SE VÊ PELO ÍNDICE, de uma obra que, no essencial, se confronta com quatro grandes temas: 1) a democracia perante os progressos tecnológicos: plataformas digitais, TIC, internet, redes sociais, algoritmo, constitucionalismo digital; 2) a direita radical: a democracia iliberal, a doutrina e o caso italiano; 3) a democracia deliberativa, como solução para a crise de representação, e o novo espaço público deliberativo na era da globalização; 4) a ideologia woke e seus derivados – a caminhada política, rumo à hegemonia, da esquerda identitária dos novos direitos.
1.
São estes os grandes temas desenvolvidos neste livro. Um livro escrito de acordo com as normas da academia, mas com o objectivo de contribuir para a resolução dos grandes problemas com que hoje se confronta a democracia representativa, num registo teórico que procura ir além do paradigma da teoria política clássica, designadamente através de uma incursão analítica sobre estes temas com novas categorias mais adequadas à nova realidade dos meios de produção da política, da comunicação e da democracia.
2.
Senti necessidade de escrever este livro por duas razões essenciais: em primeiro lugar, porque não vejo a esquerda moderada a agir politicamente de acordo com os novos paradigmas emergentes, continuando subsidiária de velhos modelos de política, já desgastados e responsáveis pela sua crise actual, ou seja, produzindo política em movimento por inércia, por não dispor de novas categorias e de uma nova cartografia cognitiva, acabando por revisitar o seu próprio património ideal com a mundividência da chamada esquerda identitária dos novos direitos, ou seja, desviando-se progressivamente do confronto activo com as fracturas fundamentais da sociedade, que acabam por ser sobredeterminadas cognitivamente ou mesmo encobertas pela nova ideologia. Uma ideologia que encontra enormes afinidades em todas as doutrinas que recusam aquela que é a matriz liberal clássica da nossa própria civilização, desde a revolução da modernidade; em segundo lugar, porque considerei absolutamente necessário desmontar, não só a ideologia e a mundividência política da direita radical (em três capítulos), mas também, nas suas várias frentes, esta ideologia identitária dos novos direitos (em cinco capítulos), que tem vindo a ganhar terreno no seio do centro-esquerda, e até no próprio centro-direita, tornando-se não só um inadequado e até perigoso substituto da narrativa clássica da esquerda moderada, mas também o alvo privilegiado da direita radical, que acaba por a identificar como expressão doutrinária hegemónica do próprio establishment democrático. Em Portugal, não faltam exemplos da assunção pelo centro-esquerda desta ideologia, seja do discurso politicamente correcto seja da ideologia de género (na sua versão radical) ou do próprio wokismo. Versões que analiso exaustivamente no livro.
3.
Torna-se, pois, necessário, proceder a uma correcção de rota, retomando aquele que deve ser o caminho do centro-esquerda, não só através de um claro reposicionamento relativamente à tradição liberal clássica, a mesma que derrubou o Ancien Régime e o regime do privilégio (e bastaria, para o efeito, lembrar que há muito existe uma doutrina, com pergaminhos teóricos e de valor, chamada socialismo liberal), mas também de um reconhecimento da necessária evolução para uma democracia deliberativa, deixando para a esquerda radical a defesa e a promoção política desta ideologia identitária dos novos direitos. A distanciação em relação a esta corrente permitiria, além do mais, clarificar o terreno político do centro-esquerda relativamente à confusão intencional que a direita radical tem vindo a promover sobre esta nova ideologia da esquerda como a ideologia dominante do establishment. A democracia, enquanto regime plural e tolerante, convive bem com estas ideologias, desde que elas exibam um efectivo “patriotismo constitucional”, para usar o conceito de Habermas, mas não pode é deixar que elas se transformem em seus pilares estruturais, com o seu cortejo de dogmas intolerantes e atentatórios da própria liberdade. Cabe, pois, ao centro-esquerda (mas também ao centro-direita) ocupar o lugar que a modernidade e a própria democracia lhe tem vindo a confiar, adequando a sua doutrina e as suas práticas às profundas mudanças que estão a acontecer: rompendo com os graves desvios a que tem estado sujeito; recuperando uma ideia de política mais centrada nas expectativas da cidadania e na ética pública e menos endogâmica e corporativa; superando o obsessivo discurso “algebrótico” dos grandes números como discurso legitimador das políticas e suporte de uma visão meramente managerial da política, mas abandonando também essa visão cada vez mais caritativa do Estado Social e injusta para com aqueles que representam o pilar fiscal que suporta, no essencial, o orçamento de Estado (a classe média); e, finalmente, preocupando-se mais com a eficiência do aparelho de Estado, que não seja exclusivamente na cobrança dos impostos. Em síntese, corrigir o que não foi bem feito, os desvios e as insuficiências, em função de novas categorias e de uma nova cartografia cognitiva da sociedade actual.
4.
Foram estas, no essencial, as razões que me levaram a escrever este livro.
5.
O livro, que se segue ao que a ACA Edições já publicou e que se encontra esgotado (A DOR E O SUBLIME. Ensaios sobre a Arte, 2023), está disponível para venda, bastando contactar a Editora através do e-mail acazarujinha@gmail.com, manifestando o desejo de adquirir o livro na versão digital (5 Euros) e seguindo as instruções que a Editora dará (depósito na conta, envio de recibo e receberá o livro no mail indicado). Em breve ficará disponível a versão on paper, em edição limitada. A quem vier a adquirir o livro na versão on paper e o tiver já adquirido em versão digital será descontado o valor pago pela versão digital. Pode obter mais informações no site da ACA (em renovação), no Instagram e no Facebook: (https://www.instagram.com/aca_associacaocultural?igsh=MTkwNWE4MmQ0dTV3cw== e https://www.facebook.com/share/wGiqZFHpRTeMGUFi/ ) JAS@05-2024

AS FRONTEIRAS DO PODER JUDICIAL
João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 05-2024
A PROPÓSITO do famoso Manifesto dos 50 sobre a necessidade de reformar a justiça e, claro, a propósito do ainda mais famoso parágrafo do comunicado que o suscitou e que haveria de acabar com o governo de maioria absoluta do PS, pareceu-me oportuno repropor, com excepção da pequena parte relativa ao primeiro subtítulo, por nada de novo acrescentar em relação ao que aqui está em causa, e de pequenas actualizações, alterações de forma e de oportunidade, o essencial do artigo que publiquei num jornal digital (“Tornado”), em 5 de Janeiro de 2018, e que viria a ser reproduzido na íntegra, e com destaque de primeira página, no jornal angolano “O País”, sobre o caso da acusação judiciária ao Vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente. Tratando-se de um caso com pesadas consequências internacionais – diria mesmo um caso-limite – permite compreender melhor a atenção que devem merecer certos processos judiciais (este, em análise, ou o mais recente da queda do XXIII governo constitucional) pelas relevantes implicações que eles têm sobre o sistema político e, neste caso, também sobre as próprias relações internacionais. Este artigo é o primeiro de outros que aqui irei publicar sobre esta matéria.
INTRODUÇÃO
A acusação formal ao Vice-Presidente de Angola pelo Ministério Público português, num caso de corrupção, suscitou-me algumas reflexões que gostaria de partilhar. Porque, na verdade, o caso me pareceu politicamente muito complexo e delicado. Em particular, pelos efeitos que provocou no sistema de poder angolano, quando estava em curso um processo eleitoral e uma complexa transição de poder, mas também nas relações bilaterais, tendo causado a suspensão da visita da Ministra da Justiça a Angola. E até me pareceu que seria legítimo pensar, pelo simbolismo e alcance da decisão, que o Ministério Público português acabou por assumir o poder de “declarar guerra” a um Estado estrangeiro soberano. Sim, porque Manuel Vicente era um cidadão estrangeiro, número dois do Estado angolano e, por isso, também detentor de imunidade diplomática, não se sabendo sequer qual o destino que teriam as cartas rogatórias enviadas e não estando o alegado ilícito enquadrado no raio de acção do Tribunal Penal Internacional, dada a sua natureza. Temos, pois, neste caso, ingredientes mais do que suficientes para suscitar uma reflexão profunda sobre os limites da acção do Ministério Público (MP). Num registo muito claro e limitado: a acção e os seus efeitos sobre o sistema de poder angolano e sobre as relações entre os nossos dois países. Trata-se de um caso extremo e isso ajuda a compreender melhor o traçado das fronteiras do poder judicial (ou judiciário).
O CASO
Um procurador português foi acusado de ter arquivado um processo que visava Manuel Vicente – acusado formalmente pelo MP, enquanto corruptor -, a troco de dinheiro. Coisa grave, sem dúvida. A começar pelo próprio MP que, através de um dos seus, se viu envolvido em actos de corrupção. E a acabar em alguém que se encontrava nesse momento no vértice de um Estado soberano com quem Portugal tem relações muito estreitas. E é aqui que surge o problema e a dificuldade. Ou seja, o problema da relação entre meios e fins, entre causas e efeitos, quando a desproporção se torna gigantesca, colocando-se a questão da adequação de uns em relação aos outros. E quando os efeitos se tornam incomensuravelmente maiores do que as causas, como dizia François Furet a propósito das causas e dos efeitos da Grande Guerra sobre a história mundial. Pode haver pequenos gestos (que até sejam correctos) que, por conterem em si um grande potencial devastador, devam ser muito bem avaliados antes de serem praticados. Às vezes, o problema até se pode resolver com o bom-senso. Mas quando se trata de instituições do Estado é mesmo obrigatório introduzir sempre nos processos decisionais a variável “consequências” (sobre a sociedade, sobre as gerações futuras ou sobre as relações internacionais). Porque, na verdade, alguns actos de normal e justificada administração podem induzir efeitos em boomerang tão intenso sobre o sistema que seja aconselhável evitá-los ou tratá-los com o maior cuidado. No caso do Vice-Presidente de Angola, os autores da acusação formal e a hierarquia do Ministério Público calcularam os efeitos devastadores que esta acusação formal – e a correspondente divulgação – poderia ter? Angola é um Estado soberano e o acusado era a segunda figura deste Estado. Não poderia esta acção vir a ser considerada, como, de resto, foi, um acto de agressão de Portugal a Angola, com todas as consequências que isso poderia ter, designadamente para as empresas e pessoas que estavam estabelecidas neste país e para as relações entre dois Estados soberanos com tantos interesses comuns? O MP tem o poder de “declarar guerra” a um Estado soberano, provocando efeitos infinitamente superiores à causa que motivou essa acção? Alguém diria: “É a política, estúpido!”. E com razão.
ESTRANHAS COINCIDÊNCIAS
O que não deixa de ser curioso é que Manuel Vicente foi também atingido na Operação Marquês, por contactos mantidos com José Sócrates, ao mesmo tempo que era uma figura em queda no sistema de poder angolano, primeiro na Sonangol e, depois, na Presidência, uma vez que foi preterido em relação ao então anunciado sucessor de José Eduardo dos Santos, João Lourenço. A pergunta maliciosa que ocorre fazer é a seguinte: com esta acusação não estava o Ministério Público português a interferir no processo de defenestração política de Manuel Vicente, em Angola? Se o visado fosse, por exemplo, João Lourenço o MP agiria nos mesmos moldes? E com que consequências? E esta acusação tinha alguma relação simbólica com o desenlace da Operação Marquês (por via de Sócrates e de Ricardo Salgado)? Porquê, então? O “Expresso” dava, então, bem conta dos efeitos desestabilizadores que esta acção do MP estava a ter numa Angola que se preparava para eleições, para uma profunda transição no poder e para novos reequilíbrios de poder.
De qualquer modo, e até por estas razões, este era um dos casos em que o efeito era certamente muito superior à causa e, por isso, deveria ter sido tratado com o necessário cuidado.
O PAPEL DA PROCURADORA-GERAL
DA REPÚBLICA
A pergunta que ocorre fazer é a seguinte: que papel teria tido neste processo a Senhora Procuradora-Geral da República (PGR), enquanto máxima responsável do Ministério Público e pessoa (formalmente) da confiança do poder político? Calculou os efeitos que esta acção do MP iria ter em Angola? É que, pela natureza do cargo, a PGR tem particulares responsabilidades na gestão de dossiers desta natureza, ou seja, de matérias que implicam níveis mais elevados de poder institucional e mais ainda quando se trata de Estados estrangeiros. Não é por acaso que o PGR é proposto pelo Primeiro-Ministro, é nomeado pelo Presidente da República e não tem de ter requisitos formais iguais aos dos outros magistrados. Ou seja, em palavras muito claras, o PGR tem funções que ultrapassam em muito o plano meramente jurídico, devido à sua posição de charneira, de ligação e de interface do poder político com o poder judiciário. Mesmo que os seus poderes sejam limitados, o PGR tem certamente de estar em condições de, pelo menos, exercer uma responsável e eficaz “magistratura de influência”. Para não dizer, de accionar o poder hierárquico de que dispõe. Caso contrário, verificar-se-á um injustificável desequilíbrio entre o seu estatuto e o seu efectivo poder. Por isso, se esta acção do MP fosse considerada como intempestiva e politicamente disruptiva, a Senhora Procuradora-Geral da República teria nisso a sua quota parte de responsabilidade. E, se assim fosse, não deixaria de haver quem passasse a ter saudades dos tempos do PGR Cunha Rodrigues (há dias, na entrevista ao DN, 17.05.2024) considerado por Francisca Van Dunem o melhor PGR “que este país já teve”). Não se discute, de modo algum, que a justiça deva ser cega. Mas, certamente, existem bordões procedimentais que podem ajudar na escolha do caminho mais adequado…
OS MEDIA E A JUSTIÇA
Este assunto chama a atenção uma vez mais – e é isso que aqui, no essencial, está em causa – para o poder excessivo que o poder judiciário está a exibir, e não só em Portugal. Este poder está a transformar-se cada vez mais numa sofisticada e eficaz arma de luta pelo poder. Alguns já usam um conceito para o designar: lawfare. Sobretudo quando se verifica uma crescente personalização da política e, por isso, uma mais fácil imputabilidade (ética e judicial) de quem detém o poder. E, neste processo, o establishment mediático tem-se constituído como importante parte activa, tornando-se ele próprio protagonista de investigações muito pouco claras quanto aos fins. Um ministro ameaça com as suas decisões a posição de um canal televisivo, logo põem 15 ou 20 jornalistas a investigar a sua vida e, depois, com resultados à mão, julgam-no em prime time, ao mesmo tempo que accionam um processo judicial. Chama-se a isto jornalismo de investigação. Que tanto pode ser honesto como desonesto, não esquecendo que os media se comportam como um poder, como referido pelo Tocqueville de “Da democracia na América”. Os casos abundam, para um lado e para o outro. Mas uma coisa é certa: as garantias (jurídicas) que ao longo dos séculos foram penosamente conseguidas, caem como castelos de cartas perante esta novíssima forma de “administração da justiça”. Os casos são cada vez mais frequentes. Acresce, ainda, que se tem vindo a verificar uma promiscuidade absolutamente intolerável entre o poder judiciário e o establishment mediático na gestão dos processos. O mais conhecido é o do ex-Primeiro-Ministro José Sócrates, com a divulgação ao minuto das peças processuais obtidas por assistentes ao processo que continuam a desempenhar as suas funções de jornalistas sobre o mesmo processo onde são assistentes, mandando às urtigas o código ético a que estão obrigados. O segredo de justiça já passou à história, ultrapassado que foi pelos factos. Não é, todavia, de hoje esta promiscuidade, havendo já uma vasta bibliografia sobre o assunto. O Alain Minc tem dois livros sobre o assunto (L’Ivresse Démocratique, de 1995, e Au nom de la Loi, de 1998).
SEPARAÇÃO DE PODERES?
Mais interessante ainda é a posição dos próprios agentes políticos sobre tudo isto. Em Portugal assobia-se para o lado, na esperança de que a vida pessoal não venha a ser investigada por jornalistas ou pelo Ministério Público, não se compreendendo que, assim, já se está a agir sob coacção, aumentando o poder de quem subtilmente infunde medo. A fórmula é conhecida e já enjoa: “à política o que é da política, à justiça o que é da justiça”; e, já agora, “à imprensa o que é da imprensa”, enquanto, no mais indefinido dos critérios, tudo é considerado de “interesse público”. Muito bem, até poderia ser se a justiça e um certo jornalismo não estivessem cada vez mais a entrar no terreno da política, exorbitando claramente das competências e funções. É-se escutado e investigado, directa ou indirectamente, a pretexto de uma denúncia, que até pode ser anónima. Um modo cómodo e até agradável de investigar, sobretudo se for depois de “refeiçoar”. O espectro de um big brother, que não é político, paira sobre a nossa frágil democracia. É certo que a separação de poderes é fundamental, mas também é certo que os poderes, sendo separados, não são hierarquicamente iguais. E, mais, a separação não pode ser válida num só sentido, o de quem tem o poder de escutar e de perseguir criminalmente. Na verdade, enquanto a legitimidade do poder legislativo é de natureza, digamos, ontológica, a do poder judicial é de natureza derivada e meramente técnica. Só que esta tecnicidade, a que acresce autonomia plena, já se tornou verdadeiramente ontológica, tal foi a mudança qualitativa e o crescimento do seu poder invasivo junto dos outros poderes.
A ANEMIA DO PODER POLÍTICO
A verdade é que por muitas outras razões – designadamente devido à globalização, à dependência dos mercados financeiros internacionais, a que se juntam as famosas agências de rating, à crise da representação, à personalização excessiva do poder e à natureza do novo espaço público – o poder político de natureza representativa está cada vez mais anémico. Mas também é verdade que os agentes políticos nada fazem para reverter a situação, deixando-se, por um lado, nas mãos dos populistas (como está a acontecer) e, por outro, nas mãos de outros poderes (designadamente o mediático e o judiciário) de que estão a ficar, e cada vez mais, reféns. Até pelas fragilidades pessoais que uma boa parte das elites tem vindo a revelar perante a cidadania.
Tudo estaria bem se por detrás desta utopia interesseira e perigosa da transparência total não estivessem também interesses ocultos que se protegem iluminando com os holofotes de serviço os pecadores presentes no palco da política, ao mesmo tempo que favorecem aqueles que, nos bastidores, melhor sintonizam com as suas próprias estratégias e interesses.
ENFIM...
Regressando, pois, ao começo deste artigo, o caso de Angola (tal como o mais recente ocorrido no dia sete de Novembro) levanta uma questão de fundo acerca dos limites da acção do Ministério Público, quando se verifique que ela se inscreve num claro quadro onde os efeitos globais superam em grande medida as causas, implicando dimensões que interferem directamente no funcionamento global do sistema social ou das relações internacionais. O que parece ser o caso de Angola: anulada a visita da Ministra da Justiça (por acaso de origem angolana), em causa a visita oficial do PM a Angola para a resolução de urgentes problemas financeiros das empresas que lá operavam, eleições presidenciais, transição do poder, complexos reajustamentos no sistema de poder angolano, etc., etc…
O poder judiciário tem o dever de se proteger a si próprio, porque quando assistirmos ao fim da sua própria credibilidade, depois da queda de credibilidade do sistema financeiro, o caminho ficará aberto para soluções onde todos temos a perder, incluído ele próprio. E os populismos estão a encontrar cada vez mais terreno fértil para a conquista de um poder que tenderá a não respeitar, esse sim, a separação de poderes. JAS@05-2024

O DUPLO VALOR DAS EUR0PEIAS
João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 05-2024
DIGO-O DE IMEDIATO: as legislativas deixaram um quadro político algo confuso e frágil, com um partido a governar sem condições para exercer realmente o poder executivo (por mais aeroportos, pontes ou TGVs que anuncie), dando forma a uma efectiva separação de poderes, que tão maltratada tem sido no nosso país. Talvez seja por isso que, paradoxalmente, Luís Montenegro diz que está a gostar muito de ser primeiro-ministro – uma certa sensação de inebriante vertigem de quem sente ali ao lado a força gravitacional do precipício. Há até quem já identifique, e com alguma razão, a governação através do conhecido conceito de governo de assembleia, baseando-se nas mais recentes medidas impostas pelo parlamento.
1.
Na verdade, não estamos perante a clássica geometria da relação binária entre maioria e minoria, mas sim perante três blocos políticos em geometria variável, onde o bloco que governa é somente o segundo em força parlamentar, a seguir ao bloco da esquerda, pois rejeita (veremos até quando) a mobilização política da ala mais à direita da geografia parlamentar. Está, pois, preso apenas por dois deputados (os do CDS), que, em boa verdade, para mais nada servem, ou serviram, do que para justificar a indigitação do líder da AD (isto é, do PSD) como primeiro-ministro. Em síntese, não se tratando de uma maioria absoluta, também não se trata sequer de uma maioria relativa. É, sim, uma absoluta minoria sem suficiente legitimidade para governar. Na verdade, quem governa é o partido que, não sendo o maior partido da Assembleia, recusa, mesmo assim, sistematicamente, assumir a necessária aliança com a direita radical, ou seja, com o CHEGA. É um facto comprovado que a formação do actual governo teve como condição implícita a impossibilidade de a esquerda de maioria relativa (em relação ao dito bloco do centro-direita) poder formar governo, por uma única razão: a declarada oposição do partido CHEGA e, claro, da AD. Ou seja, pela oposição de 138 deputados, num parlamento de 230. Mas a convergência acabou aí, como se está a ver. Não se verificou na eleição do PAR, no IRS, nas portagens. Viu-se agora, e mais uma vez, a convergência com o PS, no caso do novo aeroporto. E também já se percebeu que o CHEGA nunca aceitará fazer acordos ocultos, por baixo da mesa, com o PSD, por razões facilmente compreensíveis. Com a dimensão que tem, ele exigirá sempre público reconhecimento de eventuais acordos (de governo ou parlamentares) que venha a celebrar com o PSD. O que é natural: aspira a ser reconhecido como força política que pode legitimamente integrar o arco governativo. Alguém dizia, e com alguma razão, que, nestas condições, ou circunstâncias, o verdadeiro adversário do CHEGA já não é o PS, mas sim o PSD, porque a sua ambição é mesmo vir a superá-lo eleitoralmente, colocando-se, então sim, como efectiva alternativa de poder ao PS. Ventura terá sempre bem presente o que aconteceu em Itália com o partido Fratelli d’Italia. Disso não duvido.
2.
Nestas circunstâncias, o actual quadro político não pode gerar clareza em relação ao processo decisional. Vive-se num ambiente de grande mobilidade ou de aleatoriedade decisional. O que é reforçado ainda mais pela atitude de manifesta arrogância de um governo que não tem suporte nem legitimidade que bastem no quadro parlamentar. Mas talvez seja isso mesmo: uma certa vertigem inebriante devida à proximidade do precipício. O que acontece é que, no fim, o cidadão não fica em condições de poder imputar com clareza a responsabilidade pelo que, no fim dos complexos processos de decisão, acabará por acontecer nas matérias que forem sujeitas a intervenção parlamentar. E ao governo restar-lhe-á sempre a possibilidade de dizer, qual patinho feio, que não o deixam governar, colocando-se, assim, na posição de vítima para pedir compaixão eleitoral à cidadania em próximas eleições, transformando-se, então, num belo cisne.
3.
É por isso que me parece que estas eleições europeias poderão ser decisivas para alavancar decisões clarificadoras em relação ao actual quadro político. Até porque não será olhando para os programas eleitorais europeus dos dois maiores partidos que o cidadão poderá orientar o seu voto, dada a forte convergência de linguagem e de posicionamento em relação à União Europeia, de resto, muito pouco instrutivos para a decisão (que, na origem, significa precisamente escolha). Mas também não será olhando para as escolhas partidárias dos candidatos a eurodeputados, pouco claras em relação à genuinidade da vocação europeia dos que aspiram a sentar-se na bancada do PE ou à eficácia da sua acção enquanto europarlamentares. Atenho-me, como se compreende, aos critérios de escolha dos candidatos e não às suas qualidades pessoais. Refiro-me, por exemplo, à escolha dos cabeças de lista, de deputados acabados de eleger para a AR, de autarcas em fim de mandato, dando ideia de que se trata mais de compensação por serviços prestados ou por aposta na visibilidade televisiva dos candidatos do que de qualquer outro critério. Por isso, talvez nunca, como desta vez, o voto para o PE tenha tido um significado nacional tão intenso, a par de um significado europeu tão pífio, se atendermos aos programas apresentados, uma ronda discursiva em europês e essencialmente em torno do que já está em curso na UE. Melhor, talvez nunca eleições europeias tenham suscitado um tão intenso imperativo nacional do voto como este. Sou europeísta convicto (fiz na Europa uma boa parte da minha vida), mas mesmo vivendo (ou tendo vivido) a União Europeia – com o COVID, a Guerra Rússia-Ucrânia e a crise da energia que dela resultou, a crise inflacionista e a alta de juros, a situação explosiva no Médio-Oriente, a pressão migratória, o avanço europeu da extrema-direita – uma situação tão complexa e delicada como a presente, a verdade é que nem a dimensão da nossa representação (21 eurodeputados em 705) nem a vocação europeia dos candidatos a representantes ou a qualidade das propostas que os dois partidos avançam nos seus programas eleitorais resultam ser tão importantes para o eleitor como a urgência de uma clarificação em matéria de política interna. Este voto será mais útil politicamente se for determinado pela situação política nacional do que se for determinado pelas variáveis em causa numa eleição europeia. Pelo menos nas condições em que esta agora ocorre. Já quanto ao CHEGA, se a sua pulsão eleitoral, em termos nacionais, é clara, também o seu posicionamento europeu o é, pois ele, sem propor a saída da União, alinha com uma visão minimalista da União alicerçada num soberanismo assente numa Europa da Nações. E, todavia, o resultado que este partido obtiver será também de grande importância para uma clarificação do quadro político interno.
4.
A verdade é que se se verificar uma clara derrota da chamada AD, então ficará claro que urge mudar de vida e preparar rapidamente uma nova ida a votos em legislativas para obter um quadro político mais definido e eficaz e uma governação com efectivo suporte parlamentar e maior legitimidade. Ou, então, provocar uma mudança profunda nas relações políticas à direita de modo a que esta possa governar num quadro estável com uma maioria absoluta no parlamento. Que existe e é (numericamente) robusta. Só que esta solução não poderia contar com o actual primeiro-ministro, dada a sua reiterada inflexibilidade em relação ao CHEGA. Muitas serão as vozes que, neste caso, se levantarão a exigir que se ponha de pé esta última solução, argumentando, não sem alguma razão, que, por um lado, em ulteriores eleições o quadro actual não mudará substancialmente e que, por outro, é isto que já se verifica em inúmeros países da União. Ou seja, a direita nunca poderá dispor de uma maioria absoluta se não integrar o partido CHEGA numa solução de governo ou pelo menos parlamentar. Os resultados europeus ajudarão a clarificar este quadro.
5.
Estas eleições são, pois, mais decisivas para clarificar o quadro político interno do que para eleger qualificados representantes de Portugal no Parlamento Europeu que possam promover, neste quadro, um país mais influente e uma melhor União. Acresce que, olhando para os programas eleitorais dos dois partidos, o que se constata é que muitas matérias importantes ficaram fora dos programas eleitorais: 1) Como promover uma consistente e necessária cidadania europeia, aquela que o CHEGA rejeita? 2) Que reforma institucional para a UE, de modo a tornar possível a sua emergência como efectivo protagonista internacional dotado de poder de decisão e de legitimidade directa? 3) A questão de uma Constituição para a União foi definitivamente abandonada? Qual a posição destes dois partidos sobre esta matéria? 4) Que é feito do projecto de harmonização fiscal na União? 5) A União deve limitar-se a fiscalizar as grandes plataformas digitais americanas (e a chinesa do Tik Tok) ou deve ela própria promover a criação de uma potente plataforma digital europeia, visto o poder destas plataformas sobre os processos eleitorais, a ponto de se poder dizer que já correspondem a uma efectiva terceira constituency (depois da do cidadão contribuinte e da das grandes plataformas financeiras que detêm dívida pública)? 6) E, já agora, por que razão os dois partidos não mencionam sequer a necessidade de reforçar o protocolo entre a Comissão Europeia e as grandes plataformas digitais (Google, Youtube, Facebook, X, por exemplo) para combater a desinformação, tal como aconteceu nas eleições de 2019? 7) O mesmo vale para as agências de rating, poderosas avaliadoras do estado financeiro de empresas e países, gerando efeitos substanciais sobre o serviço da dívida – para quando, pois, a criação de uma agência de rating europeia? 8) E, a quem tanto defende a língua portuguesa, não será legítimo perguntar por que razão o “esperanto” da União Europeia é, cada vez mais, uma língua que nem sequer é língua nativa de algum país da União, com consequências devastadoras para as línguas dos países membros, em vários planos? 9) Que sentido faz virem (PS e PSD) falar de uma quinta liberdade, a do conhecimento e inovação, a que o senhor Enrico Letta se refere, como se isso não existisse já (até em excesso, quase diria), a começar logo pelo protocolo de Bolonha? A verdade é que em Portugal nada vale em matéria de investigação e de inovação se não for internacionalizado e escrito em inglês; 10) Que concreta avaliação global é feita do mandato da senhora Ursula von der Leyen, uma vez que vai ser escolhido um novo presidente da Comissão? 11) E que balanço da acção do PE, que cessa funções, designadamente do trabalho das nossas representações? 12) Como resolver concretamente o caos do fenómeno migratório, sem perder a face humanista, mas pondo ordem no processo e sobretudo resolvendo esse sentimento de culpa que parece estar a ser sofrido pelos europeus e a ser injustamente induzido na opinião pública? 13) As competências do PE já atingiram o seu zénite e não precisam de ser reforçadas, designadamente em matéria de iniciativa legislativa?
6.
Muito mais haveria, pois, a dizer do que aquilo que se encontra nos programas dos dois principais partidos, sendo também certo que a transição digital e ecológica está em curso, que o accionamento tempestivo de resposta a crises foi feito e com sucesso na crise energética e na crise sanitária, que a resposta comunitária, em matéria de sanções, à invasão russa da Ucrânia foi rápida e unânime, que o modelo social europeu é um virtuoso exemplo mundial, que a intervenção financeira do BCE já conheceu momentos de grande eficácia comunitária (com Draghi, por exemplo) e que já existe também um Banco Europeu de Investimento, que a conectividade (nas zonas de baixa densidade) está na ordem do dia (também em Portugal, embora esteja a ser feita de forma absolutamente inaceitável, com fios colocados em arraial-minhoto e em total insegurança – veja-se, por exemplo, o concelho da Guarda), e que, finalmente, a igualdade de género está na ordem do dia. Sim, tudo isto e muito mais, mas é também certo que alguma responsabilidade caberá aos Estados Membros na resolução do problema da habitação e do da protecção dos desempregados, não sendo aceitável que, um dia destes, acabemos por ver os partidos da alternância, aproveitando o balanço destes seus programas eleitorais, dizer que a culpa da falta de habitação ou da insuficiência do apoio aos desempregados é toda ela da União Europeia, alijando, de vez, as responsabilidades. O primeiro andamento já se conhece: o problema – ou os problemas – não é só nacional, pois toda a União o está a sofrer. O segundo andamento será, pois, o de exigir à União que o resolva…
7.
Chegados aqui, apetece-me mesmo dizer o que o outro dizia sobre uma tese de doutoramento em apreciação: a sua tese tem coisas originais e coisas boas, só que as coisas boas não são originais e as coisas originais não são boas. Foi mais ou menos esta a sensação com que fiquei ao ler os dois programas eleitorais. Que me perdoem os que os escreveram, mas é verdadeiramente o que penso. E até penso em algo mais: que os programas deveriam ter o essencial dos curricula dos candidatos (afinal, é a eles, e não aos programas, que nós elegemos) e que, em vez de listas de medidas avulsas, os programas deveriam apontar somente as principais prioridades e de forma argumentada. Afinal, os programas são instrumentos que servem para ajudar o eleitor a tomar as suas decisões em relação aos candidatos a eleger (embora a coberto de siglas partidárias e em listas fechadas).
Já quanto ao programa do terceiro maior partido, o do CHEGA, é, como vimos, o que já se esperava: soberanista, minimalista em relação à União e anti-federalista. Defende a permanência na União, mas na sua versão minimalista, em coerência com aquela que é a visão dominante na direita radical europeia – a Europa da Nações.
8.
Termino, fazendo, em nome do que fica dito, uma confissão pessoal: o meu voto será muito mais determinado pelos seus efeitos na política nacional do que pelo entusiasmo que me possa motivar a proposta programática ou os candidatos do meu próprio partido, o PS, no qual votarei. JAS@05-2024

AUTOBIOGRAFIA DE UM JORNALISTA
(Nova versão, revista e aumentada)
Giovanni VALENTINI Il Romanzo del Giornalismo Italiano. Cinquant’anni di informazione e disinformazione (Milano, La Nave di Teseo, 2023) Por João de Almeida Santos

“GiV – Perfil de um Jornalista”. JAS. 05-2024
CONHECI-O pessoalmente há uns largos anos, quando fui convidado a fazer o Elogio de um poeta italiano, Corrado Calabrò (*), na cerimónia de entrega do Prémio Damião de Góis, pela Universidade Lusófona, em Junho de 2016. Giovanni Valentini estava presente e no fim da cerimónia tivemos uma breve conversa, onde tive oportunidade de o informar de que, na realidade, já o conhecia desde os tempos em que vivi em Roma, para onde fui preparar, em 1978, no Instituto Gramsci, uma tese de doutoramento sobre Antonio Gramsci. Por lá fiquei dez anos. Esse ano, o de 1978, foi um ano especial em que Aldo Moro foi raptado e assassinado pelas Brigate Rosse, mas também o ano da eleição de Karol Woytila, como Papa Giovanni Paolo II. Foi também o ano em que la Repubblica deu um grande salto em frente em notoriedade e difusão devido, em parte, ao tratamento do caso Moro e até à célebre fotografia em que o prisioneiro das BR tinha este jornal nas suas mãos. Ficámos amigos e dialogamos regularmente sobre a situação política italiana e portuguesa. E não só.
1.
Em primeiro lugar, o conteúdo de “Il Romanzo del Giornalismo Italiano” em 19 pontos.
- Filho de arte, o Pai, Oronzo Valentini, a Gazzetta del Mezzogiorno e a ida para Roma como correspondente no Parlamento (1972).
- Ingressa em Il Giorno (1956), em 1974. Um jornal de centro-esquerda, com colaboradores de prestígio como Umberto Eco, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Bocca, Alberto Arbasino, Antonio Cederna ou Vittorio Emiliani (que viria a ser director de Il Messaggero de Roma – 1981-1987). O “Caso Mattei”, a suspeita morte do presidente de ENI relacionada com a sua política sobre o petrólio.
- 1975 – Ingressa no jornal la República, que estava a nascer. Valentini participa na elaboração do números experimentais do “semanário que sai todos os dias”, com a “falange macedone” que se prepara para lançar um jornal de opinião e de massas, liberal de esquerda, politicamente comprometido, mas independente. O nome, por influência do caso do jornal português “República”, no período revolucionário de Abril. O “compromisso histórico”. De Martino dá lugar à liderança de Craxi no PSI. A vitória de Zaccagnini na DC.
- A experiência de L’Europeo (1945-1995), entre 1977 e 1979. Angelo Rizzoli consulta os partidos políticos antes de convidar Valentini para Director. O caso Moro (1978). A morte de Papa Luciani e a chegada de Papa Woytila. A P2 de Licio Gelli. O conflito com o “piduista” Tassan Din e o regresso ao Grupo L’Espresso-Repubblica.
- Vai para Padova (1979) dirigir dois jornais do Grupo: “Il Mattino di Padova” e “Tribuna di Treviso”, onde fica até 1981. Padova, a capital política da revolta estudantil. Autonomia Operaia e Tony Negri.
- Vai para Milão dirigir a delegação de la Repubblica. Uma proposta de Berlusconi, que recusa, apesar de a proposta lhe duplicar o salário, para trabalhar com ele. O Cardeal Carlo Maria Martini, sobre o qual escreveria um livro. O jornal tem em Milão 14% da difusão nacional.
- Em 1984 vai dirigir “L’Espresso”, onde ficará sete anos. O comportamento indecoroso do director Livio Zanetti e o “cerchiobottismo” (“uma no cravo outra na ferradura”) de Paolo Mieli; a colaboração de Giuliano Amato, de Umbetco Eco (a famosa “Bustina di Minerva”) e dos escritores Alberto Moravia e Enzo Sicialiano; o jornalista Giampaolo Pansa e o excelente e imaginativo vinhetista Forattini. A operação TV de Silvio Berlusconi, que haveria de levar à criação de Canale 5, Retequattro e Italia Uno. A orientação ambientalista da revista.
- Os casos de Enzo Tortora (apresentador televisivo), o “spinello” (ou ganza) de Claudio Martelli (ex vice-primeiro-ministro de Craxi), Cossiga (ex Ministro do Interior e futuro PR) e a operação “Gladio” (uma organização militar secreta).
- O Grupo L’Espresso passa a Carlo de Benedetti.
- Valentini, em 1991, volta a la Repubblica e em 1994 torna-se vice-director de Scalfari, ficando até 1988, já com a direcção de Ezio Mauro. É criada a página digital do jornal.
- 1996 – la Repubblica muda de director e com Ezio Mauro, vindo de La Stampa, começa a entrada da FIAT. Para desgosto de Mauro, Valentini mantém-se como vice-director até 1998.
- Entrevista Antonio di Pietro, onde este avança com o conceito de “corruzione ambientale”, conceito-chave para compreender a atmosfera da Milão daquele tempo e Tangentopoli.
- Vai para a Tiscali, a empresa de Internet, de Renato Soru, mas, em 2004, regressa ao Grupo Editorial “L’Espresso” como “inviato editorialista” de AGL (a Agenzia Giornali Locali).
- Pacto financeiro entre Berlusconi, primeiro-ministro, e Carlo de Benedetti.
- “Il Mistero della Sapienza” – a morte de uma jovem estudante na Cidade Universitária de Roma, sobre a qual haveria de escrever um livro de sucesso.
- A traição do jornal la Repubblica e o corte definitivo de Valentini com o jornal, já no fim da direcção de Ezio Mauro.
- De la Repubblica a Il Fatto Quotidiano, depois de consumada aquela que Marco Travaglio haveria de chamar “Stampubblica”, a “fusão” de La Stampa com la Repubblica, com a passagem do controlo proprietário à FIAT, onde passaria a publicar a sua rubrica “Il Sabato del Villaggio”.
- “Barbapapà” – as suas relações com Eugenio Scalfari.
- Finalmente, reflexões sobre o jornalismo hoje e o jornalismo online, em dois subcapítulos diferentes.
É este, numa curta descrição, o conteúdo do livro.
2.
Este livro é uma biografia de Giovani Valentini, ou GiV, mas contada a partir da sua experiência profissional, na qual, pela própria natureza da profissão, convergia uma parte importante da história de Itália, em particular da sua história política e editorial. Tendo trabalhado, como vimos, em Il Giorno, em la Repubblica, L’Europeo e L’Espresso, meios de comunicação muito relevantes no panorama editorial italiano, e, coisa não de somenos, tendo sido fundador e subdirector de la Repubblica e director dos dois semanários durante cerca de dez anos, pôde conviver com a maior parte dos protagonistas da vida política, editorial e económica italiana, chegando, assim, ao conhecimento dos seus mais importantes dossiers. E é precisamente isso que Valentini nos conta neste livro, que é mais um dos tantos que escreveu: “Um certo Carlo Maria Martini – La rivoluzione del Cardinale”, “Intervista su Tangentopoli”, “Il Mistero della Sapienza”, “Media Village”, “La Scossa”, “La Repubblica tradita”, para não citar os três romances publicados, de forte inspiração portuguesa, onde há vários anos vai vivendo de forma intermitente. Um dos romances, o primeiro, começa com um jantar que realmente aconteceu, no bairro lisboeta da Graça, com Valentini, a sua esposa, Anna Maria, e eu próprio e Teresina, a minha mulher, onde conhecemos o casal de jovens americanos que haveria de se tornar o centro da narrativa.
3.
Mas a sua profissão também lhe permitiu conhecer grande parte da elite política, jornalística, económica e intelectual italiana. Percorrendo o livro pude encontrar lá muitos dos personagens que eu próprio conheci, não pessoalmente, mas através da sua obra ou da sua acção. Seria demasiado referir aqui todos os nomes, mas permito-me referir alguns pelo seu relevo no livro, as funções desempenhadas ou a participação em episódios relatados: Eugenio Scalfari (Director de la Repubblica), Carlo Caracciolo (Presidente do Grupo L’Espresso), Umberto Eco (Filósofo, semiólogo), Giovanni Sartori (Cientista Político), Giampaolo Pansa (Jornalista), Forattini (Vinhetista), Angelo Rizzoli (Presidente do grupo Rizzoli), Maurizio Costanzo (Apresentador de televisão), Tassan Din (Empresário), Carlo Maria Martini (Cardeal), Paolo Mieli (Jornalista e ex-director do Corriere della Sera), Giuliano Amato (Ex-Primeiro-Ministro), Alberto Moravia (Escritor), Oscar Luigi Saclafaro (Ex-Presidente da República), Massimo D’Alema (Ex-primeiro-ministro), Berlusconi (Ex-primeiro-ministro), Enzo Tortora (apresentador de televisão, acusado de traficante de droga), Claudio Martelli (Ex-vice-primeiro-ministro), Carlo de Benedetti (Presidente do Grupo CIR – Olivetti), Carlo Azeglio Ciampi (ex-primeiro-ministro e ex-PR), Mario Segni (político da área DC), Mino Fucillo (Jornalista), Giuseppe Tatarella (vice-primeiro-ministro e membro de Alleanza Nazionale), Ezio Mauro (Jornalista), Antonio di Pietro (Magistrado Judicial – Mani Pulite), Water Veltroni (Ex-Secretário-Geral do PD), Renato Soru (Empresário), Giovanni Pitruzzella (Presidente Anti-Trust), Antonio Padellaro (Jornalista), Marco Travaglio (Director de “Il Fatto Quotidiano”). Estes nomes podem dar uma ideia da vastidão, da importância e do significado do que está em causa neste livro.
No livro não são referidos alguns nomes importantes da vida política italiana, porque não se cruzam com a evolução e a economia da narrativa. Cito somente alguns: Gianfranco Fini (Alleanza Nazionale), Beppe Grillo (M5S), Gianroberto Casaleggio (M5S), Matteo Renzi (Ex-primeiro-ministro), Matteo Salvini (ex-vice primeiro-ministro e líder da LEGA), Giuseppe Conte (ex-primeiro-ministro).
4.
Ocorre também sublinhar, agora de forma mais analítica, os mais importantes acontecimentos que são objecto da atenção de Valentini. Antes de mais, todas as etapas de evolução da história de la Repubblica, desde a sua fundação pela dupla Caracciolo/Scalfari, até à sua passagem ao Grupo de De Benedetti, com a entrada como Director, vindo de “La Stampa”, do grupo FIAT, Ezio Mauro, dando início ao que depois viria a ser conhecido como Stampubblica (fórmula da autoria de Travaglio), até à passagem definitiva, em 2016, de la Repubblica ao grupo FIAT, primeiro com Mauro Calabresi e, depois, a seguir à curta direcção de Verdelli, a Maurizio Molinari (veja pp. 180-181). O autor conta o seu trajecto, nas relações com o grupo de Caracciolo/Scalfari, que se pode resumir ao seguinte: deixa la Republica para, depois da experiência de L’Europeo, dirigir dois jornais do Veneto, a que se segue a chefia da redacção de la Repubblica em Milão, seguindo-se, por sete anos, a Direcção de L’Espresso e o regresso a la Repubblica como vice-director (1994-1998) até ao corte radical com o jornal, em 2015, na sequência de um desagradável episódio (uma notícia plantada) sobre o Presidente do Anti-Trust Giovanni Petruzzelli, de que era porta-voz. Estas as passagens fundamentais de Valentini, depois uma curta experiência em Tiscali, a empresa de Renato Soru. Mas outros acontecimentos são, como vimos, objecto da atenção de Valentini neste livro na justa medida em que se cruzam com a evolução do seu percurso de vida e profissional, que correu na sua maior parte durante uma parte da história de Itália em que houve grandes mudanças e significativos acontecimentos: rapto e assassínio de Aldo Moro pelas Brigate Rosse, a morte de João Paulo I, Papa Luciani, e a eleição de Karol Woytila, como João Paulo II, a emergência do craxismo no Partido socialista italiano, a queda do muro de Berlim, Mani Pulite ou Tangentopoli, o fim da DC e do PCI, a mudança no sistema televisivo italiano, com a Fininvest de Berlusconi e, depois, Mediaset, a entrada na cena política de Silvio Berlusconi em 1993-1994, com a subsequente formação do seu primeiro governo, a entrada em cena do Movimento 5 Stelle, em 2009, a queda de Berlusconi em 2011, os primeiros passos de Fratelli d’Italia, o governo de Matteo Renzi, a estrondosa vitória do M5S, em 2018, e os dois governos de Giuseppe Conte, o Governo de Mario Draghi e a vitória de FdI, em 2022, com Giorgia Meloni hoje a governar esse grande e belo país chamado Italia.
5.
Quando cheguei a Itália, o jornal la Repubblica tinha sido fundado por Eugenio Scalfari há cerca de dois anos e 9 meses, em 1976, e Giovanni Valentini fora também um dos seus fundadores. E, por isso, quando nos encontrámos, contei-lhe o que de facto, acontecera: lembrava-me de ter lido artigos seus na primeira página do la Repubblica, jornal que adoptei, então, não só como meio de informação, mas também como “estrutura de opinião”, a forma como os fundadores o conceberam, e que integrava grandes nomes do jornalismo, da política e da cultura italiana. Aprendi muito com este jornal, que li diariamente durante mais de trinta anos. Situava-se, de facto, na área do centro-esquerda, mas cultivava uma rigorosa e brilhante independência em relação não só ao poder político, mas também aos outros poderes da sociedade italiana, designadamente o económico. Independência que era garantida sobretudo por duas personalidades de grande peso: Eugenio Scalfari, o Director, e Carlo Caracciolo, “il Principe Rosso”, presidente da “Società Editoriale la Repubblica”. Um grande jornal que deveria servir de modelo, ainda hoje, a toda a imprensa. Um jornal de opinião, mas também de massas, rigoroso, culto, de centro-esquerda assumido, liberal de esquerda, intelectualmente competente e independente. Disputava a hegemonia com o Corriere della Sera, mais conservador, batendo-se taco-a-taco, tendo chegado a superá-lo. Giovanni Valentini foi sempre, e é, um jornalista formado na “escola” do la Repubblica, a pesar de ser “figlio d’arte” e de ter sido “contaminado” pelo jornalismo logo desde casa, por seu pai, Oronzo Valentini, jornalista e director de um influente jornal do Mezzogiorno, la “Gazzeta del Mezzogiorno”. Valentini assume com orgulho essa sua originária identidade profissional, que tem em Eugenio Scalfari o seu mais ilustre representante. Isso pode ler-se no delicioso capítulo que lhe dedica mais explicitamente: “Barbapapà” (pp. 292-302).
6.
Valentini, natural de Bari, foi jornalista e colaborador do la Repubblica durante quarenta anos, tendo sido também, como vimos, seu vice-director, entre 1994 e 1998. Mas esta não foi uma mera relação profissional. Iniciara a carreira de jornalista por influência (e contra o desejo) do Pai, também ele jornalista e futuro director da “Gazzetta del Mezzogiorno”, onde também trabalhou. Mas, em abono da verdade, e depois de ter trabalhado em “Il Giorno”, viria a construir-se verdadeiramente como jornalista na “escola” do la Repubblica, esse grande jornal que exibia uma solidez intelectual, cultural e política pouco comum no próprio panorama editorial mundial. Um jornal que se revia um pouco no “Le Monde”. Uma solidez que tinha no grande Scalfari o seu selo de garantia. Valentini reconhece-se, neste livro, como discípulo do “Maestro” Scalfari, também conhecido no círculo jornalista como “Barbapapà” (do francês “barbe à papa”: “algodão doce”), talvez pelas suas abundantes barbas brancas (ou “a sale e pepe”) e pela sua doce auctoritas, por todos reconhecida e aceite. Mas, ao ler este livro, de 334 páginas e 20 capítulos, acabei por verificar uma curiosa coincidência. Com a saída de Scalfari, em 1996, Valentini iniciara (silenciosamente) o seu processo de afastamento interior do la Repubblica quando Ezio Mauro, vindo do La Stampa, de Turim, foi, em 1996, nomeado seu director, tendo chegado a pôr o seu lugar à disposição, mas acabando por se manter até 1998, apesar da manifesta hostilidade de Mauro em relação a si, atitude que, de resto, acabaria por determinar a sua decisão de deixar o cargo de vice-director. A operação indiciava uma mudança no jornal, pois este fora durante vários anos director de La Stampa, o jornal do grupo Agnelli, conhecido como La Busiarda. Mudança que viria, de facto, a consolidar-se com a entrega, em 2016, do jornal a outro director proveniente de La Stampa, quebrando-se, definitivamente, do ponto de vista editorial, a lógica de independência do jornal, o seu estatuto de jornal de “editoria pura”, apesar de a sua estrutura proprietária já ter mudado há muito, com a chegada de Carlo de Benedetti, em 1989. A situação iria consolidar-se com a entrada da FIAT logo em 2016 e a entrega total, em 2019, do grupo à FIAT de John Elkan. Mas a ruptura definitiva de Valentini viria a acontecer em 2015, por ocasião de um “golpe baixo” desferido por duas jornalistas do la Repubblica contra o presidente do Antitrust Pitruzzella, de quem Valentini era porta-voz, já no fim da direcção de Mauro ( e a que este provavelmente não terá sido estranho). Com efeito, em 2016, viria a tomar posse como director do jornal Mario Calabresi, a que se seguiria, depois de um ano de Carlo Verdelli como director, Maurizio Molinari, outro homem do La Stampa, consumando-se, assim, definitivamente, a operação de mudança de orientação do velho la Repubblica (veja-se os capítulos 10 e 11, pág.s 165-198), quer em termos de estatuto proprietário quer em termos de gestão editorial. Também Scalfari viria a distanciar-se do jornal, mantendo apenas a relação através da publicação de artigos de cultura.
7.
Pois bem, também eu, por essa altura, no fim do mandato de Ezio Mauro, tinha deixado de ler, com a regularidade com que até então o fazia, o la Repubblica, por já não reconhecer nele o que me atraíra, quando em 1978 cheguei a Itália, e que vira confirmado não só durante os dez anos em que lá vivi, mas ainda por muitos mais anos, já em Portugal, tendo continuado a segui-lo diariamente, primeiro, em papel, e, depois, na internet. Até que chegou a desilusão e passei a ler com maior regularidade o jornal Il Fatto Quotidiano, fundado em 2009 pelo excelente jornalista e amigo de Valentini Antonio Padellaro (lia-o no Corriere della Sera), que foi seu director até 2015, sendo a partir de então dirigido pelo imparável e turbulento Marco Travaglio. Trata-se de um jornal independente que não recebe financiamentos estatais nem é, creio, de propriedade de um grupo financeiro ou económico. Um bom jornal, na minha opinião. Valentini é seu colaborador regular, com a sua já clássica rubrica “Il Sabato del Villlagio”, que, creio, iniciara em la Repubblica, título que homenageia o grande poeta italiano Giacomo Leopardi: “Questo di sette è il più gradito giorno, / Pien di speme e di gioa: / Diman tristezza e noia...” – estrofe de “Il Sabato del Villaggio”).
A minha reacção ao que estava acontecendo ao também “meu” jornal, a esta mudança profunda no seu perfil, foi quase de indignação pelo que estavam fazendo a uma jóia do jornalismo mundial. Pelo vistos, havia uma minha real sintonia com dois dos seus fundadores, Scalfari e Valentini: a identidade do la Repubblica fora radicalmente alterada… para pior. Tornara-se um “holograma” do que fora, como diz Valentini (pág. 302). Na verdade, ao ler este livro de Giovanni Valentini fiquei a conhecer melhor as razões da mudança, pois ele dedica uma parte consistente do livro à descrição da evolução do jornal.
8.
O livro conta a história de cinquenta anos de imprensa em Itália, vistos por um dos seus principais protagonistas. O jornalismo italiano visto por dentro, em particular nas suas relações com a estrutura proprietária, mas também nas suas complexas, delicadas e difíceis dinâmicas internas, incluindo episódios de claro corporativismo, de inveja e desconfiança entre os próprios profissionais e também sobre as consequências, inclusive judiciais, da coragem de informar sem medo das represálias. Valentini experimentou isso na própria pele. Mas sobretudo visto a partir de uma visão bem precisa, assumida e argumentada do que é e deve ser o jornalismo. A posição de Valentini é clara, como resulta de todo o livro: a boa imprensa é aquela que é gerida por editores puros, não aquela que fica sujeita à estratégia de financeiros ou de grupos económicos que a vêem exclusivamente com a lógica do lucro e do poder, totalmente independente da sua função social e política, ao serviço da cidadania. Uma identidade que ele identifica em la Repubblica de Scalfari e de Caracciolo ou no seu L’Espresso. Esta sua posição está claramente formulada no livro: “Um vaudeville de directores, entre Torino e Roma, que marcou o jornal fundado por Scalfari” (…), outrora “ancorado num editor puro, mas agora “com o selo de fábrica da maior indústria privada italiana: o editor mais ‘impuro’, que mais não é possível” (pág. 181), chegando a propor, no livro, um “Statuto dell’Editoria” “para limitar as quotas das participações financeiras nas empresas editoriais”, “e, ao mesmo tempo, reservar os financiamentos públicos para as cooperativas de jornalistas”, evitando que “editores impuros” possam aceder aos financiamentos estatais (pág. 315), pela óbvia razão de que eles não cumprem o código ético a que funcionalmente estariam obrigados – o de garantirem um rigoroso serviço público em que a informação deve instruir o cidadão nas matérias em que ele deve tomar as suas decisões, seja na política, na economia ou na cultura. E este é um ponto crítico do jornalismo actual, até porque “salvo raras excepções, doravante o chamado ‘editor puro’ é uma espécie em vias de extinção, que deveria ser protegida como o panda do Wwf” (pág. 313).
9.
A última parte do livro, depois de uma descrição da referência proprietária dos principais jornais italianos, à excepção do CdS (la Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX – Gruppo Gedi; Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Il Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di Puglia, di Lecce e Bari – propriedade do construtor civil Francesco Gaetano Caltagirone; Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione – do Gruppo Monti-Riffeser; Il Giornale – da família Berlusconi; Libero, Il Tempo – do empresário da saúde e parlamentar de centro-direita Antonio Angelucci), mostrando abundantes exemplos da chamada “editoria impura”, é dedicada a uma reflexão, totalmente partilhável, sobre a nova condição do jornalismo na era da Internet e sobre as tendências que determinam uma nova dinâmica da informação, em função da emergência das redes sociais, do algoritmo e, em geral, da inteligência artificial. Uma profunda alteração na relação do cidadão com as plataformas de comunicação, onde a lógica do broadcasting é substituída por uma lógica relacional, não vertical nem hierárquica, mas horizontal e aleatória. Uma lógica que interfere decisivamente na função jornalística. E a verdade é que, como diz Valentini, “hoje, no essencial, não se faz informação para informar o cidadão, mas sim para defender interesses estranhos aos que deveriam ser estritamente editoriais. Para fazer negócios, obter favores, concessões ou licenças. E quanto mais se reforçarem as concentrações, neste campo”, diz, “menos se salvaguardam o conhecimento, o debate, a liberdade de opinião e, portanto, a democracia” (pág. 316). Na verdade, enquanto a procura de informação cresce, a oferta está a diminuir, ou seja, diminui o número dos que estão em condições de a produzir de forma profissional, de conjugar informação e conhecimento, daqueles que, em suma, Valentini designa por pós-jornalistas, os de hoje, aqueles que já inscrevem a sua actividade na sociedade em rede ou na sociedade algorítmica. Aqueles que se inscrevem na nova lógica que determina as formas de comunicação. Ofício, o de jornalista, absolutamente necessário, sem qualquer dúvida, mas que deve adaptar-se às exigências de tempos que estão cada vez mais em forte aceleração histórica e tecnológica: “uma nova figura profissional mais evoluída e complexa do que a tradicional”, é o que os tempos estão a exigir (pág. 307).
10.
Trata-se, pois, de um livro muito rico de informações sobre a imprensa nos últimos 50 anos em Itália, mas também sobre a própria história política e económica italiana. Tudo contado a partir da sua própria história pessoal, enquanto jornalista. No meio de uma enorme massa de informações, é uma narrativa com um claro fio condutor: a vida profissional de Giovanni Valentini contada através do desempenho, do complexo ambiente em que teve de se mover e das decisões que teve de tomar, das relações com os editores e com os colegas de profissão, tudo filtrado por uma ideia clara a que a sua vida profissional deveria sempre realisticamente obedecer – a que construiu ao longo da sua experiência, em primeiro lugar, e sobretudo, como membro da “escola” do La Repubblica, dirigida com sabedoria pelo “Maestro” Scalfari, e, em segundo lugar, como director de dois importantes semanários italianos, palco especial de onde pôde acompanhar, por dentro, como activo interveniente, no plano das suas funções profissionais, a vida política, editorial, económica e social de Itália. Uma ideia que entroncava numa ética editorial que sempre defendeu e que quis cumprir rigorosamente, em nome da cidadania – “editoria pura” e rigoroso cumprimento do código ético do jornalismo. Um desempenho independente de interesses que pudessem pôr em causa o exercício de informar e de descodificar o que de importante ia acontecendo nesse grande e belo país que é a Itália. A Giovanni Valentini foi atribuído o Prémio Saint-Vincent do Jornalismo, em 2000. É também romancista. JAS@05-2024.
NOTA
- Em português, deste autor: Corrado Calabrò, A Penúria de ti enche-me a alma. Poesia 1960-2012. Edição bilingue (Lisboa, 2014). Edição bilingue, tradução e pós-fácio de Giulia Lanciani. Prefácio de Vasco Graça Moura.

NOTAS DO PRIMEIRO DE MAIO
Por João de Almeida Santos

“Tempo”. JAS 2024
1.
DO 25 DE ABRIL AO 1.º DE MAIO, uma semana de liberdade, o valor central das nossas vidas. Simbolismo a conservar. Pelo meio, o dia mundial da dança, que simboliza a liberdade e a leveza das almas e dos corpos em festa. Uma feliz conjunção. Um registo que nunca devemos abandonar, mesmo ou sobretudo no meio das maiores dificuldades. O registo da liberdade, dos direitos e da responsabilidade.
2.
Neste dia também devemos olhar para a nossa história na perspectiva de quem olha interessado para o passado, esse tempo bem ou mal conduzido pelos nossos antepassados. Mas passado que passou neste tempo que agora, sim, é nosso. Neste caso, trata-se de um passado mais próximo, aquele em que um punhado de heróis meteu mãos à obra e derrubou um regime onde a liberdade estava sufocada com a delação e a violência. Mas também este já passou. E passa tanto mais quanto nós soubermos construir o presente para um futuro melhor. Os historiadores ajudarão a olhar para ele, o passado, com a necessária distância, mas também com a objectividade possível, a que respeita a temporalidade histórica. A diferença temporal. A do passado que não volta e que só assim é possível revisitar. Diferença que é também uma diferença ontológica, da esfera do ser, não do nossa subjectividade, pessoal ou colectiva. Mas não – isso é que não -, não devemos olhar para o passado como pecadores colectivos que haverão de se resgatar, fustigando-se, chicoteando-se pelas remotas maldades cometidas e pagando eternamente o preço de os nossos antepassados terem agido em sintonia com o tempo em que viveram e que é diferente do nosso. Aprender com a história também é aprender a viver o presente com as lições do passado: corrigir os erros para melhorar o futuro. Mas não pretender mudar o passado com os remédios da redenção, como se fôssemos portadores de uma culpa original. E isso significa respeitar o passado, ou seja, fazê-lo passar, sobretudo quando ele teima em não passar nalgumas mentes alucinadas. A dos que cantam os feitos e a dos que cantam os pecados. Aquelas que querem conduzir o veículo da história olhando somente pelo retrovisor. Sabe-se bem o que acontece a quem conduz assim. Em Portugal, parece que o revisionismo histórico de inspiração wokiana já chegou ao mais alto representante da nação portuguesa. Por isso, é preciso que alguém lhe explique o que parece não ter compreendido ao longo de tantos anos de carreira universitária e política. E nem sequer acredito que seja um problema subjectivo de culpa, própria ou familiar. Porque nem essa valeria.
3.
Neste intervalo entre o 25 de Abril e o 1.º de Maio, li um interessante artigo do público (29.04.2024, de Sérgio Aníbal) sobre os impostos, que dizia coisas que é útil reter. Por exemplo, que os impostos indirectos (os que atingem todos por igual, ricos e pobres) atingem 41,9% da carga fiscal e que, em Portugal, estão 8,7 pontos acima da média europeia (que é de 33.2%). Mas é também conveniente dizer que quase metade dos agregados fiscais não paga IRS, sendo a carga fiscal relativa a este imposto (mais o IRC), em 2022, correspondente a 29,6%, quase 5 pontos abaixo da média europeia (que é de 34,3%). Percebe-se bem por que razão isto acontece: o valor total dos impostos indirectos é muito superior aos dos impostos directos, até porque todos os pagam (ao contrário do que acontece com o IRS): mais de 12 pontos. Apesar de a diferença em relação à União Europeia, relativamente aos impostos directos, ser de quase 5 pontos, a menos, é preciso fazer outras distinções. Aparentemente, Portugal faz boa figura nos impostos directos e na sua progressividade, a que é directa e individualmente mais fácil de verificar por cada contribuinte. Mas, olhando mais de perto a realidade fiscal, segundo a OCDE, e em relação ao imposto cobrado a partir do salário médio, Portugal está acima da média europeia (até nos que auferem 67% do salário médio: 0,7%). Por exemplo, quando o salário é “correspondente a 167% do salário médio” (que é de 1270 euros) a tributação em IRS é superior em 1,5% em relação à média da União Europeia. Globalmente, a carga fiscal é inferior em 4,2% à média da UE, de acordo com os dados apresentados, mas, pelo que se vê, algo não está bem em termos de justiça fiscal. Portugal penaliza mais os cidadãos com rendimento médio, em termos de tributação directa, e muito mais, em termos de tributação indirecta, do que a UE. O que é incompreensível. Por isso, considero que é necessário fazer uma reavaliação global da carga fiscal. E, todavia, para isso será necessário fazer também uma reavaliação do Estado Social e, sobretudo, das funções e fronteiras de intervenção do Estado, para que não se sobrecarregue os cidadãos, em geral, com os impostos indirectos, nem os cidadãos de rendimento médio ou superior com os impostos directos. Um cuidadoso trabalho de filosofia política que ilumine um pouco os que têm o poder de decidir politicamente sobre os custos de cidadania. Em Portugal, leis acrescentam-se a leis, sem que nunca haja (por parte de quem decide) uma avaliação global do sistema. E urge fazê-lo, agora que se completam 50 anos do 25 de Abril. O PS, agora na oposição, deveria, na minha modesta opinião, desde já, fazê-lo, ao mesmo tempo que deveria fazer uma avaliação da eficácia operativa de funcionamento do Estado (que não fosse somente no plano fiscal).
4.
São já inúmeras as instituições e as personalidades que se interrogam sobre a operação “Influencer”, que levou à queda do governo. O Presidente da AR pediu explicações, a dar na AR. A Provedora da Justiça também, considerando ter havido, pelo que já se sabe, “erro grosseiro” do Ministério Público, sublinhando que não poderes ilimitados e que ninguém está isento de prestar contas ao país. Dois tribunais consideraram pouco ou nada consistentes as provas invocadas que, supõe-se, estiveram na base do famoso parágrafo que levou à saída do PM e à convocação de eleições. O silêncio da Procuradora-Geral da República já está a fazer um ruído ensurdecedor. A não audição em tempo razoável do ex-primeiro-ministro (já lá vão cerca de seis meses) está a tornar-se escandalosa. O PS, pela voz do seu Secretário-Geral, a manifestar, finalmente, perplexidade perante o que já é conhecido e a pedir explicações, “dadas as suas consequências gravosas”. Tudo isto requere uma urgente explicação cabal sobre o que aconteceu. E, imagine-se, até na vizinha Espanha alguém vaticinava a influência do “Influencer” na decisão de Sánchez ponderar demitir-se por causa de um processo levantado contra a sua esposa Begoña Gómez, desencadeado por uma denúncia da organização de extrema-direita “Manos Limpias”, baseada em informações surgidas em “cabeceras digitales” também de extrema-direita e, entretanto, cavalgadas pela direita institucional, PP e VOX. Tal não viria a acontecer, como noticiado na passada segunda-feira, depois de cinco dias de reflexão, tendo Pedro Sánchez decidido manter-se no cargo, “com mais força”, dizendo, sobre a campanha de descrédito contra a mulher, “podemos com ela”. Também aqui o assunto tem toda a aparência de um processo de “lawfare”, o uso do direito como instrumento político para derrubar governos. Como teria gostado de ter visto, aqui, entre nós, António Costa dizer o mesmo, defendendo o robusto mandato que os portugueses lhe confiaram e sendo leal à sua máxima “à política o que é da política e à justiça o que é da justiça”. Assim, deixou que o que é da política passasse a ser também (ou sobretudo) da justiça, num ambiente onde o que é da justiça continua a ser totalmente independente (ou seja, mais do que autónomo) da política – a separação dos poderes a funcionar somente num sentido. O resultado está à vista.
5.
As eleições europeias vêm aí. Mais eleições. E repito o que disse acerca das legislativas: espero que os partidos não se ponham a escrever livros sobre a União Europeia, mas digam o fundamental, o que é preciso dizer sobre a União Europeia e sobre os candidatos, tratando-se de listas fechadas e da exclusiva responsabilidade das direcções dos partidos (com excepção do Livre, que viu eleger como cabeça de lista um candidato não indicado pela direcção do partido). Mas há algo que sinto dever dizer: três candidatos do PS (Marta Temido, Francisco Assis e Ana Catarina Mendes) foram eleitos, em 10 de Março, para a AR, preparando-se para trocar o mandato de deputado pelo de eurodeputado. No mínimo, isto representa falta de respeito pelos eleitores e pelo mandato. Tiveram a possibilidade de não se candidatar à AR se queriam ser candidatos ao PE e não o fizeram, sendo legítimo pensar que só o fizeram por uma questão de segurança pessoal (não fosse o diabo tecê-las). Até parece que um grande partido como o PS não tem outras pessoas tão, ou mais, competentes para candidatar ao PE. Um vício antigo do PS: esse de ter sempre os mesmos a passarem pelas portas giratórias do poder. Exemplos não faltariam, mas não vale mesmo a pena. Depois, as próprias escolhas também não me parecem muito justificadas. Uma candidata fará 73 anos este ano e tem um ano e meio de mandato autárquico para cumprir (teria 74, em 2025, data das eleições autárquicas) e não se lhe conhece curriculum nesta área. É um mero exemplo (nada de pessoal, bem pelo contrário) e nem sequer digo que todos tenham a mesma idade, a mesma leveza e rapidez que o inefável Sebastião Bugalho. Não entendo mesmo, as razões da constituição desta lista, caro Secretário-Geral. Talvez seja mesmo uma injustificada desvalorização da importância do Parlamento Europeu no sistema institucional da União Europeia. Gostei da renovação, mas, no fim, até preferia que continuassem os que já lá estavam. Sinceramente.
6.
A NATO, segundo Nuno Melo, está regulada por um Tratado do Atlético Norte. Fosse a primeira vez e poderia desculpar-se-lhe o mimo. Mas o indivíduo começa a ser demasiado frequente em calinadas. Ou será que a NATO é forte porque é atlética? Ou é atlética porque é forte? E, ainda, a vingarem as doutrinas de Melo, não se tornaria ainda mais atlética, logo, mais forte, se os condenados fossem cumprir as penas servindo, armados, como soldados? A doutrina parece ser governativa, a crer nas palavras da senhora Ministra da Administração Interna, que parece, também ela, ver a proposta com bons olhos. Melo não é um qualquer, pois conseguiu, com o ventilador do PSD, ressuscitar um CDS moribundo, não só no plano nacional, mas também no plano europeu. Perfilhou a doutrina do PCP e passou a ser como os verdes (verdes por fora, vermelhos por dentro): azuis por fora e cor-de-laranja por dentro. Quanto a mim, nunca mais se atreverão a ir sozinhos a votos. O CHEGA tratará do assunto e, se não for suficiente, lá estará a Iniciativa Liberal para completar a obra.
7.
Finalmente, a política em Portugal não conhece grandes dias. E ninguém ajuda. Nem sequer o PS, que tinha obrigação de o fazer. Estas opções sobre os candidatos ao PE podem não ajudar a fazer o que é preciso: derrotar um PSD (na forma tentada de AD) que já está a dar, e cada vez mais, provas de arrogância governativa e de pressa em tomar nas mãos o aparelho de Estado, confirmando e tornando ainda mais claro, com um bom resultado eleitoral, que o PS é o maior partido português e que a dialéctica política terá de tomar na devida conta esse facto. A situação política que deu origem ao governo do PSD (porque é disso que se trata, governo do PSD) é tudo menos clara e límpida, a começar logo pelo facto que deu origem à queda do governo e à convocação de eleições e a terminar na própria configuração política do Parlamento. Na verdade, o PSD está a virar, aparentemente, as costas ao CHEGA, mas, na prática, é com ele que conta para sobreviver, o que, aliás, foi visível logo na própria investidura. Se assim não for, este governo não passará do próximo orçamento. E, pelo que se está a ver, não merecerá sequer passar daí. Mas as europeias também poderão servir para dar uma lição a esse arremedo de partido que integra AD, esse simulacro que, ao abrigo de uma risível sigla, sobreviveu: o CDS (PP?). Isto para não falar do PPM, que também por lá tem um candidato em lugar absolutamente inelegível. AD oblige. Talvez haja neste processo demasiados personagens à procura de autor. Que não encontram, porque eles escasseiam cada vez mais. Mas a comédia segue em frente mesmo assim… JAS@05-2024

FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO (X)
SOBRE A POESIA
João de Almeida Santos

“Fantasia”. JAS. 04-2024
O NOME DA MUSA
ALGUÉM, UM DIA, PERGUNTOU AO POETA quem era a sua musa inspiradora. Sim, dizia-lhe a interlocutora, há sempre – tal como em Dante Alighieri havia Beatrice – uma musa, um nome. Também em ti, poeta, há uma musa e um nome? Uma Beatrice? O poeta respondeu que sim, que há sempre a visita de uma musa que desperta a pulsão poética, ficando o escolhido marcado para cumprir o poético destino: a subida permanente ao Monte Parnaso. O amor e o castigo. O castigo de Sísifo. E mais disse. Disse que a sua musa era Erato, a da poesia lírica, um nome que contém mil nomes como véu translúcido que nunca deixa ver com nitidez a silhueta ou o perfil de cada nome. Neste nome cabem outros nomes. Mas a da poesia é uma linguagem em código. Para iniciados. E há até um oráculo lá no alto, o lugar que ele tem de visitar incessantemente por determinação da deusa e da musa. Mas, sim, respondeu – há sempre uma Beatrice. No caso deste poeta também haverá, mas não ouso perguntar-lhe, pois ele responderia que o poeta é um eterno fingidor, finge que sente o que talvez sinta e não revela por quem sente aquilo que finge sentir. Não o faz como exibição frívola de virtuosismo técnico ou como farsa: fá-lo porque tem de o fazer para se redimir e sobreviver. Porque é esse o seu mundo, de onde nunca poderá sair.
A RUA E O SONHO
As ruas e as janelas aparecem muitas vezes associadas a sonhos. E a poemas baseados em sonhos. Como se sonhar fosse estar à janela a ver passar estranhos transeuntes. E como se os poetas se encontrassem sempre à janela a ver-se passar com eles a seu lado, instigados pela musa. Sempre as tão cantadas janelas, na poesia, no teatro, no cinema, na pintura… No caso do poema que inspira estas reflexões (“Um Sonho na Aldeia”, 21.04.2024), a janela do sonho. A que se abre sobre o fantástico, sobre o mistério, sobre o abismo da simbologia mais enigmática. Ver, num poema, o mundo através dos rendilhados ou dos bordados do sonho, feitos pelas musas. Ver o mundo com os cortinados oníricos da janela em primeiro plano. Onde o real se confunde com a fantasia do sonhador duas vezes: no sonho e no poema. Musas, fantasmas e poetas. Só que o poema lhe acrescenta beleza, sentido, coerência, harmonia e melodia, sem deixar de ser enigmático por as palavras nunca o deixarem ver com nitidez, mas induzirem, isso sim, sensações reais na partilha. Curtas histórias contadas pelos poetas, mas como revelações em carne viva, dor em palavras, sentimentos em forma verbal. Os poetas não estão ali para falar do mundo, mas sim para o sofrer com palavras e assim o partilhar. Isso mesmo. Amantes que passam, lado a lado, sem se olharem, sem falarem, apenas se pressentindo, sentindo a presença um do outro, mas sem ousarem dar forma a esse (des)encontro. Como “estranhos em solidão”. Nada mais. Algo que, afinal, também acontece na realidade, não só no sonho do poema: fingirem, ambos, que não se apercebem da presença do outro, apesar de todos os seus sentidos estarem a registar intensamente o que se passa ali mesmo a seu lado. A notícia deste (des)encontro aconteceu num sonho que foi relatado ao poeta por si próprio, ou seja, por quem o teve, esse sonho. E o que é interessante é que esse sonho o levou não só ao passado recente, mas também ao passado remoto. Tempos que o poeta consegue ligar ao relatar poeticamente o sonho. Maravilhas do sonho… e da poesia. Talvez sejam sonhos tão vivazes que se tenham prolongado dia afora, já com o poeta acordado e estremecido, em sobressalto. E, por isso mesmo, talvez ele tenha sentido necessidade de contar esse (des)encontro num poema, para se libertar, com palavras e melodia, do que sentira intensamente nesse sonho: desencanto, impotência e melancolia. Creio que é isto. Mas não sei. A resposta só poderá ser dada por outro poema. Mas para que isso aconteça tem de haver novo sonho. Que não é programável. Como o sentimento poético.
O POETA E OS SEGREDOS
Os poetas estão cheios de segredos, que revelam… sem os desvelar. O véu mantém-se sempre sobre tudo o que dizem. Dizem o essencial e escondem a fonte, a referência, a origem, a raiz. Ainda que aludam a elas. Os segredos talvez sejam a parte essencial da sua identidade. Não há poesia que não esteja coberta por uma espécie de véu que apenas deixa ver tenuemente as sombras a que o discurso alude. A poesia é como os sonhos. É mais importante dizê-la e senti-la do que compreendê-la, do que conhecer as motivações que lhe deram origem ou os seus referentes. Claro, tem sempre de ser interpretada, mas nunca pode ser totalmente decifrada, embora possa ser totalmente sentida e revivida. Porque é altamente performativa. Mas que há sonho, lá isso há. Que há referentes, lá isso também há. Mas que eles tenham sido decisivos para iniciar a viagem não torna necessária a sua identificação. Esta é intrinsecamente uma linguagem semântica e referencialmente codificada. Até porque as “histórias” estão conservadas “na penumbra da memória” para não se derreterem, como a neve, quando o sol irrompe. Se irromper. Continuam lá aninhadas e protegidas. Eu acho mesmo que a vida de poeta se passa uma boa parte do tempo precisamente na penumbra. Se se expuser arrisca-se a perder a sua própria condição. Arrisca-se a não ser levado a sério. É por isso que nas pinturas muitas vezes sinto necessidade de dar um pouco mais de cor à convergência sinestésica da pintura com a poesia. Para avivar um pouco essa sua aparência “anémica”. Para dar mais vida e luz à “placidez” e “suavidade de um sonho que se processa entre a fantasia e a vida”, para usar as palavras de um Amigo que comentou o poema aqui em referência. Sim, nos sonhos há penumbra e, por isso, quando os trazemos à consciência poética, em registo sinestésico, é bom dar-lhes um pouco mais de luz e de cor, embora não em excesso, para que se conservem. E como o poeta cultiva a sinestesia pode sempre fazê-lo. E fez. Até para ver se a musa “insinuante, cativante e bela” se pode rever melhor na rua por onde oniricamente andou, em cumplicidade poética, com o sonhador e talvez mesmo amante impossível. Com o poeta, em suma. “Ecco”, diria um poeta italiano. A verdade é que o poeta, na sua impossibilidade congénita, nunca desiste de tentar seduzir. É o seu karma.
A SOLIDÃO DO POETA
O poeta é também um ser solitário e só em solidão pode poetar. Ele está só porque se perdeu e a realidade o mandou para aí, lhe disse que teria de se reencontrar e que o ponto de reencontro só poderia ser o da solidão, sem ruído à volta, onde só pode ser interpelado pela sua voz interior. A verdade é que os poetas perdem-se sempre. Não se ajeitam com a realidade. Ou a realidade com eles. A poesia é, sim, um reencontro do poeta consigo próprio, mediado e estimulado por relações e circunstâncias que tocaram a sua sensibilidade e que ficaram registadas na sua memória com uma intensidade especial. Mas exige solidão, tempo de meditação e alguma distância emocional, ainda que a emoção fervilhe na sua memória, em particular na memória afectiva. Só então se pode activar a “maquinaria” poética. Podemos compreender melhor o mundo se nos compreendermos a nós próprios, sendo, todavia, certo que a poesia é mais um longo grito de alma do que uma incursão cognitiva no mundo. E a solidão é imprescindível para isso. Pode ouvir melhor o eco do seu grito interior e aperfeiçoar melodicamente a sua própria notação poética, aumentando a sua performatividade. Mas também é verdade que é na solidão que melhor se decanta a experiência vivida e se procede à sua conversão estética. A palavra é mesmo decantar, ou seja, retirar as impurezas e com elas densificar as cores que dão vida ao poema e avivar a palidez congénita que o caracteriza.
ALEPH
Um amigo dizia, a propósito do poema “A Porta” (14.04.2024), que essa porta que o poeta cantava era o seu Aleph, numa referência ao conto do Jorge Luís Borges. E o poeta reconheceu a pertinência da observação: que sim, que era verdade, porque ela era (é) o ponto de contacto entre o começo e o fim, o lugar onde a longa travessia do poeta se condensa e ganha sentido, a identidade que permaneceu nele (pelo menos como ilusão) quando viajava por esse mundo à procura de si próprio. Na porta, assumida poeticamente, há, sim, indícios, registos, marcas de todos os lugares por onde ele andou ou mesmo de todos os lugares do mundo. Porque ela é, sim, o espaço intermédio entre o começo e o fim. Também se poderia dizer que, de algum modo, alude a Siddharta, do Hermann Hesse. Sim, a porta cantada é o Aleph do poeta, com ou sem a loucura de um qualquer Carlos Argentino, mas sempre com a inspiração fixada numa Beatriz.
ETERNO RETORNO
Há quem não conheça e até nem reconheça o retorno às origens, seja às da montanha ou às do mar. Não saiba o que isso é. Partiu e nunca mais voltou. Ficou por lá, num qualquer ponto da viagem. Destino e errância de quem já não voltará a subir o rio até à fonte matricial. Vidas atropeladas pelo acaso. Ou o fascínio irresistível do acaso. Talvez vidas incompletas. Ou vidas que assumiram a incompletude como destino. O fascínio do imprevisto e do desconhecido. Para mim, é felicidade suprema vir beber à fonte essa água gelada e pura na qual me banhei pela primeira vez. Alma e corpo. E por isso eu escolhi, definitivamente, a fonte do Vale Glaciar para marcar o meu regresso. Um autêntico rio a descer, gelado, por essa montanha abaixo, rumo ao Zêzere. É essa a água que me acompanha na viagem. Quando chego e quando parto. Água baptismal. Fria e pura como a montanha que me inspira. A montanha em estado líquido. Bebê-la é como abrir a porta para ver a montanha e ir até ela sem sair do mesmo lugar. Anda sempre comigo, como a porta de granito amarelo, com cristais.
A VIDA É UMA MONTANHA
Todos temos a nossa montanha, é verdade. A vida, ela própria, é uma montanha que temos de subir. Viajar na vida é como ir à montanha. Mas também há vales. Se há montanha há vale. E há trilhos a percorrer, na montanha e no vale e do vale para a montanha. Os trilhos estão mapeados, mas só percorrendo-os os conheceremos. São eles que nos levam à montanha. Uma vez percorridos passam a fazer parte de nós, do nosso tempo de vida, do nosso passado, do nosso património subjectivo. Do nosso mapa interior. Esta é a linguagem que me é mais afim porque nasci nela, na montanha, e nela fui criado. É por isso que regresso sempre ali para me reencontrar e poder repartir com novo alento. Sem a montanha da (minha) vida não haveria poeta.
A MAGIA DO NÚMERO TRÊS
Um Amigo identificou o número três como o núcleo central da minha poesia, a propósito do meu poema “A Janela” ( 11.02.2024). Talvez seja. Três é o número perfeito (e o sete também), pelo que pode ser. O poeta procura sempre a perfeição para seduzir. Três vezes. Enigma: uma janela, uma rua uma silhueta… e uma mulher que viaja em palavras e em melodia com estes três elementos, carregada de afecto, de saudade e de melancolia. No poema “A Janela”. Mas é (creio) o único poema meu em que o sujeito poético é uma mulher. Uma mulher e três elementos em que fixa o seu olhar comprometido. Haverá razão para isso? E será mesmo necessário ler o poema três vezes, como quer o ritual? Talvez, digo eu. Há sempre uma razão para tudo. E também haverá para que, aqui, o sujeito poético seja uma mulher. E mesmo que, aparentemente, para tal não houvesse explicação racional… haveria sempre uma razão. Melhor: uma motivação. Tal como no amor.
A JANELA PARA O INFINITO
A chuva, a neve, gente que passa, um jardim que muda de cor, nuvens sopradas pelo vento, memórias do tempo que flui na nossa imaginação… tudo pode ser visto de uma janela. E da janela é possível voar para o infinito, dar-nos asas e ir mais além do que daquilo que a vida nos pode dar. A janela simboliza a liberdade, a porta e a rua a contingência e as amarras da vida. Numa janela se dá corpo a desejos que a rua não contempla nem permite. O poeta gosta das janelas porque elas representam a liberdade, a possibilidade de voar. Não se ajeita com a vida? Então, põe-se à janela e observa o horizonte infinito. E voa. Mesmo que seja para neverland. Ou, sobretudo, porque pode voar para lá. Para a terra do nunca, esse território onde só poeticamente se pode reconstruir.
SOL NA ALMA E RAÍZES NO CHÃO
Sol na alma e da alma e mar nos olhos e dos olhos – a felicidade. Êxtase e epifania. A felicidade acontece quando as raízes são fortalecidas e rendilhadas (como na Pintura “Luz na Montanha”, para o poema “Chão”) pelo sol e pela água e a árvore da vida enrobustece e se torna frondosa. As raízes são a âncora firme do poeta, em chão firme. Então, tudo é sólido. E as tempestades podem ser enfrentadas com sucesso. Neste chão rendilhado com o cinzel poético e plástico se encontram as raízes que sustentam a existência do poeta e o interpelam esteticamente. Um monólito marca a presença da deusa e a exactidão a que obedece o exercício estético. Talvez neste quadro tenha conseguido a convergência perfeita entre um poema e uma pintura. JAS@04-2024

“Luz na Montanha”. JAS 2021
CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA
EM PORTUGAL
Por João de Almeida Santos

“Avenida Parlamento”. JAS. 04-2024
1.
Em primeiro lugar, uma curta nota sobre o sistema eleitoral. Creio que a experiência aconselha a que, não sendo os sistemas eleitorais a panaceia que, em matéria de estabilidade política ou de representação, tudo resolve, se introduza um sistema eleitoral maioritário com círculos uninominais (garantindo ou não um círculo nacional plurinominal, em nome de uma representação mais alargada), não só porque garantiria uma maior estabilidade, mas também porque garantiria uma melhor e mais responsável representação política, onde os eleitos são identificados, avaliados e escolhidos nominalmente pelos eleitores, superando escolhas de lista fechada exclusivamente dependentes da vontade das lideranças do momento. E sabemos como os partidos tendem a ser “colonizados” pelas lideranças do momento. De resto, a actual e progressiva fragmentação dos sistemas de partidos por toda a Europa também parece aconselhar a que esta solução seja adoptada. Garantir uma governação estável é seguramente uma prioridade, para que não se esteja sempre a recomeçar, em todos os sentidos. A democracia é um regime muito frágil e sensível e por isso precisa de garantir estabilidade, eficácia decisional e legitimidade. É certo que, do ponto de vista da estabilidade, e a tomarmos em consideração o que aconteceu em Novembro, já nem as maiorias absolutas parece garantirem estabilidade. Mas essa é questão que, mais à frente, e a propósito do programa de governo do PSD, tomarei em consideração. A verdade é que a queda tendencial do valor eleitoral dos partidos da alternância parece exigir cada vez mais duas coisas: a formação de alianças eleitorais robustas (precisamente o contrário desse simulacro a que chamaram AD) ou pós-eleitorais e a alteração do sistema eleitoral. Isto, claro, no interior de uma profunda mudança na própria política democrática, que está a dar claros sinais de desgaste, um pouco por todo o lado. Não havendo génios malignos que semeiem a degradação dos sistemas democráticos (embora os aspirantes sejam muitos), também não haverá génios benignos que, com um golpe de magia, resolvam o que está em progressivo desgaste, sendo, pois, necessário lutar para que a democracia representativa possa evoluir. É por isso que a cidadania deve ser mais interveniente na escolha dos candidatos a deputados do que o é com os sistemas proporcionais de listas fechadas e com voto exclusivo no símbolo do partido. E não só neste plano, mas também numa intervenção organizada no chamado espaço público deliberativo.
2.
Em segundo lugar, uma nota sobre os programas eleitorais. Na verdade, estes programas estão a revelar-se verdadeiras inutilidades ou mesmo autênticos embustes eleitorais. Já aqui referi o volume global de páginas somente dos programas dos três maiores partidos – mais de quinhentas. Algum cidadão se dará ao trabalho de as ler? Mas, pior do que isso, é a concepção que subjaz à elaboração desses autênticos livros de registo eleitorais: trata-se de imensas listas para onde se atiram frases sobre todos os sectores sem a preocupação de ir ao essencial, à causa causans que, sector a sector, determinará o essencial da intervenção política. Ou seja, documentos analíticos e de rápida consulta. Se assim fosse, bastariam poucas páginas para explicar o essencial do projecto que os eleitores devem avaliar durante o processo eleitoral. Mas não só. Estes programas deveriam também explicar em poucas páginas a visão de sociedade, os valores fundamentais que assumem e propõem, sem retóricas enganadoras, e definir com rigor as fronteiras da intervenção do Estado. Não é pedir muito – simplesmente seriedade e esforço analítico e explicativo. E, ainda, eles deveriam também conter informação essencial sobre os candidatos, sobretudo se o sistema eleitoral adoptado fosse o de círculos eleitorais uninominais. Três frentes que são, pois, essenciais para que o cidadão possa votar em consciência e com fundamento: programa, filosofia, candidatos.
3.
Em terceiro lugar, outra nota sobre a necessidade de uma nova filosofia para os partidos políticos, mas também de promoção de plataformas cívicas, sobretudo digitais, que promovam a capacidade de influência da cidadania, não deixando o espaço público deliberativo exclusivamente confiado aos partidos políticos e aos media, ou seja, às elites instaladas nos centros de poder. Hoje, a cidadania já dispõe de instrumentos para agir com grande autonomia relativamente ao gatekeeping comunicacional e político. Os partidos políticos estão cada vez mais transformados em meras máquinas eleitorais para acesso ao poder de Estado e também os media estão cada vez mais transformados em máquinas de fabrico de consenso e em motores de tabloidismo em todos os géneros informativos, incluído o género político, primando em noticiar e comentar sobretudo o negativo, seu core business. Uns e outros deveriam mudar e só vejo um modo de provocar a mudança: através da automobilização política e comunicacional da cidadania. É certo que a endogamia do establishment e o uso do Estado para a sua própria auto-reprodução corporativa têm vindo a ser combatidos pelo aparecimento de novas forças políticas e pela redução do poder eleitoral dos partidos da alternância, mas em muitos casos o resultado arrisca-se a ser pior do que o próprio statu quo. O caso mais evidente é o do populismo da direita radical.
4.
Dito isto, em geral, gostaria agora de acrescentar alguns comentários acerca da situação pós-eleitoral. Em primeiro lugar, uma apreciação dos primeiros passos da nova liderança do governo. Passos delicados, vista a fraca representação parlamentar do partido do governo (PSD), que nem sequer é o maior partido parlamentar. Mas passos algo incertos e até mesmo pouco cuidados, para não dizer arriscados ou mesmo temerários, numa filosofia que parece poder resumir-se na ideia de que “se posso estar perdido por cem, então que perca por mil”. Grandes riscos, grandes oportunidades. Mas é quase certo que, vista a posição naturalmente intransigente e combativa da direita radical em relação às iniciativas da esquerda, o CHEGA tenderá, em linha de princípio, a servir de suporte ao governo, ainda que este, publicamente, o desconsidere politicamente. Condição essencial para que este sobreviva, visto que, depois da ingénua e reiterada condescendência do PS para com o PSD e o governo (na eleição do Presidente da AR, na abstenção nas moções de rejeição do programa do governo ou na carta sobre várias matérias em que se mostrou disponível para um acordo, mas também na declaração intempestiva sobre o orçamento para 2025), o mais certo será o endurecimento da sua posição, não só pela clara arrogância, inversamente proporcional à sua própria consistência eleitoral, com que Montenegro se apresenta na dialéctica política, mas também pela temerária e reiterada tentativa de enganar os cidadãos sobre a sua redução do IRS. O PS provavelmente passará, de facto, a mover-se com mais intransigência, desempenhando aquele que é o seu papel e obrigando sistematicamente o CHEGA a definir a sua colocação em relação a um governo da sua própria família política. Sim, da sua própria família política. Isso, de resto, já se viu na votação das moções de rejeição do programa do governo. Mas há um senão: o CHEGA levar a sério a possibilidade de substituir o PSD como partido maioritário da direita e aspirar a, nessa condição, ser governo. Essa ambição alterará substancialmente a sua filosofia. Ventura meditará certamente no que aconteceu com a senhora Meloni em Itália (em relação ao governo Draghi) e poderá recuar (ainda mais) para um ponto exterior ao sistema político e de partidos que temos.
5.
Mas há também um outro aspecto que merece a maior atenção, ou seja, o que está escrito no próprio programa de governo acerca da justiça. E passo a citar para que não haja dúvidas:
“A reforma da Justiça deverá seguir dois eixos transversais fundamentais. Primeiro, é necessário desgovernamentalizar as escolhas políticas de Justiça. As políticas públicas da Justiça têm sido excessivamente governamentalizadas. O que não é compatível com uma matéria cuja dignidade político-constitucional postula uma visão exigente do princípio da separação e independência dos poderes. Segundo, impõe-se democratizar a reforma da Justiça, gerando um consenso alargado, político e social, para que a mesma seja implementada com solidez e tenha resultados com eficácia” (pág.s 82-83; itálico meu).
Em síntese, a justiça tem estado excessivamente governamentalizada? A mesma que, num passe de magia, com um vago parágrafo em comunicado da PGR, deitou abaixo um governo com maioria absoluta de apoio no Parlamento? Ou, pelo contrário, o que é preciso é desjudicializar a política? O lawfare está a ganhar demasiados adeptos também em Portugal. Separação e independência dos poderes não pode significar promovê-las somente numa direcção. De resto, em Portugal o ministério público já tem uma enorme autonomia, que consiste na autonomia externa (em relação ao poder político) e na autonomia interna e funcional dos procuradores, que os subtrai até ao controlo da sua própria hierarquia. Uma autonomia muito diferente, pois, da que acontece, por exemplo, na Alemanha, onde o ministério público responde perante o ministro da justiça.
6.
Aquilo a que estamos a assistir é a uma progressiva deslegitimação da política democrática, a que se funda na soberania popular, com a exaltação dos poderes separados e das autoridades ditas independentes, considerando o que é do foro governativo ou até mesmo do foro parlamentar como suspeito, talvez em nome da ideia de que o poder corrompe e de que o poder absoluto corrompe absolutamente, mesmo que seja democrático e alcançado por via electiva. Depois, desgovernamentalizar a justiça para a democratizar? Afinal o que significa democratizar? Não será remeter essas instâncias para processos electivos, onde o primeiro deles é precisamente o do poder legislativo (e da correspondente instância que deriva directamente dele, ou seja, o executivo)? Não é por acaso que existe uma intensa discussão precisamente acerca da natureza da autonomia do ministério público. Se se quiser ter uma ideia daquilo que estou criticamente a referir basta ver o recente discurso de tomada de posse do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Paulo Lona. Ele chega a afirmar que o sindicato nunca aceitará “reformas que contemplem soluções” que “comprometam a independência do MP”. Independência, note-se – a categoria que, de acordo com o disposto na CRP, só pode ser aplicada aos juízes, existindo, sim, para o ministério público, autonomia: externa, relativamente ao poder político, mas também interna, de natureza funcional, para os procuradores titulares dos processos. De qualquer modo, a um agente qualificado do poder judiciário, que tem como missão aplicar a lei, não cabe o direito de recusar (“nunca aceitará”) submeter-se a essa mesma lei, a que emana dos órgãos de soberania. No mínimo, o que se poderá dizer ao senhor Presidente do SMMP é que vá reler a CRP. Na verdade, Portugal tem um dos mais autónomos ministérios públicos da União Europeia. Mesmo assim, quer agora que o próprio PGR passe a ser um dos seus. Só falta mesmo reivindicar para si a eleição ou a nomeação do próprio Procurador-Geral da República. Ou seja, reinvindicar para si a independência que a Constituição da República lhe não concede (concedendo-a, sim, mas aos juízes).
7.
A grande questão é a de saber como é que o sistema garante a ligação entre os dois poderes, o político e o judicial (em sentido amplo), a verificar-se a independência total dos juízes (que deve existir, por imperativo da própria função) e a independência total do ministério público, como quer o sindicato (que não deve existir). O facto é que o poder judicial actua em nome do povo, mas a sua legitimidade é meramente funcional ou técnica e derivada, sendo certo que separação de poderes não equivale a igual legitimidade dos poderes por se verificar uma hierarquia que define a) a do poder legislativo como legitimidade de primeiro grau, ou ontológica, por derivar directamente do povo, através do processo electivo; b) a do poder executivo, que deriva do princípio da maioria; e, finalmente, c) a do poder judicial, que é meramente técnica e derivada da primeira. Esta ligação é hoje feita, no sistema português, através da nomeação (e da livre destituição) do PGR pelo PR, por proposta do PM. O executivo responde perante o poder legislativo e pode por ele ser destituído (através de moção de rejeição do programa de governo ou de moção de censura, para não falar dos poderes do PR, nesta matéria). O que não se compreende é que o poder judicial (incluído o judiciário) seja todo ele independente e não responda perante o povo, através dos seus representantes. Por detrás de tudo isto há, evidentemente, uma implícita suspeição generalizada sobre o poder institucional derivado do voto popular e uma concepção negativa da própria política, o que, como se sabe, tem alimentado o sucesso da direita radical e do populismo por essa Europa fora, alimentando também os processos de lawfare.
8.
As consequências de tudo isto são conhecidas: um progressivo e inaceitável enfraquecimento da política democrática e da sua expressão institucional e um crescimento insustentável do poder das corporações, que acabam por impor os seus interesses corporativos a todo o país. Mas isto significa a degradação da democracia e a sua redução a mero simulacro legitimador de uma dialéctica dos interesses interpretada sobretudo pelas grandes corporações. Tudo isto com a complacência de uma classe política timorata e impotente. O que resta é, pois, um sobressalto de cidadania que possa salvar o que há a salvar da política e da democracia representativa. JAS@04.2024
![]()
FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO (IX)
SOBRE A POESIA
Por João de Almeida Santos

“Folhas Caídas”. JAS. 04-2024
MUSAS NO JARDIM
NUM JARDIM ENCANTADO haverá sempre musas, para felicidade do poeta. Em que outro lugar as deveria ele encontrar? Elas são amigas das flores, das cores e dos aromas. Às vezes até se disfarçam de flor ou mesmo de aroma. E inebriam. Mas elas também são difíceis e imprevisíveis. E rápidas, como as fadas. Não é, pois, missão fácil, a do poeta, que convive com elas como se fossem amantes. Por isso, é desafiante esta relação, mas, no fim, depois de um árduo trabalho de (re)criação, muito compensadora. Até ao próximo andamento dessa interminável sinfonia de palavras.
RENÚNCIA
As musas não se deixam capturar e, portanto, os poetas não as podem ter. São amantes impossíveis. Não se deixam possuir. E se não as podem ter e nem sequer sabem se elas os escutam, que podem eles fazer? Fazem o que os poetas devem sempre fazer: cantam-nas. Eles escrevem como se elas os estejam a ler, a escutar. É a sua forma (poética) de viver. E a alma voa, porque o corpo se arrasta na vã tentativa de as alcançar. Se é que não houve renúncia, consciente, dolorosa, mas renúncia. Em certos casos, não há arrastar de pés, mas dolorosa firmeza. O Bernardo Soares diz que nobre é a renúncia. Só os fracos e vulgares são incapazes de renunciar. A renúncia é o segredo da arte. Só renunciando se pode possuir… pela arte. Longa espera, a de quem renuncia, por um encontro impossível? Sim, porque a renúncia não é o fim do desejo. É, sim, uma espera sem fim à vista. Uma espera sem esperança. Por isso falo muitas vezes do Sísifo que carrega palavras, num vai-e-vem interminável entre o vale da vida e o Parnaso. O desejo não morre com a renúncia, porque ganha outra forma e até se projecta até à posse, a única possível, pela arte. Diz o Bernardo Soares: “Tenho de escrever como cumprindo um castigo. E o maior castigo é o de saber que o que escrevo resulta inteiramente fútil, falhado e incerto”. Talvez não, a não ser perante a prova dos factos, desses com os quais não quer compromissos. O que o salva, ao poeta, é que ele tem muitas primaveras consigo e, por isso, resiste e sobrevive. A cantar. E talvez outras musas o ouçam, que não aquela para quem ele julga que canta. Julga? Sim, porque a realidade se confunde com a ficção, a vida com o sonho e o sonho com a vida. Mas sonhar é preciso. Dizia a Yourcenar que só se possui pela arte. E é verdade. E o Bernardo Soares também dizia que possuir o corpo é vulgar, como o sonho – todos possuem, todos sonham: “O que há de mais reles nos sonhos é que todos os têm”. Ele não queria tocar a realidade sequer com a ponta dos dedos. Elevar-se sobre essa posse ou sobre os sonhos é que é difícil, belo e nobre. Mas para se elevar tem de renunciar. Essa é que é essa.
PALAVRAR
O vento é amigo do poeta e leva, sim, os aromas, os sabores e as mensagens aos amantes das palavras, estejam eles onde estiverem. Sim, são as mãos do poeta e do pintor que lançam palavras e cores ao vento que passa na esperança de as porem em diálogo com a vida que, como o vento, também passa. Só que com elas passa melhor. As palavras também migram, transportando com elas beleza, cor, melodia. É por isso que das suas migrações resulta sempre um mundo mais rico, mais belo, melhor. O outro gostava de palavrar. Um palavrar bonito e pleno de sentido, como só ele sabia fazer. Eu também gosto de palavrar porque as palavras são nossas amigas… se não se deixarem capturar pela imensa logorreia que corre por aí e que as desfigura e empobrece. Tornam-se descartáveis. Se calhar é por isso que as palavras se aninham nos arbustos dos jardins para se protegerem desse sol abrasador que todos procuram para lhes aquecer a alma, sem se aperceberem de que acabarão com ela esturricada. No silêncio de um loureiro acolhedor elas sempre poderão ser encontradas por uma alma sensível que lhes dê asas e as leve para a ilha da utopia… para a sua neverland, a terra dos poetas.
ENLACE
Na verdade, a sinestesia é um enlace entre duas artes, neste caso, entre a poesia e a pintura. E “Enlace” foi o título que dei ao poema que cantou o encontro (poético) entre uma videira cardinal e um loureiro, lá no jardim. Uvas no loureiro, em pleno Verão. Um improvável enlace que acabou por acontecer e que suscitou um produtivo espanto e um estremecimento. A poesia nasce, sim, do estremecimento, mas, depois, torna-se coreografia de palavras ao ritmo de uma toada sedutora. Mas é assunto mais da alma do que do corpo, apesar do pulsar sensível da sua melodia.
CHORAM OS POETAS?
O choro poético é belo. Porque é um canto. As lágrimas são palavras derramadas em cadência melódica. Mesmo assim, paradoxalmente, o poeta diz a si próprio que não chore. Provavelmente refere-se ao momento anterior (e tão necessário) ao da levitação poética e apolínea. Talvez leia Nietzsche demais. Cito-o de “A Origem da Tragédia”: “com gestos sublimes é que ele nos mostra quanto o mundo dos sofrimentos lhe é necessário para que o indivíduo seja obrigado a criar a visão libertadora, porque só assim, abismado na contemplação da beleza, permanecerá calmo e cheio de serenidade, levado na sua frágil barca por entre as vagas do mar alto” (Lisboa, Guimarães Editores, 1972, 51). “Não chores, não, transforma o choro em canto”, poder-se-ia dizer-lhe, ao poeta. “Eleva-te ao sublime e pára de sofrer através da contemplação da beleza do teu próprio canto”. pois há sempre, lá bem no fundo de si, essa pulsão que o impele a cantar para não afundar na tristeza, para levitar em contemplação. Leveza é o que lhe dá a poesia. Uma das categorias deste milénio, de que falava o Calvino. Também lhe poderia ter dito “canta, amigo, canta…”, pois o poeta é amigo das minhas divagações sentimentais, às vezes tristes, sim. E foi mesmo assim que o representei na pintura, melancólico e um pouco enredado em si próprio.
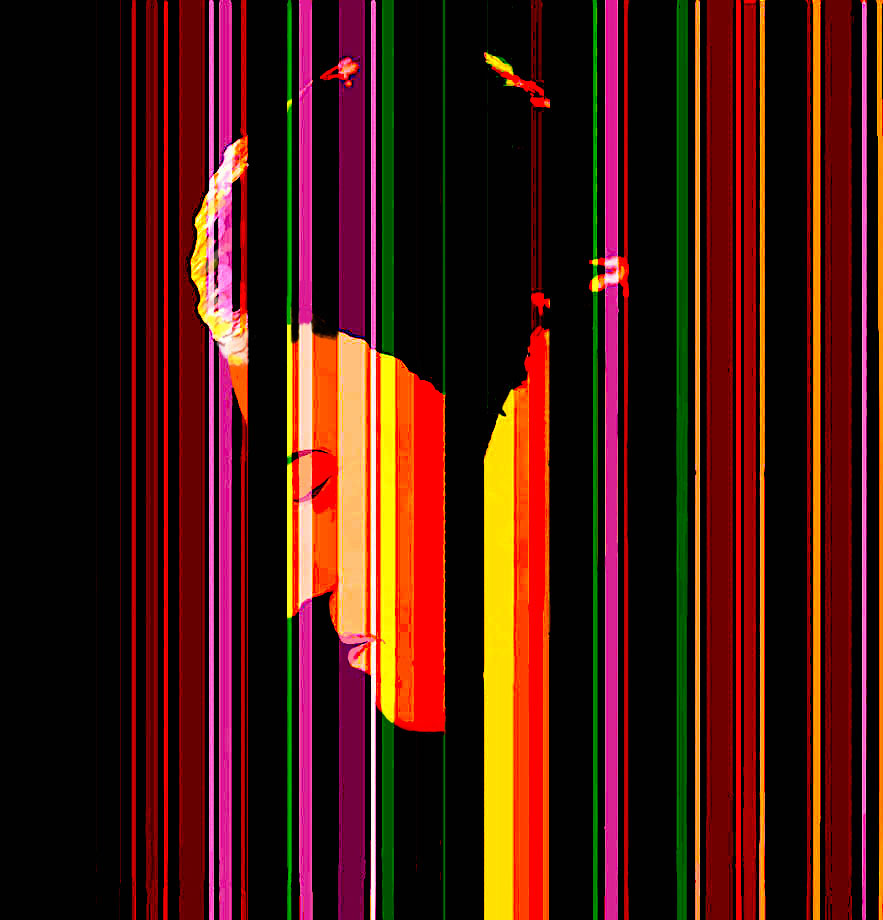
“Perfil de um Poeta”. JAS. 04-2024
AS COISAS FINDAS MAIS QUE LINDAS FICARÃO?
Uma amiga e habitual leitora da minha poesia lembrava-me alguns versos do poema de Drummond de Andrade, “Memória”: “Amar o perdido / deixa confundido / este coração (…) / Mas as coisas findas, / muito mais que lindas, / essas ficarão”.
E julgo que era o Drummond de Andrade que dizia para o Manuel Bandeira (citado no poema a que me refiro, “Um Sonho no Poema”, de 24.03.2024, a partir de “Temas e Variações): “Teu nome é para nós, Manuel, bandeira”. E diria mesmo: “se non è vero, è ben trovato”. Junto-me, pois, a eles e digo, em poesia, também:
Coisas findas, Mas cantadas, Mais que lindas Ficarão Em poemas Ou sonhadas Muito mais Do que já são.
Há sonhos que são mesmo assim.
SONHO CANTADO
De uma rosa (num quadro meu chamado “Sonho”) sai um perfil de mulher, talvez o da musa do poeta-pintor. A cor, vermelho-púrpura intenso, diz tudo. Um belo e colorido renascer da musa na primavera que desponta. E no poema. E no sonho. E os sonhos acontecem mesmo com dimensão existencial e força expressiva. Mas, depois, é preciso convertê-los, dar-lhes forma poética e plástica. Há sonhos intensamente sensitivos que persistem fisicamente para além do sonho, que perduram como imagens nítidas ao olhar interior. Só faltará, então, cantá-los para os tornar reais. E cada canção será, depois, uma ponte que leva o sonho a muitos lugares, talvez mesmo ao lugar onde habita a musa. Uma ponte lançada sobre o mundo da sensibilidade. Sim, “la vida es sueño” e, por isso, também o sonho é vida. O poeta Calderón de la Barca tinha razão.
O PODER DO SONHO
Há sonhos que são mesmo assim: têm lá dentro fortes emoções e cores intensas. Tão fortes e tão intensas que o poeta tem de as cantar, de lhes dar vida, de as trazer cá para fora e de as partilhar. E, claro, se a musa acompanhar por dentro o canto será grande a felicidade do poeta. Cantar o sonho é vivê-lo, fazendo da vida “sueño” e do “sueño” vida, como queria o poeta. E confesso que talvez seja algo mais do que “piedosa ilusão”, porque não é assim que o poeta a sente. Simplesmente porque não pode deixar de lhe dar forma, com palavras e rítmica melodia. Imperativamente. Como exigência interior, ainda por cima sob pressão de uma intensa e viva narrativa onírica. Mesmo que, até em sonho, pressinta que irá acontecer, a esse perfume, um fim, uma rápida dissipação que já se esteja a avizinhar. É na fronteira que tudo ganha maior intensidade e sentido. Vê-se para dentro e vê-se para fora dessa linha separadora de mundos diferentes. A poesia acontece sempre em situação de fronteira, que funciona como se de um intervalo entre si e o mundo se tratasse. O sonho também está na fronteira só que com uma intensa neblina que nada permite ver com nitidez.
POETAR É SONHAR
Os sonhos acontecem e às vezes são intensos e perduram. A poesia pode dizê-los com a sua linguagem ou ela própria ser o sonho e até induzi-lo. A musa faz parte dos sonhos e a linguagem poética tem sempre algo de onírico. Subtrai-se, como o sonho, à inflexibilidade do tempo e do espaço. E tem uma linguagem codificada. E nunca mente. É como voar sem sair do mesmo lugar.
PÓLEN
Fruir poeticamente o jardim é dar asas à sensibilidade e viajar com a alma à procura de pólen, seu alimento. Como as borboletas. A poesia poliniza almas. É uma viagem interior sobre paisagens sobre as quais pousa para retirar pólen. Essas paisagens ficaram registadas na memória, pela sua intensidade, locus amoenus do poeta, porque já filtrado e aveludado pelo tempo. E a pintura ajuda, dando cor e materializando essas paisagens, onde o poeta se pode rever em viagem .
O ARBUSTO
“Tem de estar encantado o arbusto que te encanta”, dizia-me um companheiro de viagem poética. Claro que sim. E o encanto também está nos olhos de quem o observa. Sobretudo do poeta melancólico, que pede ajuda ao pintor para ver mais claro e com mais cor. Tê-lo duas vezes em frente de si. Uma das vezes já recriado pelo olhar da alma sobre a memória. Sonho? Também. É ele que o diz. Sonho multiforme. O arbusto ganha, assim, vida. Duas vezes, com este desdobramento artístico. E ganha vida o jardim, ajudado pelo intenso perfume do inebriante jasmim que incendeia o olfacto do poeta e lhe provoca poéticas alucinações. Eu nem sei se não será a embriaguez do poeta, por este perfume tão intenso, que o leva a declarar-se assim. Talvez. Mas não sei, de tão perdido ele andar nesses seus territórios da memória afectiva, acicatado pela visão do loureiro. Visões e inalações que lhe transformam o olhar. Mas, repito, não sei. Uma coisa, todavia, eu sei: isto é coisa antiga e que perdura, de tão intensa ser ou ter sido. Talvez tenha mesmo razão o Eliot: a musa visitou-o e, como dizem os brasileiros, virou poeta. Só pode, como diz o outro. Por necessidade. Para sobreviver nessa imensa carência afectiva em que passou a viver. Uma espécie de sem-abrigo existencial que adoptou a poesia como sua casa (para viver e sobreviver). Não serão os poetas como os sem-abrigo? Existencialmente desinstalados? Só não serão porque têm recursos especiais e estão sempre a construir casas (os poemas) como refúgios dos temporais existenciais que os estão sempre a fustigar quando não estão debaixo da ponte poética. Mas isso cansa. Levar permanentemente as palavras às costas lá para cima, para o Monte Parnaso, para construir os seus refúgios cansa mesmo. Mas é esse o seu destino. O destino de um ser eternamente melancólico. Ele vive em eterno retorno. O da melancolia.
A DIALÉCTICA DO SUBLIME
Ideação do amor, foi o que um Amigo me disse a propósito do poema “Talvez” (17.03.2024). A composição poética é, sim, o resultado da elaboração e da estilização de uma relação sensível com o mundo, quando ela é intensa e marcante. Nesta relação, o amor ocupa um lugar predominante. O amor expresso poeticamente reflecte uma dimensão subjectiva, que não é somente existencial, mas que também é formal, porque investida pelas categorias da arte. O Calvino falava de leveza, de rapidez ou de exactidão, por exemplo. Sim, mas a expressão poética do amor assenta na força existencial dessa pulsão estrutural que anima o ser humano, que está ligada à reprodução da própria espécie, estimulada pelo prazer que a acompanha, e que se exprime superiormente como dialéctica dos afectos. “Dádiva do céu”, sim, porque acontece como uma revelação e tem esse poder. O poder de uma revelação ou de um dom recebido, como destino. E permanece porque não tem resolução (racional) aparente, a não ser através da transfiguração poética. A levitação poética retira peso (gravidade) ao amor e, de algum modo, e por isso mesmo, liberta. E a omnipresença do amor deve-se à sua intensidade e à sua perdurabilidade, sendo esta última consolidada pela poesia. E perdura porque a poesia o subtrai aos efeitos da contingência e ao respectivo desgaste, elevando-o. A intensidade queima, mas se for convertido em palavras e melodia com poder performativo resiste e subsiste. A espécie humana encontra na dialéctica do sublime a condição da sua própria humanidade e eternidade.
OCASO
“Ocaso” é o título de um poema meu, ilustrado por um quadro (“Rasto de Luz”, aqui reproduzido) com o mar e o sol a pôr-se (25.02.2024). E alguém disse que a arte torna possível a concretização de sonhos irrealizados. De certa forma, sim. Sobretudo se se tratar de uma arte altamente performativa, como é a poesia. Trata-se do ocaso da vida, mas também de um sonho incompleto ou, ainda, de um amor que ficou pelo caminho e que no tempo foi esvaecendo. Ocaso é a lenta dissolução da fonte de energia que despertou sentimentos de grande intensidade. Esgotamento. Algo que perdeu força propulsiva. Então, é necessário dar-lhe, de novo, vida, recriá-lo, agora de forma mais estilizada, mais sofisticada, menos dionisíaca, mais apolínea. Antes que se dissipe totalmente. Enquanto for ainda possível chorá-lo, sofrê-lo. Assim, a marca, a cicatriz, fica lá, embora com menor poder emocional sobre o poeta ou mesmo como “locus amoenus”. O poema é, continua a ser, sempre uma revivescência com poder (quase) substitutivo e compensador. É neste sentido que falo quando digo que a poesia é fortemente performativa. Não substitui, mas de algum modo resolve ou, pelo menos, atenua. Neste poema acrescentei (à primeira versão publicada), na última estrofe, dois versos clarificadores. Depois de tanto tempo, apercebi-me de que era isso que lhe faltava:
(...) E O SOL Lá regressou, Mas vinha De outro lado, Sem suave Marulhar, Sem ondas Pra navegar Nesse brilho Ondulante Que um dia Me encantou A lembrar-me O teu mar, Esse ondear Cativante De quem não sei Se me amou.
Essa declarada incerteza: “De quem não sei / Se me amou”. Verbalizá-la foi como se a tivesse resolvido.
A verdade é que entre o começo e o ocaso acontece algo que permanece. Por alguma razão começou, ainda que tudo tenha um fim. O que importa é o começo. A atracção inicial, originária. Depois, é o desgaste, como tudo. A rotina que tudo consome. Mas há casos em que a intensidade já anuncia um fim rápido, quase como se não tivesse começado ou tivesse terminado antes de acontecer. Um raio que fulmina. Luz intensa que encandeia. E o incidente acontece. Depois, o silêncio. A escuridão. A noite. Tudo fica lá no mais profundo da consciência e a poesia pode lá ir à procura desse instante fulminante que ficou registado sem mediação. Como acontece com a psicanálise: com as associações livres ou com a interpretação dos sonhos. A poesia descodifica, sim, mas em código. E mais: precisa de rituais. E quando é ajudada pela pintura em sinestesia tudo parece ser mais fácil de interpretar, com a ajuda do olhar. Mas não é. Fica a beleza de que esse instante fulmíneo é a causa remota. E acontece uma momentânea libertação.
No ocaso, o sol põe-se, lá ao fundo, no horizonte, deixando um rasto de luz a iluminar a fantasia do poeta na sua revisitação onírica do passado e da musa, quando a noite chegar. O dia seguinte será outro dia e a melancolia do ocaso parece ter passado… mas não passou. Só se atenuou. A luz regressa, mas já não é a mesma.
Nessa “hora crepuscular” o poeta reconstrói-se. Sim, é a magia do poema e, neste caso, também da pintura. Lembra-lhe o ocaso de uma relação, intensa, mas em rápida diluição, como esse rasto de luz marinha e esse sol que está prestes a deixar o fio do horizonte. O brilho do sol e do mar que o inspira para articular o discurso sobre uma relação que o marcou, esse brilho ajuda-o, sim, a reconstruir-se, a recriar o tempo de uma epifania afectiva e, assim, a resolvê-la, metabolizando-a poeticamente. Sim, tratando-se de poeta, a dúvida persiste. Persistirá sempre. Mas só até ao momento em que se quiser ir mais além da certeza de que algo aconteceu, se é verdade que a poesia é sempre a resposta a um imperativo existencial. Ou seja, até ao momento em que se conclui que realmente há cicatriz. Que tem mesmo de haver. Porque houve ferida. E que foi por isso que houve poesia. Tudo isto, dito poeticamente, será sempre incerto, mas não falso.
Foi neste rasto de luz, neste caminho cintilante que o poeta reviu a sua própria experiência afectiva e a quis recriar com toda esta luminosidade, sem deixar de a comparar com a rapidez do ocaso (que se verifica em ambas as circunstâncias). “Un éclair… puis la nuit!”, dizia o Baudelaire no poema “À une Passante”, em “Les Fleurs du Mal”. Tal e qual. Impossível dizer melhor. Tudo aqui, no poema e na pintura.
NAUFRÁGIO
Na verdade, a vida é um naufrágio permanente… embora não fatal. Navegamos sempre e, às vezes, naufragamos, para aportarmos, logo, a outra ilha. A esta luz seguir-se-á inevitavelmente a noite e os sonhos… e uma nova manhã com o sol a aparecer do outro lado e a voltar a encher-nos os olhos de luz, sim, mas de uma luz diferente. Mas também é verdade que naufragar numa estrada de luz é diferente de naufragar na noite escura. De qualquer modo, haverá sempre uma ilha onde aportar, guiados pela luz. A poesia é uma ilha onde se chega depois de um naufrágio numa rota de luz, mas num mar alteroso, emocionante e perigoso. E é desta emoção que reemerge o poeta e a poesia.
Aqui há luz, a luz do sol reflectida no oceano, aquela que as palavras procuram acender no espírito de quem lê. E, por isso, julgo eu, é que o “Ocaso” sensibiliza e seduz. Bem sei que há por aqui muita melancolia. Mas também há muita luz. E que a vida vai acontecendo entre a melancolia e a luz interior que ilumina a memória do que um dia vivemos intensamente, mas que o tempo amaciou. Felizmente que há sol e até luar para nos iluminarem a alma, seja dia seja noite. Esse sol e esse luar também têm outro nome: poesia. O sol da alma. Sempre. A luz da lua, nos dias de luar e nas noites felizes dos sonhos desejados. E esses também nos acompanham. JAS@04-2024
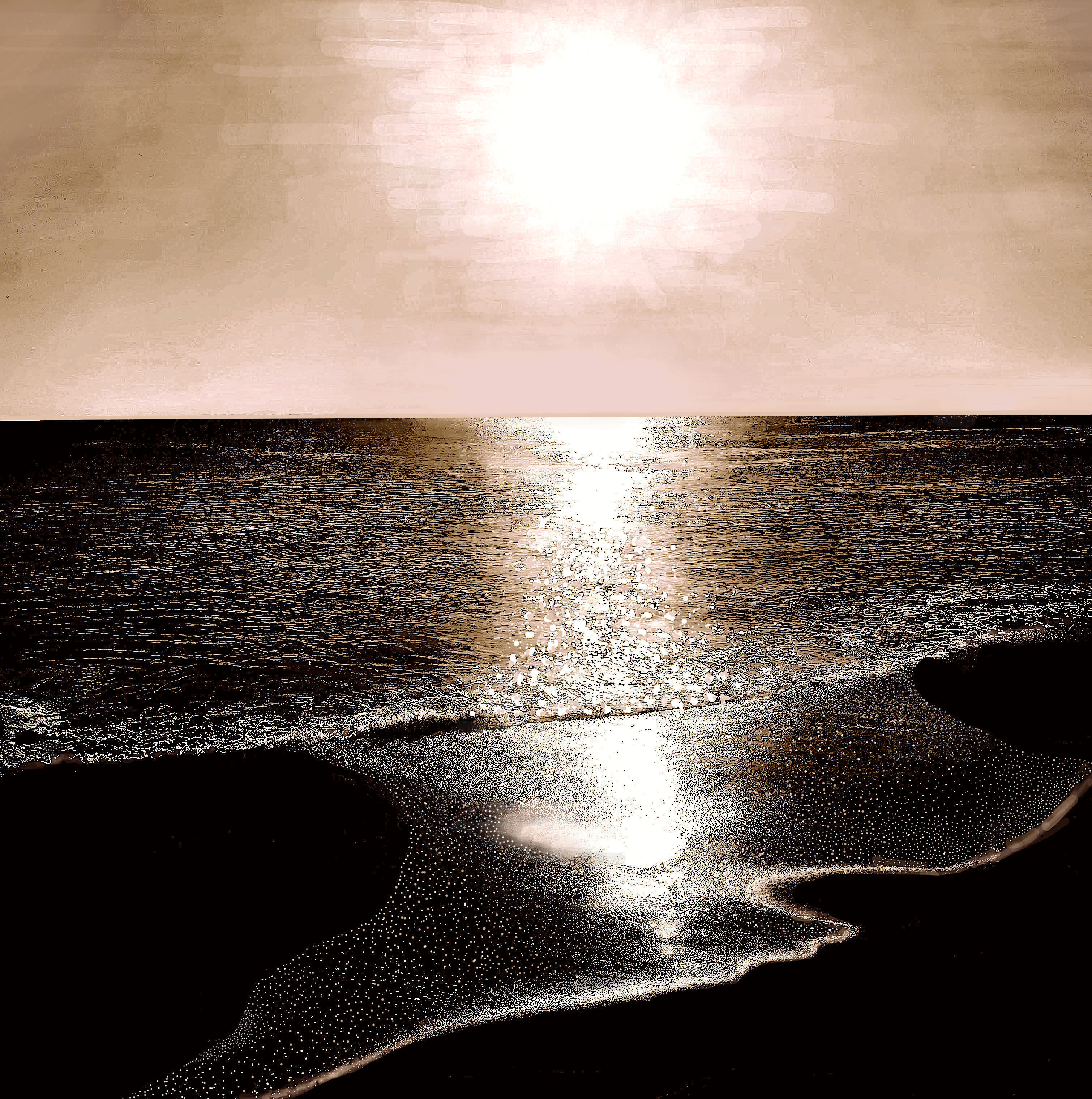
“Rasto de Luz”. JAS 2023
YOU MUST LOOK AT FACTS
BECAUSE THEY LOOK AT YOU
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 04-2024
ONTEM, às 18:00, tomou posse o minoritário 24.º Governo Constitucional, liderado por Luís Montenegro. Houve dois discursos, o do Presidente da República e o do Primeiro-Ministro empossado. Nada de muito importante, a não ser três referências que, “sem jogos de semântica”, merecem algum destaque: 1) a distinção feita por Luís Montenegro, referindo-se ao PS, entre fazer oposição e comportar-se como força de bloqueio, numa vaga alusão à velha doutrina de Cavaco Silva; 2) a vontade de cooperar com todos, todos, todos, sem ter referido os 50 deputados do CHEGA e o milhão e 170 mil eleitores que votaram nele; 3) a vontade de, sendo um governo com um suporte ultraminoritário no parlamento, querer fazer reformas estruturais. Uma antecipação do discurso que fará por ocasião da apresentação do Programa de Governo no Parlamento e a primeira fase da longa campanha eleitoral que se seguirá. Mas vejamos como estão realmente as coisas.
1.
De uma maioria absoluta passou-se a uma absoluta minoria, devido a uma mais do que duvidosa injunção do ministério público na política – a inopinada demissão de um primeiro-ministro que dispunha de maioria absoluta no parlamento, eleições e a formação de um novo governo que dispõe, à prova dos factos, sim, de uma minoria absoluta no Parlamento. Viu-se como funcionará esta minoria, no futuro, considerando o processo de eleição do actual Presidente da Assembleia da República. Só com a muleta do principal partido de oposição conseguiu eleger o seu candidato, embora, a tomar em consideração a dimensão dos grupos parlamentares, devesse ter sido eleito, para os dois primeiros anos, o candidato do PS, pois este é o maior partido presente na AR (tem mais votos do que o PSD). Erro do PS? Não sei, mas parece. O CHEGA, depois da confirmação do cordão sanitário que a direita moderada (e toda a esquerda) criou à sua volta, declarou que esta minoria absoluta não iria contar com o seu apoio para formar uma maioria absoluta. Não é estranha, esta posição. E, à esquerda, que, no seu conjunto, dispõe de mais 4 deputados do que a base parlamentar de apoio do governo, sendo natural que se comporte politicamente como oposição, não parece razoável pedir, em nome do estafado sentido de Estado que agora serve de bandeira aos seus serviçais televisivos, que se junte à minoria e, em sede de orçamento, dê o seu generoso aval ao governo. Em nome do supremo ideal da estabilidade, o mesmo que não inibiu o PR de dissolver um Parlamento estável e que não impediu António Costa de se demitir-se apressadamente, logo a seguir a um suspiro da senhora PGR. Sim, não fazer oposição ao país parece ser razoável, como diz o deputado Brilhante Dias, mas o que não parece razoável é fazer fretes a um governo de direita absolutamente minoritário, quando esse mesmo governo poderia, caso quisesse, dispor de uma confortável maioria absoluta. Nestas circunstâncias, e a manter-se a actual situação, o orçamento de Estado será chumbado e o Presidente da República, se seguir a linha política já por três vezes por si adoptada, e designadamente em 2021, deverá, em Novembro, dissolver o Parlamento e convocar novas eleições.
2.
O processo de lawfare não foi, como esperavam, devidamente concluído e, por isso, continuaremos a assistir às prédicas dos papagaios de serviço, a cânticos auspiciosos em honra do sentido de Estado e da estabilidade. Por exemplo, na SIC, o canal do PSD. O que, entretanto, urge saber é se quem manda no ministério público é a Procuradora-Geral ou o sindicato dos magistrados do ministério público. E, já agora, se quem decide os critérios para a escolha do Procurador-Geral é o sindicato ou os representantes do povo soberano. Esta deveria ser, sim, uma preocupação do governo e do Parlamento, uma vez que está em causa a relação do poder político – e, através dele, do povo soberano – com o poder judiciário, uma vez que é em nome da colectividade que ele actua e é dela que deriva a sua legitimidade. Mas em Portugal parece que quem decide da validade do voto popular é este mesmo ministério público que responde apenas perante si e já nem sequer perante o topo da sua própria hierarquia, sabendo-se que há na Europa países onde o ministério público “faz parte integrante do executivo e está subordinado ao ministro da justiça (por exemplo, na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca ou nos Países-Baixos)”, como se lê num Relatório (de 03.01.2011) da Comissão de Veneza do Conselho da Europa sobre o Ministério Público *. Mesmo assim, nada impede que o topo da hierarquia, confortado pela Presidência da República, que o nomeia (sob proposta do governo), sempre possa emitir devastadores comunicados públicos que suspendem a soberania popular na sua forma de mandato eleitoralmente conferido.
3.
A verdade é que separação de poderes não significa igual legitimidade entre o poder judicial e o poder político, porque se este é portador de uma legitimidade de primeiro grau, ou seja, ontológica, aquele só é portador de uma legitimidade derivada, de segundo grau, ou seja, meramente técnica, e, por isso mesmo, a separação de poderes também não pode significar incomunicabilidade entre os poderes ou separação absoluta, o que acabaria por negar o carácter democrático do próprio regime. Na verdade, o que se espera é que o poder político defina com rigor estas relações, tendo sempre presente a natureza do Estado de direito democrático. Uma boa clarificação poderia evitar casos como este.
4.
Entretanto, haverá eleições europeias, em Junho, e os resultados tornarão a situação política mais clara, em qualquer dos casos, certifiquem elas ou não os resultados das legislativas de Março. Elas não modificarão a geometria política, a relação de forças no parlamento, mas darão ulteriores indicações para o rumo a seguir pelos principais protagonistas, o PSD, o PS e o CHEGA. A mais recente sondagem da IPSOS (divulgada ma passada sexta-feira pelo jornal “SOL”) dá uma vitória tangencial ao PSD e uma ligeira quebra do CHEGA, que conseguiria eleger 3 eurodeputados (e, de novo, igual número de mandatos para o PS e o PSD). Se este quadro se verificasse, nada de essencial mudaria. Mas se o PS vencer as eleições, confirmando-se como o maior partido, a fragilidade política do governo aumentará. E muito mais se o CHEGA confirmar o seu score eleitoral ou até o aumentar. Por isso, o mais provável é que a imediata acção do governo que ontem tomou posse seja, por um lado, tomar medidas que visem reforçá-lo nas próximas eleições europeias e, por outro, preparar-se para eleições legislativas a curto prazo. Ou seja, este governo provavelmente tornar-se-á uma mera máquina eleitoral para preparar um seu futuro politicamente mais robusto. Continuaremos, pois, em intermezzo eleitoral, ou seja, em permanent campaigning. Uma prática que tem vindo a contribuir para o descrédito da própria política e, consequentemente, da própria democracia.
5.
Em qualquer caso, a esquerda não tem maioria no parlamento. E a direita moderada, se quiser manter-se no poder, deverá retirar o cordão sanitário ao CHEGA e com ele negociar. Trata-se, afinal, de um partido constitucionalmente reconhecido, havendo no interior do PSD muitos que o reconhecem como possível aliado. Na verdade, nem se trataria de algo insólito pois a direita radical faz parte de soluções governativas em vários países da União Europeia (por exemplo, na Suécia ou na Finlândia) e governa, por exemplo, em Itália e na Hungria, tendo já governado também na Polónia. Aqui ao lado, o PP governa comunidades em aliança com o VOX. E eu creio que a assunção de responsabilidades é sempre uma excelente via para a moderação e para pôr à prova o verbo (ainda que desmedido) que se exibe quando isso não implica assunção de responsabilidades perante o país. Mas esse compromisso e o abandono do radicalismo verbal e anti-sistema talvez tenha também como resultado uma efectiva redução eleitoral, pois o discurso de tipo tablóide, que atrai audiências, tenderá a reduzir-se. A segregação do CHEGA, pelo contrário, levá-lo-á a colocar-se fora do sistema, a suscitar uma forte polarização da atenção social e a lutar com redobradas forças para chegar a primeiro partido, a única forma de chegar ao poder. O caso italiano é muito ilustrativo do que também aqui pode vir a acontecer. O Fratelli d’Italia foi o único partido que não integrou a grande coligação de apoio ao governo de Mario Draghi (02.2021-10.2022). O resultado foi uma subida de 4.5%, em 2018, ou de 6,4%, em 2019, nas europeias, para 26%, nas legislativas de 2022. Este caso, onde a líder sempre exibiu um carisma e uma capacidade de controlo do partido muito alta, certamente está a ser tomado em séria consideração por André Ventura, que dispõe das mesmas condições (e não exibe o mesmo grau de filiação histórica num passado de regime ditatorial).
6.
Tenho a convicção de que não existe actualmente uma clara percepção pública da distinção entre uma parte consistente do centro-direita e o centro-esquerda, sobretudo porque o PSD mantém uma posição política e ideológica ambígua, a começar logo no nome. E esta posição de intransigência confirma essa incapacidade de assumir sem tibiezas o espaço político que realmente ocupa ou deveria ocupar, ainda que a linguagem dos adversários o qualifique sistematicamente como partido de direita. Foi também por isso que apareceram, à direita, dois partidos que, somados, exibem uma força eleitoral quase igual à sua (CHEGA e Iniciativa Liberal, hoje com cerca de 24% e 58 deputados). É uma questão antiga que representa a sobrevivência de resíduos ideológicos do tempo do PREC, em que este partido se afirmava, e cito o seu “Programa do Governo”, de Abril de 1976, “fazem parte do nosso ideário e das metas a atingir os valores do socialismo democrático”, posição que, de resto, já vinha do Programa do PPD, de Novembro de 1974. Esta identificação acentuou-se recentemente com a liderança de Rui Rio e não se alterou com Luís Montenegro, que numa campanha eleitoral interna afirmou que o PSD não tem problemas existenciais, como que a dizer que a clarificação acerca da sua identidade política nada interessaria. Pois parece que, afinal, interessa, pois não se dando, teimosamente, com o vizinho – alguém que, afinal, antes até habitara a mesma casa – porá em causa a própria sobrevivência (enquanto partido de governo). Eu creio que o problema é mesmo de natureza existencial, antes de ser político (embora também seja). Ou seja, o PSD nem assume que é um partido claramente de direita ou de centro-direita nem assume que o espaço da social-democracia sempre esteve efectivamente ocupado pelo PS. E esta situação, sendo factor de confusão para os eleitores, muitos deles, à direita, acabaram por preferir a clareza do CHEGA (ou da Iniciativa Liberal), votando nele. Sabemos que o bipartidarismo está hoje em crise um pouco por todo o lado, sendo também certo que esta sobreposição dos dois maiores partidos num mesmo espaço político (e apesar de a nova middle class representar mais de 50% do eleitorado nas sociedades avançadas) contribuirá para aprofundar a fragmentação do nosso sistema de partidos, designadamente na área do bloco de direita, como vimos. Uma tendência já presente na sociedade civil, naqueles que não se sentem representadas por um partido que, como o PPD de outrora, tendia a representar uma ampla federação de tendências, em largo espectro (como acontecia, por exemplo, com a velha Democracia Cristã italiana).
7.
Mas confesso que também não vejo grande clarificação à esquerda, sobretudo agora que o discurso parece cada vez mais esgotar-se na ideologia das contas certas e na subordinação da política à gestão comunicacional dos grandes números, sem reconhecer que essas contas certas se devem à pauperização fiscal dos contribuintes, reforçada, mais recentemente, pelos efeitos da subida da inflação. Acresce uma permanente e quase obsessiva exibição do Estado Social, apesar de este estar a exigir uma profunda revisão e não só pela sua reconhecida ineficiência. O excesso de prestações do Estado não só leva à sua própria ineficiência pela crescente assimetria entre uma elevada procura e uma efectiva escassez de recursos disponíveis (uma equação sem solução, vista a dimensão do universo abrangido) como também gera imobilismo social num país que do que mais precisa é de ser estimulado a produzir, a inovar e a sair das suas zonas de conforto. O Estado deve estar lá onde é necessário, sem dúvida, mas não pode estar em todo lado e até a fazer o que compete aos indivíduos singulares fazerem. De facto, não me parece muito saudável que se proceda a uma inversão total da famosa e feliz frase do discurso inaugural de John Kennedy: não te perguntes o que podes fazer pelo teu país, mas sim o que o teu país pode fazer por ti. O Estado-Caritas e o Estado-Fiador não me parece serem os melhores modelos para resolver os nossos problemas de desenvolvimento e de crescimento. Mas o excesso de visão comunitarista, e de amplo espectro, é a isso que leva, com consequências desastrosas para o país. Acresce ainda que, à esquerda, se está a verificar uma pouco interessante tendência para a resolução da crise ideológica através da importação generalizada do discurso da esquerda identitária dos novos direitos. O que só agrava as coisas, dando ulteriores pretextos para um reforço doutrinário e político da direita radical, que imputa a todo o establishment (e com alguma razão) esse discurso.
8.
Não se adivinham tempos fáceis. O governo para sobreviver tem de dedicar uma boa parte da sua energia a isso, mas também tem de decidir em matérias que há muito estão imobilizadas, não tendo, todavia, força política para isso. Se a situação, com uma maioria absoluta, já estava socialmente explosiva, agora, com um governo frágil e com todas as condições para ficar paralisado, a probabilidade de, a breve trecho, haver novas eleições é enorme, apesar do enorme optimismo e determinação que Montenegro pôs no seu discurso de tomada de posse. É evidente que o terceiro governo de António Costa enfrentou consecutivas crises internas e que a qualidade dos membros que o integravam suscitava muitas dúvidas, mas não foi isso que levou a novas eleições. O que levou a novas eleições foi a injunção política do poder judiciário e a prontidão com que António Costa deitou a toalha ao chão, sem cuidar de defender o mandato que os portugueses lhe confiaram, até pela leveza desse suspiro discursivo da senhora Procuradora-Geral da República no ambiente rebuscado e algo insidioso do Palácio de Belém. O que seria paradoxal era um governo de minoria absoluta durar mais (uma inteira legislatura) do que um governo de maioria absoluta (que só durou cerca de dois anos), com a benevolência do proscrito e com a condescendência quer do castigado PS quer (já agora) do seu carrasco, aquele que, em qualquer circunstância, terá sempre o poder de declarar, por comunicado, a falência de um qualquer mandato popular, mesmo que seja absoluto.
NOTA
* “Rapporto sulle norme europee e in materia di indipendenza del potere giudiziario. Parte II: il pubblico ministero. Adottato dalla Commissione di Venezia alla sua 85ª sessione plenária” (Venezia, 17-18 dicembre 2010). JAS@04-2024

O FATÍDICO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Por João de Almeida Santos
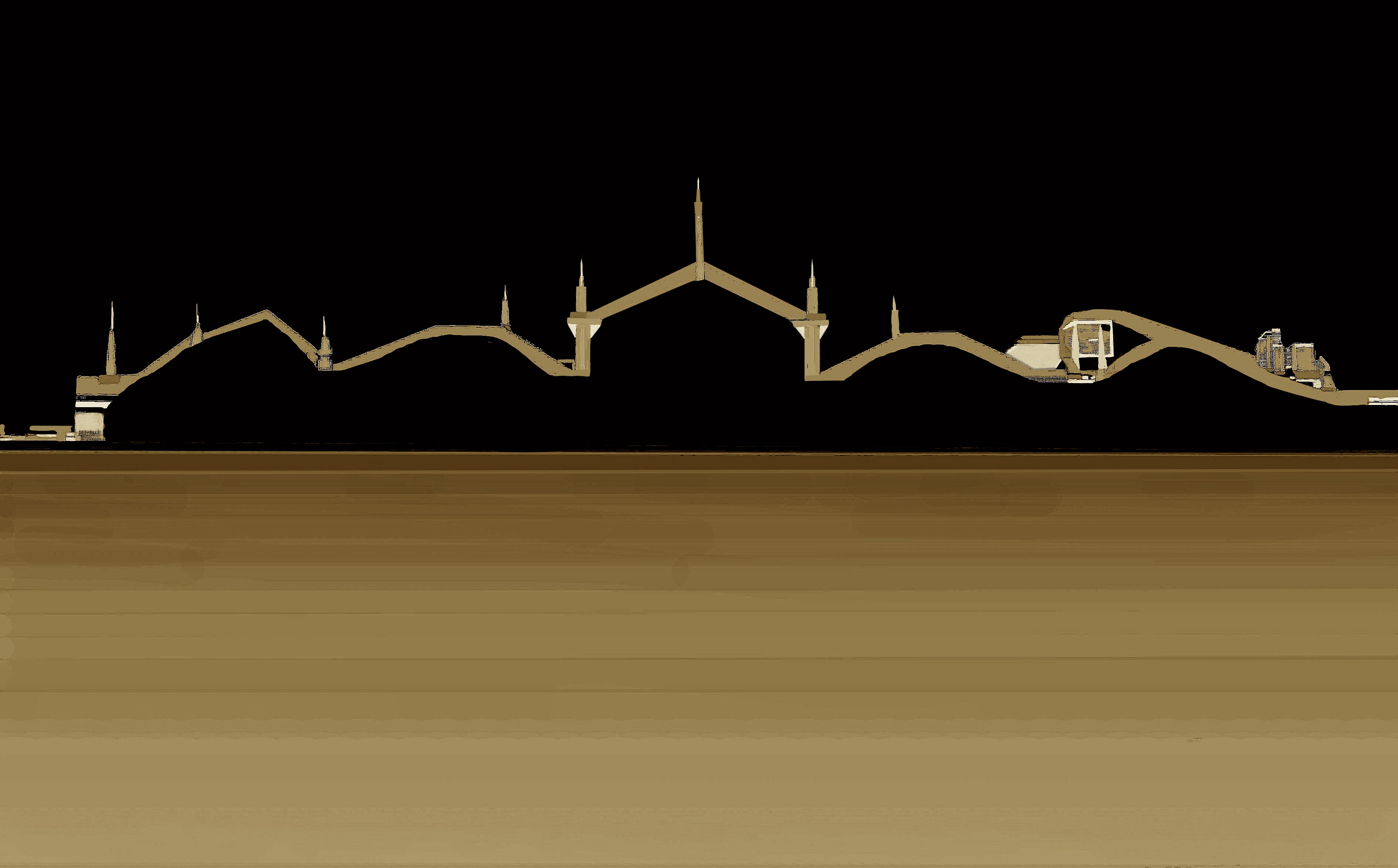
O QUE SE PASSOU, em Portugal, no dia 7 de Novembro de 2023, e que se completou no dia 10 de Março, exige reflexão. Um processo marcante. À primeira vista parece estarmos perante um claro processo de lawfare, de uso da justiça para fins políticos (sobre o lawfare veja Santos, 2020). Uma pesada injunção do ministério público na política, ao mais alto nível – PGR versus Primeiro-Ministro. Processo que terá conduzido ao desfecho esperado (ou mesmo desejado): a construção de uma claríssima maioria de direita, expressa nas eleições. Um inopinado ajustamento à tendência que se está a verificar por essa Europa fora. Os números são claros: cerca de 54% e 138 deputados, referentes aos partidos de direita com representação parlamentar. Um resultado que inverte os resultados das eleições de 2022: cerca de 53% e 133 deputados, referentes aos resultados da esquerda com representação parlamentar. Em dois anos foi esta a mudança. Uma rápida inversão de tendência que, curiosamente, coincidiu com a viragem pública de orientação política (crítica) do Presidente da República em relação ao governo do PS. Mera coincidência, ou não, é um facto comprovável. Inversão de tendência desencadeada por um curto parágrafo contido num comunicado da PGR, emitido enquanto a Procuradora-Geral (que o terá redigido) se encontrava reunida com o PR: “No decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido [Lítio, em Montalegre e Boticas, Central de Hidrogéneo e “Data Center”, em Sines]. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o foro competente”. Nada menos. Passados quase cinco meses, e eleições legislativas, nada se sabe acerca da consistência desta vaga suspeita acerca do primeiro-ministro. Nem este foi, até hoje, sequer ouvido. O ministério público a provocar uma monumental derrocada política no país, mas a pôr-se a assobiar para o lado, como se nada tenha tido a ver com isso. Who cares?
1.
Ainda se há-de fazer a história deste processo: saber da sua consistência, quem foram os verdadeiros autores (ou mandantes) deste processo e qual o papel do Presidente da República, ele que, ainda por cima, nem sequer aceitou uma alternativa proposta pela maioria parlamentar, numa discutível substituição do princípio da maioria por uma hiperpersonalização política da figura do primeiro-ministro, com a correspondente subalternização da câmara dos representantes. Mas também conhecer a verdadeira razão da inopinada saída de cena de um PM que era portador de um mandato popular expresso numa maioria absoluta no Parlamento e sobre o qual caíram umas palavras mal-amanhadas no comunicado da PGR, emitido, note-se bem, quando ainda a PGR estava reunida com o PR. Seria estranhíssimo que a PGR não lhe tivesse dado conhecimento do facto e que este não se tivesse pronunciado sobre isso. Se não houve mais, houve pelo menos negligência por parte do PR. Depois, não é difícil saber quem mais beneficiou com este processo, depois de conhecidos os resultados eleitorais, tendo em consideração a razão que levou a eleições (fumos de corrupção), mas também o pífio resultado da AD (coligação que, nominalmente, não ganhou as eleições, porque teve menos um deputado que o PS, 77, tendo em consideração que, na Madeira, a coligação era outra, pois não integrava o PPM, aparecendo separada no próprio boletim de voto apresentado aos eleitores) e sobretudo o ainda mais pífio resultado do PSD. Naturalmente, beneficiou o CHEGA. Na verdade, o PSD ficou, apesar de exibir igual número de deputados, atrás do PS em número de votos (pelo menos, em cerca de 34 500 votos, subtraídos os votos induzidos pelo CDS na AD e mesmo sem contabilizar os votos induzidos pelo PPM), que se manteve como o maior partido português. Mas, mesmo assim, uma mudança política profunda a exigir uma cuidada reflexão. E as próximas eleições europeias de Junho irão constituir um teste muito importante para verificar a solidez, ou não, da mudança iniciada a 10 de Março. Elas serão, ou não, a certificação política dos resultados das legislativas. O que terá significativas consequências no comportamento político dos partidos, sobretudo do CHEGA.
2.
Uma primeira conclusão a tirar é a quebra eleitoral dos dois partidos da alternância (PS e PSD) em termos de percentagem de votos, menos cerca de 11 pontos (57,80%), e de deputados, menos 36 (156) do que em 2022 (69% e 192 deputados), confirmando a tendência de progressiva fragmentação do sistema de partidos, agora fortemente acentuada pela enorme subida do CHEGA em percentagem, mais cerca de 11 pontos, e em deputados, mais 38, sempre em relação às eleições de 2022. Confirma-se, assim, a chegada a Portugal da tendência europeia de uma forte afirmação eleitoral da direita radical. Partido que beneficia do evidente desgaste do bloco central e da insatisfação de uma parte significativa dos eleitores. Situação que, de resto, já vinha sendo “anunciada” nas eleições autárquicas com o crescimento, por insatisfação relativamente aos partidos mainstream, dos movimentos autárquicos não-partidários, apesar de uma legislação que não os beneficia ou que até os castiga fortemente, a ponto de parecer realmente inconstitucional (veja-se Santos, 2017).
3.
Não é caso de aqui esmiuçar as razões deste enorme crescimento do CHEGA, independentemente da saturação do eleitorado em relação ao establishment e da tendência global de afirmação da direita radical na Europa, mas uma conclusão é segura: o discurso político dominante (dos partidos e dos media) há muito que vem colocando este partido no topo da agenda, elevando-o a uma espécie de inimigo externo perante o qual todos se deveriam associar para o combater, salvar a democracia e até o próprio país. Disto não há dúvidas, apesar de se tratar de um partido que não está declarado inconstitucional e de ter uma significativa representação parlamentar. Como não há dúvidas de que o seu líder soube aproveitar muito bem esta centralidade no discurso político, polarizando a atenção social e pondo-a ao serviço da sua notoriedade, essa, sim, extremamente importante para fins eleitorais. Há muito que esta técnica é usada e também há muito (pelo menos desde 1963, com Bernard Cohen, ou desde 1972, com McCombs e Shaw) que a teoria do “agenda-setting” explica como funciona. Berlusconi usou-a frequentemente sobretudo para conquistar o poder (e para se manter nele). Mas isto revela ainda um outro importante aspecto: a falta de ideias de todos aqueles que precisam de um inimigo “externo” (não de um adversário) para se mobilizarem, muito em particular à esquerda. Supostamente externo em relação à democracia, à constituição e quase mesmo até ao país. É o que revela essa obsessão discursiva sobre o CHEGA, quer do centro-esquerda e do centro-direita quer da esquerda radical. Ainda por cima, as proclamações da esquerda identitária dos novos direitos e de todos aqueles que, fascinados pela sereia do proclamado progressismo civilizacional, absorveram acriticamente o seu discurso, vieram alimentar, em contraponto, a direita radical, ao identificá-lo como discurso oficial do establishment político. Isto é uma certeza, aqui e na Europa. E tem dado bons frutos eleitorais à direita radical.
4.
Um outro aspecto que parece ser seguro é o de que o discurso do PSD sobre o famoso cordão sanitário (o “não é não”, de Luís Montenegro) como estratégia para induzir voto útil na AD acabou por redundar num rotundo fracasso, vistos os resultados: esta coligação (juntamente com a do PSD/CDS, na Madeira) não conseguiu averbar mais do que uns míseros 2, 47% (correspondentes a cerca de 328 mil votos) em relação aos resultados do PSD em 2022, apesar de o número de votantes ter aumentado em mais de 900 mil. Isto demonstra que este discurso não deu frutos junto dos eleitores, que deram ao CHEGA cerca de um milhão e 170 mil votos (cerca de 19%, já nos dados oficiais).
5.
O que está a acontecer é o aprofundamento de uma clara fractura política entre o centro (à esquerda e à direita) e a direita radical em torno das políticas de imigração, da corrupção, do soberanismo e da ideologia identitária dos novos direitos. Mas também uma forte polarização do voto de protesto por esta, sobretudo jovem e mobilizado através das novas tecnologias, além, claro, da sinalização das graves insuficiências do sistema tal como vem sendo interpretado pelo establishment político clássico. E ainda devido à persistente endogamia dos partidos dominantes que têm tendido a reduzir-se cada vez mais a meras máquinas eleitorais que visam a conquista do poder de Estado para sobreviverem, se alimentarem e alimentarem as próprias clientelas, transformando-se em meras federações de interesses pessoais a funcionarem em fechamento corporativo. Em poucas palavras: simplesmente para partilharem os despojos da República. Encerrado o capítulo dos partidos-igreja, fortemente orgânicos e ideológicos, a crise começa a afectar seriamente os catch-all-parties, interclassistas e de reduzida tensão ideológica, na sua evolução para partidos meramente eleitorais. O que significa que se não mudarem de vida acabarão por dar lugar a uma direita radical realmente hegemónica.
6.
Um outro aspecto que merece ser evidenciado é o da mudança de natureza das eleições legislativas, que parece terem passado a ser eleições para o primeiro-ministro, subalternizando o princípio da maioria e a sua função no sistema como fundamento para a constituição do poder executivo. O Presidente da República, do alto da sua condição profissional de constitucionalista, já fundamentou e pôs em prática a nova doutrina, ao declarar, no discurso de posse de António Costa, em 2022, que, tendo essas eleições sido ganhas por ele (e não pelo PS, adoptando a balela corrente que postula que o líder vale sempre mais que o partido), esse facto daria inevitavelmente lugar a novas eleições no caso de ele deixar de desempenhar as funções de PM. Doutrina que, coerentemente e na sequência do acima referido comunicado, pôs em prática em novembro ao anunciar que dissolveria o Parlamento e que convocaria eleições (naturalmente não aceitando indigitar um novo primeiro-ministro indicado pela maioria parlamentar). E, prosseguindo na sua reforma constitucional, parece ter mesmo decidido, a crer no que diz a jornalista “confidente” Ângela Silva, do “Expresso (01.02.2024), só vir a indigitar o vencedor das eleições de Março e não o que pudesse representar uma estável maioria no parlamento. Parece, pois, que esta doutrina tende a estabilizar-se, faltando somente dar-lhe forma constitucional, exactamente como fez a senhora Giorgia Meloni ao aprovar por unanimidade, a 3 de Novembro de 2023, em Conselho de Ministros, um “disegno di legge costituzionale” no mesmo sentido, ou seja, a eleição do PM por sufrágio universal directo, o famoso “Premierato” (Santos, 2023). O que mais parece é que o mainstream na prática já adoptou este procedimento.
7.
Em conclusão, a verdade é que se verificou uma efectiva inversão na relação de forças entre a esquerda e a direita, a favor desta. Mas também é verdade que na votação do próximo orçamento de Estado, lá para Outubro ou Novembro, à AD (uma vez que é um governo da AD, essa estranha coligação onde um dos três elementos que a compõem é realmente inexistente – no continente e muito mais na Madeira, onde nem sequer integra a aliança – a não ser no nome; e o outro nem sequer já tinha prévia existência parlamentar, apesar de em 2022 ter obtido um total de 89.113 votos) não bastarão os oito deputados da Iniciativa Liberal para o aprovar, visto que a esquerda, dispondo, em conjunto, de mais quatro deputados, previsivelmente irá chumbá-lo. E, se assim for, o “não, é não” de Luís Montenegro terá de passar a ser “sim, é sim”, se quiser ver o orçamento de Estado aprovado. Situação que irá comprometer irremediavelmente a idoneidade da sua palavra, apresente ele os argumentos que apresentar (que não se coligou, que negoceia em sede parlamentar ou que não negociou com o CHEGA a formação do governo). A verdade é que o seu governo só resistirá desde que Luís Montenegro volte atrás com a sua palavra e aceite negociar com o CHEGA o seu apoio. Ou, então, possa dispor de um acordo com o PS, como acaba de se ver com a eleição do Presidente da Assembleia da República (PAR). Mas, em sede de orçamento, esse acordo parece ser improvável, como, aliás, já declarado pelos mais altos responsáveis do PS. Não tendo conseguido polarizar o voto útil, não tendo ganhado, enquanto partido, as eleições, mantendo um score eleitoral inferior em muitos pontos (menos 7 pontos e menos 18 deputados, o que é superior à quebra do PS, com menos de 5 pontos e 14 deputados) àquela que é a sua média em todas as dezasseis eleições legislativas anteriores, Montenegro terá de recuar para o tempo anterior ao “não, é não” e de negociar e aceitar os votos do CHEGA para sobreviver. E a verdade é que, a poucos dias das eleições, o recuo começou, a propósito do acordo estabelecido para a eleição dos cargos institucionais na Assembleia da República. Mas a verdade é que, à prova dos factos, o processo de negociação com aquele partido para a eleição do PAR fracassou, ontem, provavelmente porque o PSD queria um acordo somente na secretaria, mas sem reconhecimento público. O ponto do CHEGA é claro: apoio, sim, mas com reconhecimento público. E este será o problema da legislatura, até porque este também é o problema do Montenegro do “não, é não”. Recuar na palavra dada. A questão é mesmo a da normalização, à direita, do “CHEGA”. Se a segregação deste partido pela direita moderada continuar e a esquerda se mantiver firme na anunciada linha de oposição, o governo de Montenegro não terá mesmo suporte parlamentar e poderá cair logo na votação parlamentar do primeiro orçamento. O impasse sobre o primeiro acto político pós-eleitoral, a eleição do PAR, acabou, afinal, por se resolver, com um acordo entre o PSD e o PS, que espelha a real configuração do Parlamento: apesar de o PS ser o maior partido, porque obteve nas eleições mais votos do que o PSD, ambos têm o mesmo número de deputados: nos dois primeiros anos a Presidência será do PSD e nos dois últimos será do PS. Este desenlace é legítimo e não representa uma mudança significativa na posição política do PS, apesar de ser muito difícil que o acordo se cumpra porque a legislatura provavelmente não chegará ao fim. Na verdade, o único ganhador deste acordo é o PSD. Mas ele representa uma evidência preocupante: toda a geometria política é hoje determinada pela presença do CHEGA no espectro político. Parece haver um único desígnio na política nacional: isolar este partido, ou seja, isolar a representação política de quase 1 milhão e duzentos mil eleitores. O que vem alargar ainda mais o seu espaço de intervenção como força de oposição: poderá dizer que é a verdadeira oposição a um regime de bloco central que continua a repartir entre si os despojos da República.
8.
O que o acordo representa, sim, é a continuação da política do “não, é não”- agora reforçada pela ausência de resposta ao pedido de reunião de André Ventura -, o que prefigura uma insanável ruptura à direita e a ausência de um efectivo suporte parlamentar do governo de Montenegro. Uma situação politicamente insustentável. Mesmo assim, é necessário sublinhar dois aspectos acerca da intransigência de Luís Montenegro: não surtiu efeitos em termos de captação de voto útil e, para cumprir a palavra dada, ter de contar com a cumplicidade do PS. Aquela mesma que acaba de se revelar neste acordo. Depois de hoje, muitos serão os que dirão que, afinal, Pedro Nuno Santos se tem vindo a revelar um “tigre de papel”, a velha expressão usada pelos maoístas.
9.
E, note-se, ainda, que o papel do CHEGA como força de oposição acabará por se intensificar se este partido vir confirmada ou aumentada nas europeias a sua força eleitoral, uma espécie de certificação formal dos resultados das legislativas. Este aspecto será porventura ainda mais relevante do que um resultado que dê o PS como partido vencedor e o confirme como o maior partido nacional, porque isso implicará uma intensificação das exigências do CHEGA para se dispor a aprovar o orçamento e a garantir a sobrevivência do governo, desde que toda a esquerda, como é expectável, não dê o seu aval ao orçamento de Estado. Mas se essa confirmação acontecer, ou tiver mesmo um reforço eleitoral em relação aos cerca de 19% de que já dispõe, André Ventura iniciará sem dúvida uma caminhada estratégica que visará vencer, a curto prazo, as próximas eleições legislativas. O que implicará manter uma prudente distância das políticas governativas, agora reforçada e legitimada pela recusa de diálogo e pelo acordo do bloco central, e uma postura pública altamente crítica e reivindicativa. Certamente André Ventura lembrar-se-á do que aconteceu em Itália em 2022, com o partido irmão Fratelli d’Italia (4,3%, em 2018, nas legislativas, 6.4%, em 2019, nas europeias, e 26%, em 2022, nas legislativas). Na verdade, o FdI manteve-se fora do leque de forças que sustentaram o governo Draghi, tendo em seguida ganhado as eleições e formado o actual governo presidido por Giorgia Meloni.
10.
Os partidos à esquerda do PS, a não ser o Livre, ou mantiveram o reduzido número de deputados que tinham ou os perderam, como o PCP, hoje reduzido a quatro deputados. Mas não deixa de ser curioso que um partido que não tem corpo orgânico, nem territorial, nem autárquico, nem sindical ou associativo, como o Livre, tenha obtido o mesmo número de deputados que um partido com um forte corpo orgânico, territorial, autárquico, sindical e associativo, como o PCP, o que dá bem ideia do que é a política hoje e da importância que nela tem a presença na agenda mediática e digital e, em geral, na agenda pública. Não custa admitir que muitos dos votos que circulavam entre o PS, o Bloco e o próprio PCP tenham sido interceptados pelo discurso de Rui Tavares e pela polarização da atenção social que conseguiu a seu favor. Como não custa admitir que também o resultado do CHEGA seja em grande parte devido à fortíssima polarização da atenção social sobre esse partido, mobilizada em boa parte pela esquerda e pelos media.
11.
A diferença de representação entre a direita e a esquerda é muito significativa: 138 contra 92 deputados. Mas, no meu entendimento, a questão é mais profunda do que as razões aparentes desta diferença. Ou seja, o que parece já estar em causa é uma questão de hegemonia, num sentido mais amplo do que o seu aspecto estritamente político (diria, no sentido gramsciano), e de sintonia com o sentimento generalizado que se está a sedimentar na sociedade civil, seja ele mais radical seja ele mais moderado, mas que, a cinquenta anos do 25 de Abril, representa uma multifacetada descolagem da mundividência de uma esquerda que teima em não se renovar doutrinariamente e em termos de uma nova cartografia cognitiva, em não metabolizar as profundas mudanças que estão a transformar a sociedade civil e em não reconhecer a nova identidade da cidadania, causada designadamente pelas transformações induzidas pelas novas tecnologias e pela globalização, preferindo manter os velhos clichés de esquerda, agora aggiornati pelas causas civilizacionais mobilizadas pela esquerda identitária dos novos direitos, fortemente crítica da matriz liberal da nossa civilização, essa mesma que deu origem ao próprio sistema representativo. E não é coisa só do nosso país, porque o que aqui vemos está a acontecer em toda a Europa. Até ao partido que foi sempre uma grande referência para o PS, o SPD (numa sondagem YouGov, de Janeiro, com 15% – e o mesmo valor para as europeias, em sondagem IPSOS – perante os 24% do AfD – 18% nas europeias, na mesma sondagem IPSOS, de Fevereiro), para não falar de outros partidos que quase desapareceram ou estão em estado comatoso. A acção pela acção não leva a lado algum. Agir, sim, mas antes disso é necessário interpretar para conhecer e, então, sim, agir. Mas agir de forma não transformista, ou seja, não mudar (só) alguma coisa para que tudo fique na mesma. Numa palavra: metabolizar a mudança que está a ocorrer na sociedade civil de forma muito, mas mesmo muito, intensa. O que provavelmente implicará uma mudança de paradigma. JAS@27.03.2024
REFERÊNCIAS
SANTOS, J. A. e PEREIRA, F. (2017). “Movimentos Autárquicos Não-Partidários: o Caso da Guarda e o Movimento A Guarda Primeiro”. In ResPublica/17, pp. 103-125.
SANTOS, J. A. (2020)- “LAWFARE. O Direito como Arma”. In https://joaodealmeidasantos.com/2020/11/24/artigo-23/(acesso: 25.03.2024)
SANTOS, J. A. (2023). “ O Modelo de Democracia da Direita Radical. O Caso Italiano: ‘Il Premierato’ ”. In https://wordpress.com/post/joaodealmeidasantos.com/14060 (acesso: 25.03.2024). 
FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO (VIII)
SOBRE A POESIA
Por João de Almeida Santos

“Jardim Animado”. JAS 2022
O JARDINEIRO
O poeta é jardineiro de palavras coloridas e perfumadas que nascem a rodos lá no jardim da sua vida. E quando o jasmim está no auge e o seu perfume o inunda, o poeta fica um pouco embriagado e diz aquilo que sente e não sente, aquilo que pensa e não pensa e até o que não deve. Ou deve? O que não sente e não pensa… presume. Poeticamente falando, entenda-se. Ele nunca usa máscara (somente a de poeta, o que não é pouco) e, por isso, corre sempre o risco de ser atropelado pelas palavras que usa. In jasmino veritas. Pois é. É o risco que corre por andar sempre em busca do perfume perdido ou nunca encontrado, às vezes embriagado pelo perfume acre e intenso do jasmim. Acontece até porque ele cria e produz perfumes. Aromas (não ossos) do ofício, dir-se-ia. Depois deita-os ao vento que passa para que perfumem aqueles que o vento atinge com o sopro poético. Sobretudo a musa. Estamos no domínio aromático da levitação, que torna a vida mais suportável, retirando-lhe peso. E a poesia é mesmo levitação. O aeroporto é o jardim, o combustível são os aromas e as asas do voo são pétalas multicolores das flores do jardim. O jardineiro é o piloto que voa sempre em busca de novas paragens onde derramar os seus perfumes. Vida de poeta comprometido com a beleza, mas também com a musa que um dia o visitou e o continua a inspirar, mesmo quando não (a)parece, e com os fantasmas que sobraram para se alimentarem dos beijos que o poeta lhe envia (à musa) em forma de poema. Há vida no jardim da poesia e há poesia na vida do jardim. Ah, mas o poeta fala sempre em linguagem cifrada. É assim que se defende, mas é também assim que pode voar com as palavras que deita ao vento que passa. O poeta é jardineiro.
SENSIBILIDADE
“O poeta anda por aí…”. Sim, anda por aí a ouvir e a sentir a vida, olhando para ela por fora e por dentro, a partir do seu património afectivo, daquele que teima em subsistir de forma sensível na sua memória. Sim, o poeta olha o mundo com as lentes da sua sensibilidade, daquela que ia registando de forma impressiva os andamentos da (sua) vida. E procura elevar essa sua experiência, como redenção, mas também como dádiva, a esse terreno tão sofisticado da arte – o do culto da beleza. E ele também gosta de ser interpelado sobre a sua matéria poética. Sobretudo quando se fala do mistério que envolve, como neblina, a musa. Nem os olhos dela, quais faróis, ajudam a decifrar, a ver com nitidez o terreno movediço em que o poeta se espraia. Esses faróis, pelo contrário, ainda pioram as coisas porque acendem ainda mais a neblina, a tornam mais cintilante, chegando mesmo a encandear o poeta. Tanta luz, cega. E adensa ainda mais o mistério. Por isso, é verdade que a poesia não consegue penetrar totalmente o mistério, nas suas vãs tentativas de aproximação. Então, melancólico também ele, lamenta-se do estado afectivo do mundo e ensaia cânticos libertadores dessa vida sempre em neblina e em aparente perda. Mas, confesso, que outra vida será a dele que não seja essa? Se tudo fosse nítido e fosse ganho, nesse intervalo entre a sua sensibilidade e o mundo, provavelmente não haveria poesia. Mas é claro que a neblina permanente cansa e as palavras, que são os olhos do poeta (é com elas que ele vê), ficam exaustas e com vontade de migrar para outras paragens. Mas nunca migram porque elas existem para isso, são as pontes com que o poeta atravessa o rio revolto, agitado, da vida.
POLISSEMIA
A arte, tendo uma componente formal, extravasa sempre a forma e liberta sentido em várias direcções, que compete a quem frui captar. A arte não é denotativa porque exprime sobretudo uma visão subjectiva filtrada pela sensibilidade do artista, a que acresce ainda um ulterior e livre exercício formal e técnico, apenas determinado pelas categorias da arte (incluída a música). O resultado traduz-se sempre numa riquíssima e sofisticada polissemia.
APARIÇÕES
Os territórios da arte são territórios de evocação e de invocação. Uma flor ou um arbusto podem suscitar viagens interiores organizadas e ordenadas em palavras, sim, mas também reordenadas em riscos e cores. A memória pode ser o caminho por onde transita a fantasia do poeta em busca do impossível, sim, mas através de um veículo capaz de fazer milagres e de reverter o tempo perdido. De chegar ao impossível. As palavras têm asas, mas também podem servir de cinzel para esculpir desejos irrealizados e recuperar perdas de um passado sofrido. É esse o milagre da poesia. Aparições. Depois, insatisfeito com a intangibilidade das palavras, ainda que sensíveis na sonoridade que o poema lhes confere, lança-se, transmutando-se em pintor, na ousada tarefa de lhes dar forma e cor, propondo-as como matéria plástica a um olhar esteticamente comprometido. No fim, o poeta sente-se levitar, subtraindo peso, muito peso, à sua existência e acrescentando-lhe cor. Viajar é isso, mas viajar com a fantasia em duplo registo é muito mais.
“ONDAS REVOLTAS”
O poema “Ondas Revoltas” ( link: https://joaodealmeidasantos.com/2024/01/20/poesia-pintura-191/ ) é todo ele uma dialéctica entre o cadenciado, mas tumultuoso, movimento das ondas e a paz que o mar suscita a quem o observa, o sente por dentro e ouve o seu marulhar ou a quem, neste caso, o canta. Serena emoção, poder-se-ia dizer. Melodia silenciosa. Nestas ondas é possível vagar… com o olhar e com a alma. O poeta sofre o potente embate delas, sim, mas depois levita sobre elas. Poética levitação. Com alguns poços de ar, mas sempre levitação. Tudo nessa pequena praia da meia-lua, na sua forma semi-circular, o lugar onde nasce sempre um poema. Uma praia inspiradora que é recorrente nos exercícios do poeta. Razões haverá para isso. Depois, a Milva e a sua canção “Thálassa”. Outro mar, o da Grécia, o mesmo sentimento e a mesma emoção. E o regresso a um tempo que sempre o inspirou. Esse mar que nos leva para paragens impossíveis e perigosas. O mar onde as sereias nos seduzem e levam a que nos amarremos ao mastro do poético navio para impedir que sigamos o seu melodioso, encantatório e perigoso canto. Mastro poético e sereias inalcançáveis (é sempre esse o destino do poeta). Então fica-se a vagar por ali, na praia da meia-lua. Poeticamente, entenda-se. “Esculpir as emoções do poeta”, alguém me dizia referindo-se a este poema. Assim acontece com as ondas que batem nos rochedos. Ou com o vento nas dunas. E surgem formas inesperadas desenhadas na pedra ou na areia. Estilizadas, como se houvesse uma mão invisível (que não há) a desenhar a pedra ou a areia. A força das ondas ou do vento a produzir efeitos estéticos, de beleza, tal como as emoções sobre as palavras, na poesia. As emoções são vento sobre palavras, com esse poder mágico de as esculpir. Também aqui não há uma mão invisível. Simplesmente acontece. Acontece em dias tumultuosos ou quando nos encontramos na rua, no meio da multidão, e somos repentinamente fascinados por “une passante” que rapidamente se esgueira, engolida pela multidão. Depois, a escuridão, diria o Baudelaire. Mas há sempre uma praia da meia-lua como ponto de reencontro… poético.
CHÃO
O poeta-pintor desenhou, com palavras e com cores, este chão e, lá no alto da montanha, a luz (o quadro “Luz na Montanha”), com o céu como fronteira a acariciar o seu cume (link: https://joaodealmeidasantos.com/2024/02/03/poesia-pintura-193/). E com este horizonte ao alcance do olhar quem poderia permanecer alheio ao canto e à dança? Só o canto e a dança nos permitem voar até à linha do horizonte. “Ballon” – o poder de levitar induzido pelo canto. Os braços são as asas, sopradas pela alma em epifania. E quando o céu é límpido e de um azul profundo o poeta sente-se mais intensamente interpelado ou mesmo magnetizado e atraído. Com vertigens. E nem lembro a neve e a cintilante neblina que, quando cai, nos envolve e nos põe em imanência total. Não. Falo da luz cintilante que ilumina com perfeição a linha do horizonte e desenha uma fronteira que só pode ser percorrida pela arte. A fronteira da beleza, a que só a arte pode aceder. Aqui, neste chão primordial, as raízes prendem e libertam, um oxímoro que densifica e enriquece a vida nas suas múltiplas contradições. Húmus. Território com profundidade temporal que atrai e liberta do circunstancial. A dialéctica profunda do tempo. Sim, uma força telúrica a que não se pode resistir, a não ser pela arte, mas uma forma de resistência cúmplice, animada e alada pelo princípio da sedução. Resistir a este chão é manter-se em tensão com ele, vivificando-o e mantendo essa profundidade temporal que nos humaniza. E por isso se configura também um princípio de esperança ancorado nas raízes.
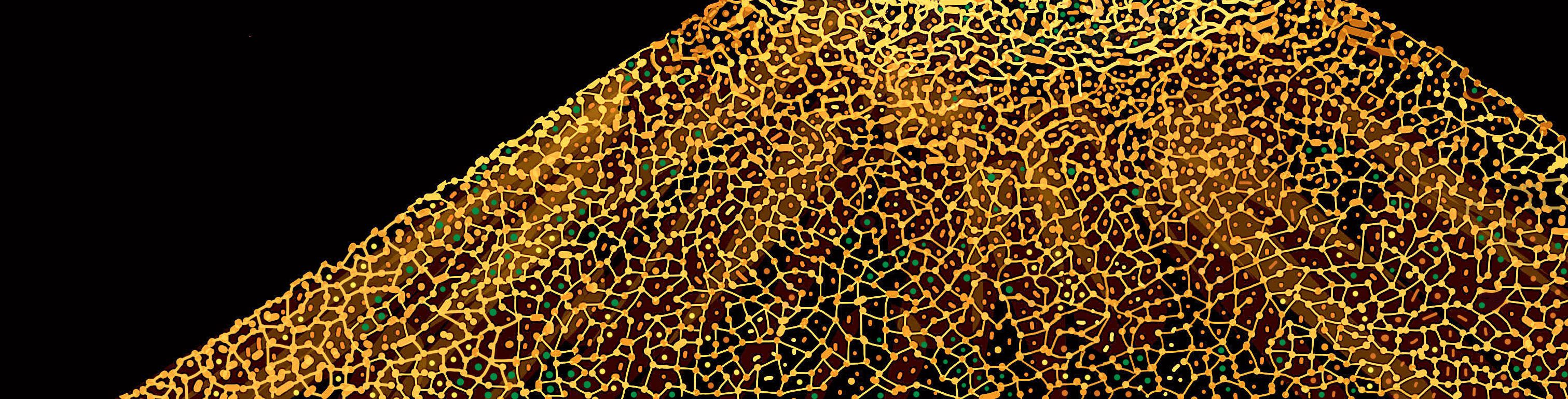
“Luz na Montanha”. JAS 2021. Detalhe
“A JANELA”
Sim, este poema e este quadro (ambos com o mesmo nome, “A Janela” – link: https://joaodealmeidasantos.com/2024/02/11/poesia-pintura-194/) até poderiam equivaler à garrettiana janela e à garrettiana Joaninha, como dizia um Amigo a propósito deste poema. E também um Carlos cuja silhueta se esfumaria para além dos vidros daquela janela. Como esfumou, ao que parece. Mas quem sabe se o poeta não se disfarçou, se “outrou”, como dizia este Amigo, e bem, em mulher para melhor, de forma mais sensível e delicada, exprimir os seus sentimentos? Não ouso perguntar-lhe. Responder-me-ia com a estrofe do Pessoa, com a Autopsicografia. A silhueta pode até personificar o mundo e o tempo que se nos escapa por entre os frágeis dedos da nossa alma e até do nosso coração. E a janela, vista de dentro, é bem outra coisa (que uma visão a partir de fora), é projecção, sim, até à linha do horizonte. Os vidros reflectem o mundo de fora, mas com o olhar consegue-se transcender e superar as imagens transparentes da vida que se projectam nos vidros da janela. O olhar é, também ele, por isso, tábua de salvação. Mas para isso precisamos de uma janela, mais do que de uma porta, porque esta nos leva à rua (às suas limitações, que são as da vida real) enquanto a janela nos projecta no horizonte, onde nos idealizamos e voamos sobre o mundo, como Sininho, com suas asas, em direcção a uma ilha encantada, a Never Land. É por isso que o seu (dela, do sujeito poético) mundo é mais o da janela que o da rua. Como o do poeta. É mesmo. Também a Joaninha, afinal, sempre esteve à janela, por detrás de cortinados transparentes. E o Carlos nunca conseguiu sair da rua. Havia um muro invisível (na vida) apesar da janela (na fantasia). Mas concordo: “Não é possível tapar e esconder a Janela da Vida”. Sim, sim, porque os poetas não deixam… Cada vida tem a sua janela. E cada janela tem a sua vida. E quando a vida é a de um poeta, a janela acende-se e ilumina a rua, quaisquer que sejam os transeuntes. E pode-se voar para o infinito, darmo-nos asas e ir além daquilo aquilo que a vida nos dá ou nos deu. Se a janela simboliza a liberdade, a rua simboliza a contingência e as amarras da vida. Na janela se dá corpo a desejos que a rua não contempla nem permite. O poeta gosta da janela porque ela representa a liberdade. Todos temos uma janela e o importante é abri-la e dar asas à solidão. Voar. A porta dá para a rua, a janela para o mundo. Dois modos diferentes de entrar no mundo. O dela é o da janela. O dele é o da rua. Juntos entram no mundo pela porta e pela janela. E encontram-no com o olhar e com a fantasia. Como o poeta. Que é mais da janela do que da rua:
“O MEU MUNDO
É a janela,
O da rua
É o teu,
É dela que
Eu te revejo,
Na rua
Já não sou eu.”

“A Janela”. JAS 2022
PAISAGENS
Não digo, como ele (o Bernardo Soares), que, na minha poesia, não tem importância o que confesso (como sujeito poético) ou, então, que faço férias das sensações. Falo em nome do poeta. Autorizado, claro. Mas tento fazer paisagens daquilo que sinto. Isso, sim. Paisagens interiores que partilho com os que me acompanham na viagem. E a febre diminui. Mas que há febre, lá isso há. E há musas, claro. Poucas, mas há. E fantasmas. Mas com eles convivo bem. Fazem parte da paisagem e estão sempre à espera dos beijos escritos que mando às musas… para os beberem, pelo caminho. Alimentam-se deles. E eu sei disso. Por isso é que tenho de estar sempre a enviar beijos escritos, para ver se algum chega ao destino. E como não sei se chega, tenho de estar sempre a enviar. Como Sísifo. É como chegar à montanha, regressar e logo ter de voltar a subir… com palavras às costas. A montanha é o Parnaso, neste caso. E eu tenho (nós temos) um Parnaso que tem outro nome e tem cerca de dois mil metros. Subi-lo não é, pois, coisa fácil. Ah, sim, o Bernardo era mais desprendido do que eu.
PERDÃO
O poema é perdão cantado. E pedido. E a pintura é exaltação. A beleza cromática anima o discurso estético do poema. Uma coisa é certa: o tempo leva-nos rio acima ou rio abaixo, levados (também) pelo desejo de a encontrar, a beleza. Na fonte ou na foz, que é aí que mais ela se dá. Pelo caminho, rio acima ou rio abaixo, ela, a beleza viva, vai inocentemente pecando. E ficam cicatrizes. As do embate com a vida. É assim. Mas há sempre quem procure a beleza na sua pureza original (na fonte) ou na sua densidade existencial, já profundamente marcada (na foz), para a recriar ou simplesmente a fruir. E o tempo tem esse poder de esculpir as vidas ou de as deixar toscas, à deriva, no rio que corre sempre sem parar. Mas é verdade, as palavras são barcos em que sempre podemos embarcar para melhor navegarmos neste rio tumultuoso da vida. Rio acima ou rio abaixo. Quem decide é o tempo, sim… mas também o desejo. A ponto de, aliado com as palavras, os riscos e as cores, quase se poder, imprudentemente, desafiar o tempo ou o destino e ir rio abaixo ou rio acima à procura da beleza perdida ou nunca encontrada. É este o risco que os artistas e os amantes da arte sempre correm. Porque o tempo e o destino são poderosos e podem provocar naufrágios existenciais e, pior, artísticos. Mas vale bem a pena navegar se pudermos aportar à foz da sedução, que atraia a sensibilidade e a ponha a levitar, com palavras ou com riscos e cores. Então valerá a pena. Seduzidos e felizes. Mas nunca é certa e segura esta viagem, porque há rápidos e escolhos contra os quais podemos embater. Mas o risco faz parte da vida… e da poesia. JAS@03-2024
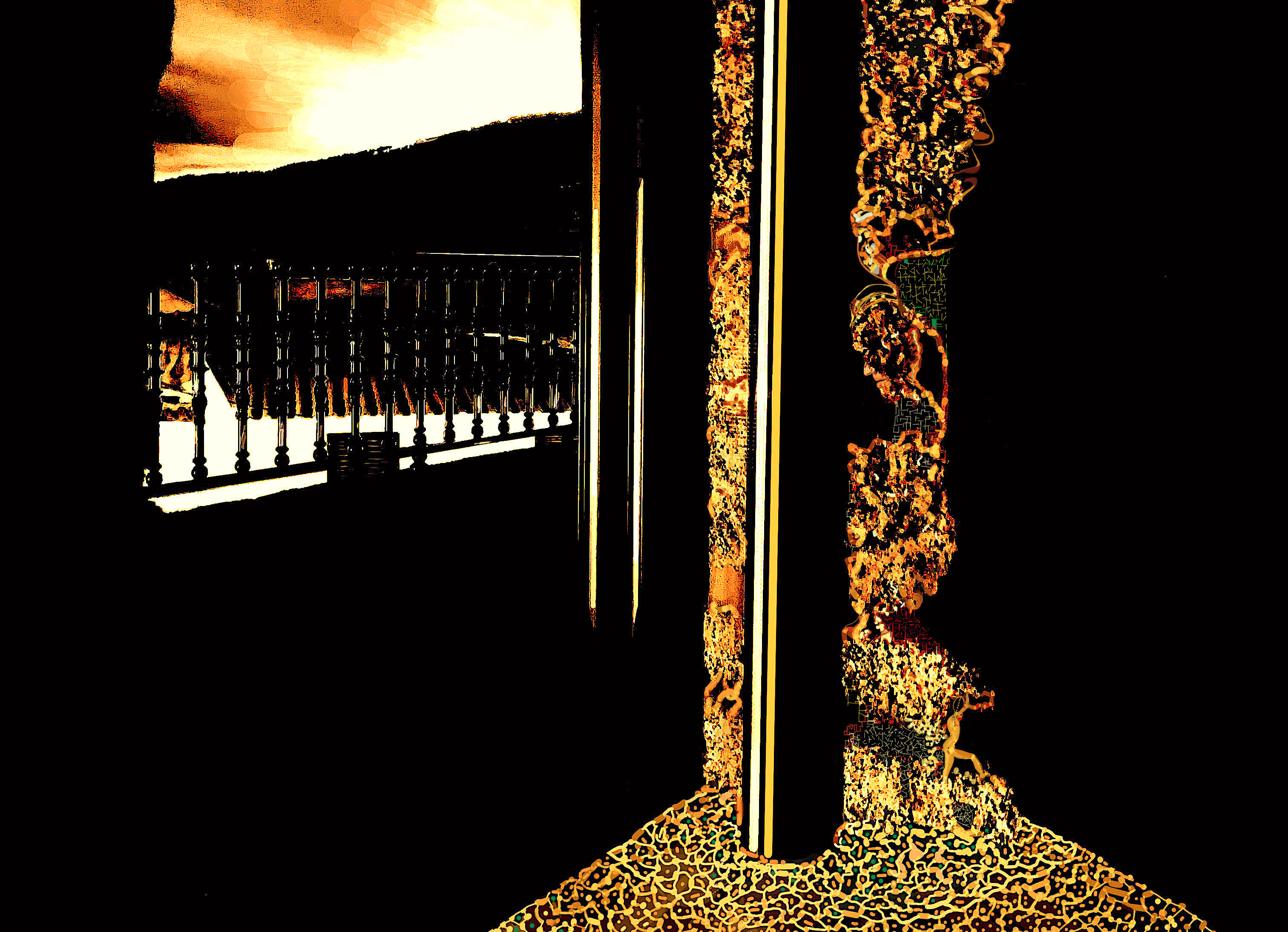
“Luz na Montanha”. JAS 2021. Detalhe
AS RAZÕES DO MEU VOTO
Considerações sobre as Eleições Legislativas de 2024
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 03-2024
ESTAMOS A VIVER um tempo em que ocorrerão sucessivas eleições – legislativas, europeias (e, provavelmente, regionais na Madeira) e, em 2025, autárquicas, a que se seguirão, em 2026, logo em Janeiro, as presidenciais – e o que se constata é que, cada vez mais, elas vão perdendo o carácter orgânico e territorial que antes tinham e que, também cada vez mais, elas ocorrem sobretudo no espaço audiovisual, no televisivo e no das redes sociais, colocando no centro do processo eleitoral sobretudo a linguagem dos rostos que o interpretam.
1.
O processo vai-se, assim, afunilando para um hiperpersonalismo político que, de algum modo, altera a matriz do sistema representativo em que ele assenta. Em Itália, como já aqui tive ocasião de referir, a actual coligação de governo aprovou um “desenho de lei constitucional”, conhecido como “premierato”, onde todo o processo se concentra na eleição de um todo-poderoso primeiro-ministro, a ponto de o próprio boletim de voto onde consta o nome do candidato a PM integrar também as candidaturas ao Parlamento, produzindo um efeito de arrastamento, com um perverso efeito político: o processo remeter para uma só figura, a de um líder (supostamente) carismático. De qualquer modo, com ou sem “lei constitucional”, na prática o que se está a verificar também em Portugal é a redução das legislativas a uma eleição do primeiro-ministro. Ganha, pois, mais sentido a forma como os italianos chamam às eleições legislativas: “elezioni politiche”. O mandato parlamentar fica, assim, muito diminuído politicamente agora não só na génese, ou seja, na propositura (sobretudo dos cabeças de lista) decidida pela liderança, mas também na própria legitimidade derivada do voto, agora imputável, no essencial, ao carisma do candidato a PM. Será, em todo o caso, um voto por arrastamento polarizado pela figura do líder. O processo não está formalmente estatuído, entre nós, mas, na substância, está assumido e a funcionar plenamente.
2.
Depois, o factor programa, uma peça importante do processo eleitoral. Note-se que é comum a tendência para elaborar e publicar extensos programas que, em boa verdade, não são susceptíveis de leitura pelos eleitores, dada a sua dimensão – se somarmos as páginas dos programas dos três maiores partidos do sistema de partidos português, o do PS, o do PSD e o do Chega, a soma será de 504 páginas. Imaginemos agora a quantas páginas não corresponderá a soma total de todos os programas dos partidos em competição. Um absurdo. Alguém terá paciência para ler estas “listas telefónicas” onde os partidos, todos eles, despejam tudo o que lhes dá na real gana, sem se preocuparem em ir ao essencial, em diagnosticar as causas dos três ou quatro problemas centrais com que o país se debate e em propor respostas credíveis e eficazes? Não será mesmo falta de respeito pelos eleitores? Acresce que estes programas nem sequer são vinculativos, pois estamos perante mandatos não-imperativos, ou seja, mandatos livres de qualquer vinculativo “caderno de encargos”. Por isso, poucas páginas seriam mais que suficientes. Trata-se de uma eleição pessoal, não da eleição de um programa, embora, como se compreende, haja uma espécie de compromisso moral em cumprir o que se prometeu em campanha. O programa que realmente vincula é o programa que se apresenta ao Parlamento, em fase já de instalação de um novo governo. Mesmo assim, ele é um dos três elementos fundamentais que influenciam e determinam a escolha dos eleitores: a figura do líder (sobretudo), o espaço político e de valores em que se insere e o respectivo programa Mas, assim sendo, ou seja, faltando eficaz informação analítica sobre os programas, o que resta ao eleitor é seguir o que acontece no espaço do audiovisual.
3.
Torna-se, pois, decisiva a arena principal onde ocorre o essencial da disputa eleitoral, ou seja, o espaço televisivo, esse com que se iniciou, nos anos cinquenta, nos Estados Unidos, a personalização da política. Um espaço mais apropriado a frases de eficaz efeito retórico e à performance corporal, verbal e comportamental do candidato (veja-se o clássico debate de 1960 entre Kennedy e Nixon e os seus resultados) do que a discursos analiticamente estruturados. Como procurei demonstrar no meu livro Homo Zappiens (Lisboa, Parsifal, 2019, 2.ª edição) se a televisão é emocionalmente forte e cognitivamente fraca os seus mais eficazes efeitos são sobretudo de natureza emocional e menos de natureza racional e analítica. Também nas redes sociais, a nova arena onde também ocorre a competição eleitoral, o código comunicacional utilizado é dominantemente de natureza emocional e abundantemente instrumental. De facto, também aqui se inscreve a tendência para a hiperpersonalização da política. Um rosto como “agente fiduciário” global da cidadania e o princípio de que uma imagem vale mais do que mil palavras.
4.
Estes factores, a inacessibilidade prática (por excesso) e a insuficiência explicativa dos programas eleitorais, a inorganicidade crescente da política, a sua hipersonalização e a natureza da arena onde se processa a competição política, apontam para um processo decisional centrado sobretudo, ou quase exclusivamente, nas lideranças, e mais propriamente naquelas que estão em condições de vir a ter sucesso na candidatura ao cargo de primeiro-ministro. Mesmo que não se esteja num regime de “premierato” formal. A decisão político-eleitoral centrar-se-á, pois, na figura dos candidatos, no rosto, na retórica e na performance audiovisual, na personalidade, na sua história pessoal, além, naturalmente, da sua pertença a um concreto espaço ético-político que mobiliza o chamado “sentimento de pertença”, que, todavia, tem vindo a perder pregnância desde o fim das chamadas grandes narrativas políticas e ideológicas e da entrada em cena da televisão na competição política.
5.
Eu considero que esta evolução – que é um facto incontornável – não ajuda à consolidação do modelo clássico de democracia representativa pois não convoca a razão e a informação para instruírem a decisão político-eleitoral, para uma avaliação analítica e responsável das propostas das formações políticas em competição, ficando os eleitores mais sujeitos à eficácia retórica do discurso político e à linguagem de um rosto do que à substância programática. E, por isso, sou cada vez mais defensor de uma orientação no sentido da construção de uma democracia de tipo deliberativo, onde é privilegiado, reconhecido e assumido o aprofundamento e o alargamento do debate público através de instrumentos que invertam esta situação, convocando a razão analítica e os respectivos meios de informação para a vida política, em campanha e fora dela (na hoje assumida permanent campaigning). Neste aspecto, compreendo muito bem a posição de Habermas – no seu mais recente livro sobre “Uma nova mudança estrutural da esfera pública e a política deliberativa”, de 2022 (Milano, Raffaelle Cortina Editore, 2023) – sobre a política deliberativa, ao considerar essencial para o bom funcionamento da democracia a promoção de uma robusta dialéctica discursiva racional na esfera pública política a cargo dos clássicos meios de comunicação e dos seus agentes orgânicos e profissionais (garantes de uma informação profissionalizada e certificada) perante o receio de uma hiperfragmentação e diluição da esfera pública política a cargo dos “social media”, eles também propícios à eficácia retórica e instrumental (e às famosas fake news), desprovidos de uma qualquer forma de regulação e promotores de uma diluição da fronteira entre a esfera pública e a esfera privada. Como diz Habermas: o uso exclusivo dos “social media” poderia mudar a “percepção da esfera pública” (…) “de modo a fazer desaparecer a distinção entre ‘público’ e ‘privado’ e, portanto, o sentido inclusivo da esfera pública” (2023: 64). Alem disso, estes últimos aprofundariam o negativo que já está a acontecer com essa espécie de política tablóide promovida pelo audiovisual, em particular pela televisão. O racionalismo crítico que ele defende, com a sua teoria discursiva da democracia, não é, pois, compatível com esta tendência crescente para o tabloidismo político e para hiperpersonalização, nascidos com a televisão e aprofundados agora pelas redes sociais.
6.
Sim, é verdade, mas os media e a rede podem ser utilizados de forma racional, analítica e argumentativa na esfera pública política sobretudo através dos meios de comunicação escritos e da rede nos seus inúmeros espaços de informação analítica – um espaço público deliberativo enormemente alargado onde o indivíduo se pode protagonizar sem ter de pedir licença a gatekeepers, aos antigos detentores do monopólio do acesso a este espaço. Uma combinação, pois, dos meios de comunicação, media e rede, que favorece a informação, o debate, a argumentação numa lógica onde a razão pode ser dominante e a emoção subalterna. É essa a política deliberativa e é também essa a democracia deliberativa, aquela que não se vislumbra nesta caminhada a largos passos para a hiperpersonalização da política e do poder. E, todavia, é isso que está a acontecer e, pasme-se!, quem melhor compreende e sabe utilizar esta evolução é a direita radical, precisamente aquela que a quer constitucionalizar (e sobre a qual já aqui escrevi).
7.
Pois bem, se é isto que está a acontecer realmente, a hiperpersonalização da política, então, por um lado, na concreta decisão político-eleitoral há que ter a maior atenção e o maior cuidado ao votar num ou noutro candidato, sabendo-se que, depois, isso se traduzirá em hiperpersonalização do poder, sempre acompanhado tendencialmente de um uso pouco respeitador da separação de poderes e da sua autonomia, pelo uso discricionário do poder e pelo atropelamento da ética pública inscrita no sistema democrático representativo. Os casos em que isso já acontece (ou aconteceu, como no caso da Polónia do senhor Kaczinsky) são sobejamente conhecidos. E não sendo possível alterar de imediato as condições de exercício da cidadania no plano eleitoral através de uma inversão de rumo e da promoção efectiva de uma política deliberativa, então há que reforçar a vigilância sobre as lideranças que se propõem governar, na sequência de eleições políticas. Lembro que esta hiperpersonalização do poder levou, em Portugal (e de forma argumentada por parte do PR), à queda de um governo suportado por uma maioria absoluta e à dissolução do Parlamento, tendo bastado para tal que fosse desencadeado – ao que parece insipiente, pouco explicado e nebuloso – um inquérito judiciário no Supremo Tribunal de Justiça (ao que parece sem que o próprio presidente deste tribunal tenha sido previamente informado) ao ainda primeiro-ministro.
8.
É neste panorama que, entre outras razões, se inscreve a minha decisão de votar no PS nas próximas eleições de 10 de Março e, naturalmente, de sufragar a candidatura de Pedro Nuno Santos a próximo primeiro-ministro, sem, naturalmente, abdicar de continuar a lutar, com os meios (escritos) de que disponho, por uma democracia deliberativa que abra caminho a uma inversão de tendência, a uma melhor performance política da cidadania (e das organizações que a representam, incluídas as plataformas digitais) e a uma política deliberativa centrada na distanciação crítica (Entfremdungseffekt, diria o Brecht) dos cidadãos em relação ao espectáculo da política e à política de espectáculo e ancorada, pois, em mais sólida formação e informação política, em maior e mais robusta e articulada legitimidade política, numa mais intensa e harmoniosa sociabilidade orgânica e territorial e na criação de condições para que seja possível promover escolhas racionais no processo de decisão política. E não só. Também para que o próprio processo decisional seja mais transparente e mais qualificado, pelo aprofundamento e alargamento da deliberação pública – tudo no quadro da democracia representativa. De resto, só assim os partidos políticos poderão superar a crise de representação que continua a instalar-se nas sociedade desenvolvidas e que está a ser muito bem aproveitada pela direita radical.
9.
Neste sentido, e porque é este o processo de escolha eleitoral que temos, a decisão a tomar deve ser em grande parte guiada pelas características dos candidatos a líder, particularmente daqueles que estão em condições de ascender ao cargo de primeiro-ministro. E a mim, exactamente ao contrário do que dizem o professor Cavaco Silva e o conhecido trânsfuga do Goldman Sachs, o senhor Barroso, parece-me que o líder do PS demonstra maior autenticidade e convicção e maior capacidade de enfrentar o risco e de romper com essa política do movimento por inércia e transformista que parece ter tomado conta da política dos partidos de centro-esquerda e de centro-direita, levando, como se sabe, à fragmentação dos sistemas de partidos. Foi por isso que votei nele para líder do PS e defendi a sua candidatura. Pelo contrário, Luís Montenegro continua a ser um intérprete, nem sequer muito qualificado, desta política e por isso não votarei nele, até porque o meu espaço de intervenção política é, sim, o de uma social-democracia renovada e a caminho de uma democracia deliberativa. Na verdade, tenho a convicção de que, com Pedro Nuno Santos, a evolução para esta democracia é mais viável, para não falar dos valores sociais e da sociabilidade solidária que ele defende, de resto, com muito maior autenticidade e convicção do que as que o candidato da AD exibe na defesa das suas opções. Tudo isto também independentemente dos concretos programas em que se inscreve a própria acção política e que naturalmente também deverão estar em avaliação, embora aqui, pelo que já disse, não se vislumbre grande clareza na determinação do “princípio activo” (a causa causans) que poderia dar solução aos principais problemas com que o país se confronta.
10.
Não desvalorizo as prestações dos outros partidos, à esquerda e à direita, mas será nestes dois partidos que o rumo da nossa política se decidirá.

FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO (VII)
SOBRE A POESIA
Por João de Almeida Santos

“O Voo da Rosa”, JAS 2023, 86×88, em papel de algodão (100% – 310gr) e verniz Hahnemuehle, Artglass AR70 em moldura de madeira. Em exposição no Museu da Guarda.
ESPANTO E ESTREMECIMENTO
A VIAGEM ao fascinante mundo da poesia começou quando o jardineiro se deu conta de que uma videira cardinal trepara pernada acima e pusera um loureiro a dar uvas. Claro, as uvas eram da videira cardinal, mas foi o loureiro que as acolheu em seu regaço e as exibiu ao olhar estupefacto do observador, do jardineiro… e, afinal, do poeta em gestação. Este registou o momento e não sei se recorrendo também a fragmentos de memória afectiva. Só se saberia perguntando-lhe. Ao que certamente ele responderia, em rima, dizendo que o poeta é fingidor. E ficaríamos ali, nesse intervalo entre a realidade e a ficção. De resto, nem a poesia tem como função descrever o que acontece no real, porque ela é tão-só um expressivo, estilizado e sofisticado grito de alma. Mas nunca se conhece bem a razão desse grito silencioso, a não ser na cifrada linguagem poética. A poesia é um veículo onde o poeta viaja sem destino aparente, mas movido por concreta propulsão. Aqui, o poeta parece ter nascido, como os filósofos, do espanto ou, então, de um aparentemente inexplicável estremecimento. Creio, todavia, que o espanto accionou um qualquer fragmento intensivo de memória que estivesse por ali activo, mas silencioso, a fazer estragos na alma do poeta em gestação. Talvez seja isso, mas não sei.
VER COM A ALMA
A aparição, ao poeta, de um anjo em forma de mulher é sobretudo uma visão sensorial interior. Sim, a visão terá uma sua exterioridade correspondente, algo que um dia impressionou sensorialmente o poeta, para não dizer mais, algo que o tocou fisicamente, mas, depois de esculpido pelo tempo no território intangível da memória, ganhou uma nova dimensão, expressa em linguagem poética. É aí que a aparição se torna ambígua, entre anjo e mulher, provocando alguma indecisão no poeta e até no pintor, quando aquele lhe sugere que pinte uma figura de mulher, também ela um pouco anjo e um pouco mulher. A pintura será aquela que tem por título “Epifania” (JAS 2023), aqui reproduzida. É nesta nebulosidade sensorial que reside o mistério, mas é também ela que alimenta o poeta. Sim, o problema reside na palavra “ver”. Ver com os olhos ou ver com a alma? Ou ver com ambos? É aqui, nesta tentativa simbiótica que o poeta se move, entre os olhos e a alma, entre a dimensão sensorial e os sentidos internos. E é aqui que o poema se desenrola. Há sempre o perigo de uma idealização extrema e de uma excessiva desrealização. Um perigo de que o poeta se dá conta e do qual sempre tenta fugir. Porquê? Porque sempre sente que tem de dar fisicidade, materialidade, ao poema. E não só através da sua musicalidade, altamente perfomativa, mas também na semântica, na alusão, ainda que equívoca e até perigosa, à realidade. Por isso se compreende que o poeta se tenha tornado também pintor, na ânsia de poder tocar com os olhos essa imagem silenciosa e longínqua, dando-lhe forma visível. Forma de anjo em figura de mulher.
SEDUÇÂO
A poesia é sedução, fantasia, desejo, engano, realidade. Sim, tudo isso, porque o motor é a paixão… reinventada. Não pela razão, mas pela fantasia. E quanto maior for a perda ou a dor que a motiva mais intensa será a recriação. Reconstrói e recria o que perdeu, o poeta. E reinventa diálogos e seduções como se tivesse perante si esse ser que se ausentou e que lhe fala, o interpela, com silêncio reiterado. Como castigo. E ele, sentindo-se punido, procura resgatar-se com a perfeição. Com a perfeição sedutora, que é a melhor forma de reapropriação do que perdeu. Seduz, exibindo-se como criador de formas belas para oferecer à musa, como resposta, inscrevendo a sua história numa narrativa esteticamente elaborada. Assim se redime. O poeta esculpe sempre com um cinzel afectivo. Delicado, portanto. E como dádiva. Tal como o tempo escultor no fluxo ininterrupto da memória. E eleva e faz perdurar o que estaria condenado a esgotar-se, a cair no poço fundo do esquecimento. Depois, o pintor, solidário, até chega a dar forma ao rosto dessa paixão cantada, completando a recriação e suplantando a realidade invocada poeticamente.

“Epifania”. JAS 2023, 79×82, em papel de algodão (100% – 310gr) e verniz Hahnemuehle. Artglass AR70, em moldura de madeira. Em exposição no Museu da Guarda.
ROSA QUE VOA NÃO MURCHA
Sim, a rosa, a flor que frequentemente se lhe insinua, quando voa não murcha. Como o amor. Voar é, pois, preciso. E é o que faz o poeta. Voa, voa sempre, para sobreviver. Para não murchar. Bem sei que, tal como nas rosas, há espinhos e corre riscos, durante o voo, mas é por isso que a viagem é fascinante. Há poços de ar, há tempestades e arrisca despenhar-se. Um dos riscos é os seus beijos em forma de versos serem bebidos pelos fantasmas durante a viagem e nunca chegarem ao destino. Mas esse é o mundo dos poetas. Eles têm de conviver com os fantasmas. Tarefa infindável, essa de subir ao Parnaso vezes sem conta e sem fim, no desejo de que algum beijo chegue à musa. E talvez também seja esse o destino das rosas.
INFORTÚNIO
Sim, o Bernardo Soares é frequente companheiro de viagem e de infortúnio do poeta. Se não pode ou não deve tocar a realidade sequer com a ponta dos dedos, então olha para ela como para uma galeria de arte. Ele nem se ajeita lá muito com a poesia, mas este, o poeta, felizmente lá se vai ajeitando e assim pode aspirar a salvar-se do infortúnio. Ir-se salvando à medida de cada poema que escreve. Ainda por cima vive irmanado com um pintor que o vai confortando e animando com riscos e cores que vão dando mais vida e luz às suas palavras. E ao infortúnio que elas exprimem. Perdido, perdido, anda sempre e, por isso, tem sempre que fazer para se ir reencontrando noutros territórios que não naquele em que pecou, fracassou e se condenou. Ele voa regularmente sobre uma pétala de rosa, o veículo mais seguro para se salvar do infortúnio.
PERFUME
Poder sentir o perfume da rosa com a alma é dádiva do Olimpo. O poeta é passageiro permanente nos voos da rosa. As pétalas são as suas asas. E o perfume o combustível. O jardim encantado do poeta é o seu aeroporto espiritual, de onde parte e onde sempre regressa. E gosta dele porque gosta cada vez mais de viajar deste modo. A sua poesia perfuma e os aromas são os do seu jardim encantado. Em particular, o do inebriante jasmim.
A DANÇA DA SOLIDÃO
O “Voo da Rosa”, uma pintura que um dia o pintor ofereceu ao poeta, é a dança da solidão. O poeta está condenado a dançá-la até cair exausto. O seu karma. Na dança, o poeta vagabundo e solitário move-se com outras almas, que convoca e que, assim, alimenta para que o ajudem a reencontrar-se nesse bailado da alma. Cumplicidade poética. Ritual. Ele tornou-se poeta, mas ao mesmo tempo um ser perdido no mundo, depois da visita da musa, que logo o abandonou. Restou-lhe o estro, a marca da passagem dela por si. E a poesia é filha da musa e da dor, pela inevitável partida. Depois, chegam sempre os fantasmas que se alimentam dos beijos que ele sopra ao vento que passa para que cheguem até ela. Um destino marcado, este, o do poeta – beijar com versos a musa ausente. Destino que se cumpre no canto e na dança em solidão, mas sem que ele saiba se alguma vez conseguiu intersectá-la, à musa, com os seus beijos escritos. Os fantasmas são vorazes quando se trata de beijos escritos.
CHORAR
O destino do poeta é, sim, chorar com palavras. Mas não espera que lhas enxuguem, as lágrimas. Ele sente prazer nelas. Podem não chegar ao destino, mas, chorando assim, redime-se. Nada mais espera, apesar de sempre tentar o encontro impossível. O pintor embelezou o choro com uma rosa em voo (aqui reproduzida). Deu asas ao lamento. A cor da rosa foi ditada exclusivamente pela beleza a que o poeta aspira no seu voo redentor. Mesmo que não chegue ao destino, e nunca se sabe se chega, ele é feliz.
FRUTO AMARGO
A poesia mata saudades, pois mata. Ela chama a si o ausente e dá voz ao silêncio perturbador. A felicidade possível do poeta. Os olhos dela pode vê-los com os sentidos interiores ou, felizardo, pelo pincel do pintor. Já aconteceu. Epifania. “Delicioso pungir de acerbo espinho” – sim, o prazer de um fruto amargo, como disse uma vez o grande poeta Garret. Sofre, o poeta, no canto feliz da dor estilizada. Tem saudades, mas, ao cantá-las, converte a dor da ausência em feliz ritual celebrativo, para o qual convoca as almas sensíveis, as almas gémeas, as que sentem o poema por dentro. Assim parece ser. E assim tem de ser.
A POÉTICA DO FRACASSO
Bernardo Soares: “Não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram”. Isto lembra-me o comentário de uma Amiga a um poema meu. Sim, saudades do que só aconteceu em sonho ou simplesmente como desejo. Do que foi não é tão doloroso porque, de algum modo, foi, aconteceu. Tem razão o Bernardo Soares. Do desejo que se ficou pelo desejo ou do sonho de que se acordou noutro lugar qualquer, ah, isso, sim, é dor, é doloroso. Porque o desejo desejado ou o sonho sonhado são mais intensos do que o desejo ou o sonho cumpridos. É essa intensidade interior que torna a saudade mais dolorosa. Tudo se passa nos sentidos interiores, que são mais intensos do que as relações sensoriais com a contingência do mundo exterior. Era este o mundo do Bernardo Soares. O mundo, para ele, era uma galeria de arte que ele desenhava com a sua fantasia e com as suas palavras. No real não gostava de tocar sequer com as pontas dos dedos. Por isso, a dor para ele não tinha uma dimensão sensorial. Os rostos eram retratos que ele apreciava na galeria da vida. Se sofria era como observador empenhado das obras expostas nesta galeria. E nem sequer se ajeitava com a poesia. Imaginemos o que seria se se ajeitasse. São dolorosas, essas saudades… porque isso nunca aconteceu a não ser em sonho ou como desejo. É como reencontrar-se no tempo perdido. Uma impossibilidade. O Cioran falava de uma poética do fracasso. A celebração dorida do irrealizado, do falhado. As coisas que nunca foram são mais reais do que as que foram. Porque aquelas nunca morrem, persistem como desejo (sempre) irrealizado. E isso dói. Ah, se dói!
A POÉTICA DA PERDA
A poética da perda: a elevação da perda a ritual poético no processo de redenção pela arte.
MÚSICA CREPUSCULAR
O poema como “música crepuscular”. Belo. Ao cair ou ao nascer do dia levanta-se o poema para o reviver ou para o viver, em forma diferida ou em poética antevisão do que será. Mas a poesia é toda ela crepuscular, porque acontece sempre num intervalo em que as formas mais parecem sombras indefinidas que solicitam a imaginação para as identificar e desenhar à medida da cifra poética. É como um ambiente de neblina a que é preciso acrescentar luminosidade e definição. Ou traz consigo ainda as figuras do sonho sonhado ou já esbatidas as formas expostas à luz do sol. Mas a definição acrescentada nunca provém do exterior. Ela resulta da música interior que anima o poeta e do seu cinzel poético. O crepúsculo é o ambiente favorável da poesia porque está entre o real e a fantasia. Convida a recriar e a desenhar com maior nitidez, embora de forma cifrada, o que se apresenta um pouco sombrio. O poeta encontra aqui a posição privilegiada para poetar, entre a vida e o sonho, entre a realidade e a imaginação, entre o dia e a noite. Neste intervalo nem é uma coisa nem a outra, sendo ao mesmo tempo todas elas. É aqui que a linguagem poética melhor se exprime.
METABOLIZAR AS SAUDADES
Cantá-las, as saudades, ajuda a metabolizá-las e a conservá-las como feliz melancolia. Sim, ficam as saudades, quando o essencial perdura no tempo. Senti-las é uma coisa, cantá-las é outra coisa. É dar um passo em frente. Este passo depende apenas de quem as sente e, de certo modo, significa ritualizá-las, revivendo o passado sob uma forma mais livre. É já um tempo próprio, independente do contexto em que se viveu. Metabolizá-las num organismo que já se transformou, com o tempo. Mesmo na pintura, ainda que ela possa evocar nos traços esse passado que o poeta canta.
POESIA E INTERTEXTUALIDADE
Eu não valorizo a retórica poética, o circuito dominantemente intertextual da poesia, o virtuosismo linguístico, o culto da linguagem obscura como estratégia comunicacional. Para mim, a poesia tem um sentido: é um grito de alma. Grito filtrado pelas exigências estéticas e pela busca do belo que lhe será devolvido como eco da alma. Sem uma componente dionisíaca a poesia é pura retórica, puro “divertissement”. Eu não frequento nem gosto desse mundo. Não me interessa. Depois, o que acontece ou aconteceu no real não importa, do ponto de vista poético. Que o real resiste e persiste, assumido e sofrido, isso sim. A poesia é vida vivida, mas esteticamente transfigurada e metabolizada. Prossecução da vida por outros meios, dotados de poder performativo. Recriar a vida, fazendo coisas através de palavras (“to do things with words”), diria o Austin. E digo também eu.
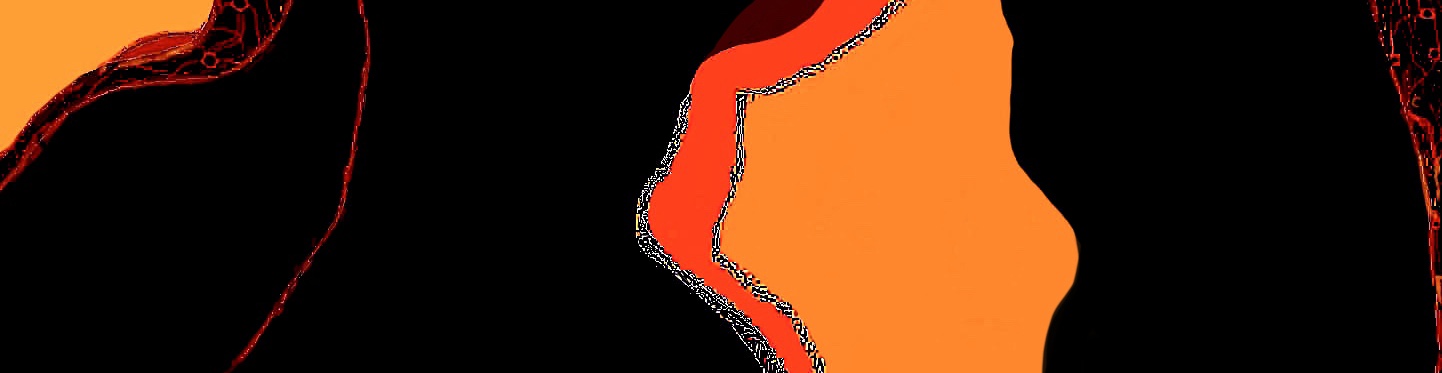
FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO (VI)
SOBRE A POESIA
Por João de Almeida Santos
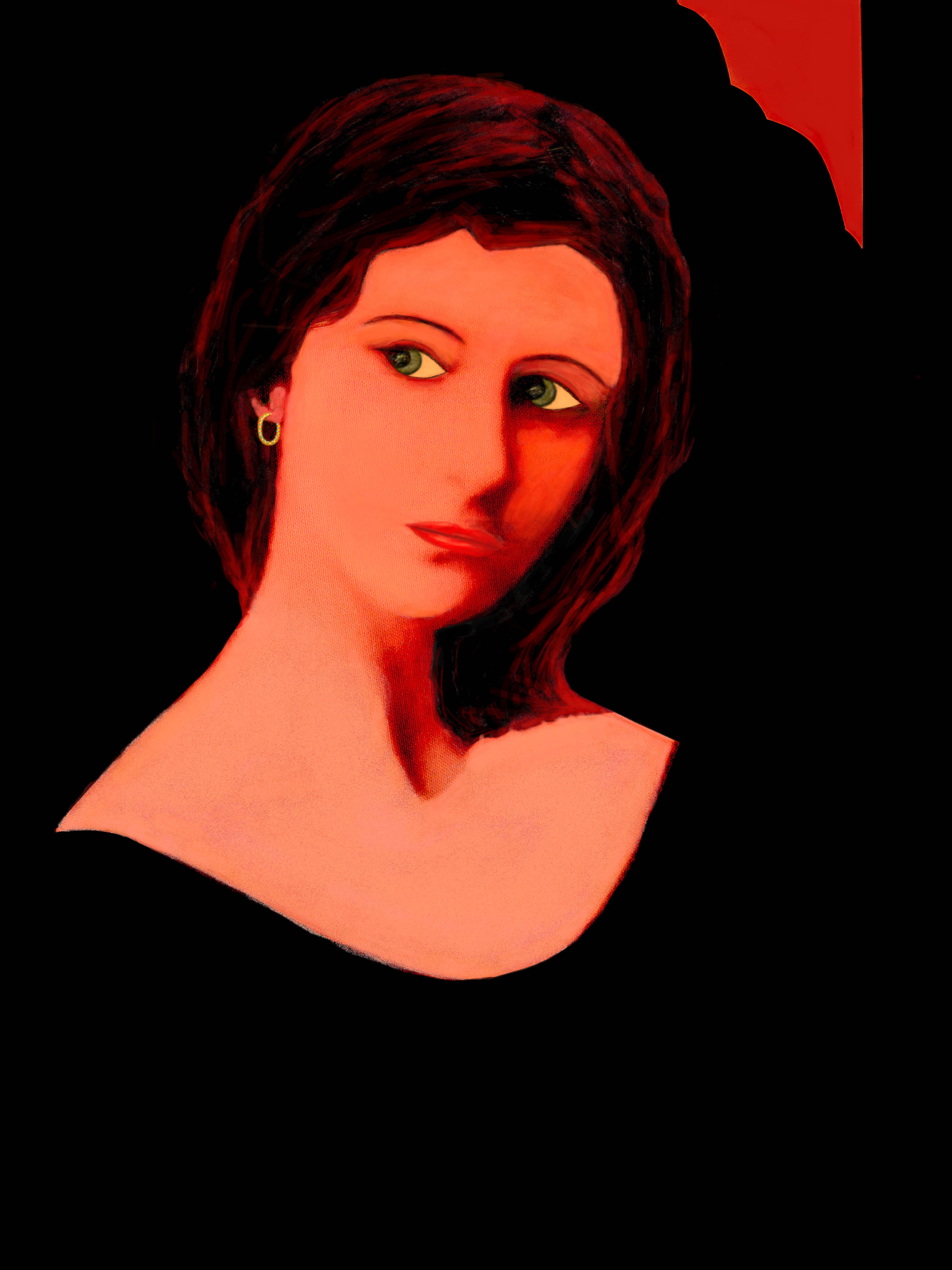
“Teu Olhar”, 2022. JAS. 02-2024
A CANETA QUE SE TORNA PINCEL
PROCURO SEMPRE transpor para dentro do próprio poema a sinestesia concreta que proponho com a convergência total entre pintura e poesia, lembrando-me sempre do grande Cesário Verde: “Pinto quadros por letras”. Caneta-pincel, portanto. Mas também pincel-caneta. Pintar com palavras e escrever com riscos e cores. E o poema torna-se também pauta de uma melodia colorida. Sinfonia de cores e letras.
OS OLHOS
Dos olhos diz-se, e bem, que são o espelho da alma. Choram com ela. Ou sorriem. E iluminam de alegria ou de tristeza quem os fixa. E seduzem. Ou fulminam. Ou olham de través como quem não se quer deter no percurso do olhar. Um mundo. É esta riqueza expressiva dos olhos que surpreende permanentemente o poeta-pintor. Que é volúvel e de paixão fácil. Pecador. Fácil de seduzir. Ele está ali para isso mesmo, para se apaixonar, para ser seduzido por um olhar. O poema do João Roiz de Castelo Branco diz tudo sobre eles. Transcrevo:
“Senhora, partem tão tristes
meus olhos por vós, meu bem,
que nunca tão tristes vistes
outros nenhuns por ninguém.
Tão tristes, tão saudosos,
tão doentes da partida,
tão cansados, tão chorosos,
da morte mais desejosos
cem mil vezes que da vida.
Partem tão tristes os tristes,
tão fora de esperar bem,
que nunca tão tristes vistes
outros nenhuns por ninguém.”
Tristeza, a destes olhos cantados pelo poeta. São os olhos que partem e, com eles, a alma, de que são a fala, a expressão, a materialização. O poeta tenta sempre convocar os cinco sentidos nos poemas. E, por isso, procura realçar também o poder que o murmúrio tem de acender a chama nesse altar onde executa o seu ritual. Chove-lhe na alta fantasia, mas a chuva não apaga a chama, que se vai consumindo em permanência, sem nunca se esgotar. Não é, pois, como a vela que vai perecendo para iluminar… até ao fim. Mas enquanto houver altar, haverá chama. E poesia.
ROSTOS PARA UMA IDENTIDADE
O exercício poético torna-se menos complexo quando o poeta tem um sorriso perante si. E pode ser o sorriso que ele próprio, enquanto poeta-pintor, pintou. Com palavras e com cores. Olha, olha, volta a olhar… e vai-se deixando seduzir pelo sorriso que vai desenhando. Cada olhar, cada verso. Cada verso, uma cor. Cada pausa, cada estrofe. Cada risco, as palavras. O silêncio, melodia. Com o olhar põe a figura em movimento através de palavras, da melodia e da toada que lhes estão (às palavras) sempre associadas. E a vantagem de saber escrever palavras também com o pincel consiste em materializá-las, em poder olhá-las de frente, em responder-lhes com a linguagem e a luz do olhar. “Esse enigmático alguém”, o poeta-pintor desenha-o com palavras, com melodia e com cor, ao sabor de uma fantasia ancorada no real, dionisíaca. Parece, de cada vez, fixar-se em rostos diferentes. Mas é pura ilusão: são as personagens que o procuram na (sua) imaginação e na sua memória. São diferentes na forma, mas parece haver uma só identidade (a crer nas palavras). Rostos para uma identidade – a que exprime com a alma, a que se lamenta de uma perda, a que procura recuperar pela arte o que perdeu na vida (perda sofrida, levitação desejada), desencontros marcados pelo alinhamento dos astros… Essa identidade acaba por ser reconstruída pelo pintor com fragmentos da memória do poeta. Os rostos não são pura imaginação, mas estão todos eles animados pela mesma e única pulsão do poeta-pintor. Sinestesia, ao serviço da recomposição de uma identidade perdida e em permanente sentimento de perda. A musa é uma criação do poeta remotamente inspirada na memória visual, mas recriada com o turbilhão emocional que o leva a escrever. Às vezes a caneta e o pincel escapam-se-lhe mesmo das mãos e vão por conta própria ao serviço do deus Apolo. A via apolínea da arte percorrida com o combustível que alimenta essa pulsão criativa. E ele não tem poder para se lhes opor. O poeta-pintor vive numa teia que é maior do que ele. Só tem que sintonizar… e deixar-se ir. É por isso que se diz que a poesia lhe acontece, ao poeta. Não foi o que disse também o Pessoa? E não ouvi também, numa gravação, a Amália dizer que o canto lhe acontecia, exactamente no mesmo sentido em que o poeta o disse? É a fala da alma que acontece, acrescida da beleza da forma. Poesia.
NAVEGAR
Navegar no oceano poético ao sabor do vento, livremente, levando no barco reminiscências, memórias – é este o destino do poeta. E sem tapar os ouvidos nem se atar ao mastro, mas ouvir sem receio as sereias, deixando-se encantar, seduzir. É esse, sim, o destino do poeta. Ainda por cima com a possibilidade de desenhar o rosto que lhe fala ao poema, que o interpela, materializando as palavras com traços e cores. Epifania. Antes de se lançar ao oceano (sim, oceano, não mar, aqui a ocidente) prepara-se em terra: prepara bem o barco (seria perigoso se metesse água) para a viagem em alto mar, o motor de propulsão (sob forma de asas), escolhe os mantimentos e afina o sextante (é este o instrumento que usa, porque se guia pelos astros) para se orientar melhor. Depois parte, quer haja ondas alterosas ou mar calmo. Simplesmente, parte. Durante a noite fixa o céu, escolhe uma estrela e fixa a atenção nela até quase o encandear. Só aí a viagem começa a ganhar forma e a fantasia se desprende. Sonho. Cruza-se com sereias, mas só uma o pode seduzir. E é em estado de sedução que continua a viagem… até ao regresso. Para logo a retomar.
RECRIAR É POSSUIR
Recriar em poesia e em pintura é a missão do poeta-pintor. O impulso original responde a uma tensão interior, procurando, depois, resolvê-la pela arte. Ou melhor, projectá-la para o território da arte, lá onde a sensibilidade mais intensa e delicadamente se exprime. Pode, assim, levá-la – a musa, objecto do seu compromisso afectivo – consigo, como expressão do seu desejo mais profundo. “Gherardo, maintenant tu es plus beau que toi-même”, dizia o Michelangelo da Yourcenar ao seu amante, que ia partir, sem regresso possível. Possuo-te quando te perco ou porque te perco. Pela arte, a única posse possível. E, no futuro, verei (em arte) em ti o que mais ninguém pôde ou poderá ver. Então, todos, através de mim, poderão fruir o melhor e o mais belo que fica de ti, porque eu te eternizei. O artista, claro, está nele mais do que os outros porque a imagem (plástica e verbal) revela o que outros nunca poderiam ver. E é por isso que ele se torna mais belo do que realmente é no espelho onde os outros o verão reflectido. Transfiguração estética, poder-se-ia dizer, impulsionada por essa tensão interior do artista que também era amante. Arte e amor. Foi a Yourcenar que disse que só pela arte se pode possuir, porque a verdadeira posse é a recriação do outro: “il s’agit moins de s’emparer d’un être que de le recréer”. O poeta quando procura atingir o sublime está a colocar-se nesse território. Michelangelo reteve de Gherardo o que só o artista e amante poderia encontrar nele: “l’autre, que j’ai dégagé de toi, et qui te survivra”. É isto. Ela, a Yourcenar, di-lo sem dissimulação. É a conjunção daquilo a que o Nietzsche chamava “espírito dionisíaco” com o “espírito apolíneo”. Gherardo, o seu amante, chegou até nós através de Michelangelo (e da Yourcenar).
É esse o poder da arte, da poesia e da pintura. Recriar e reinventar. Não só na imaginação ou no sonho, mas dando forma ao objecto de atenção estética com as categorias da arte e partilhando-a, como complemento que concretiza a materialização de todo o processo. Em três fases dá-se vida ao desejo do artista: sente, estiliza e partilha. E isso também contribui para minimizar a dor da ausência, da perda e do silêncio. E para elevar o sentimento para além da sua efectividade empírica. Eu creio que a verdadeira arte é sempre resposta a uma inquietação profunda, a um qualquer sentimento de perda. O Pessoa dizia que não aceitava estar encerrado na prisão do seu corpo e que, por isso, escapava até outras personagens e paragens, evadindo-se, com estrondo. Talvez esta lógica também se aplique aqui: evasão da prisão desse corpo e dessa alma sujeitos a uma compressão que provoca dor, melancolia, impotência ou mesmo depressão. Ele não sabe se há solidão e dor do outro lado, o da musa, ma sabe que, se referida a si, há. Solidão criativa e partilhada. E essa é a narrativa que lhe interessa (do ponto de vista poético, claro). É essa solidão que permite o auspicioso encontro (com a musa) em arte num território superior.
PALAVRAS
Quando as palavras têm peso, quando elas procuram tocar o real, chegam a deslaçar-se, se for preciso, para que, ao menos, um fio chegue lá. Na poesia acontece esse deslaçamento.
TIMIDEZ
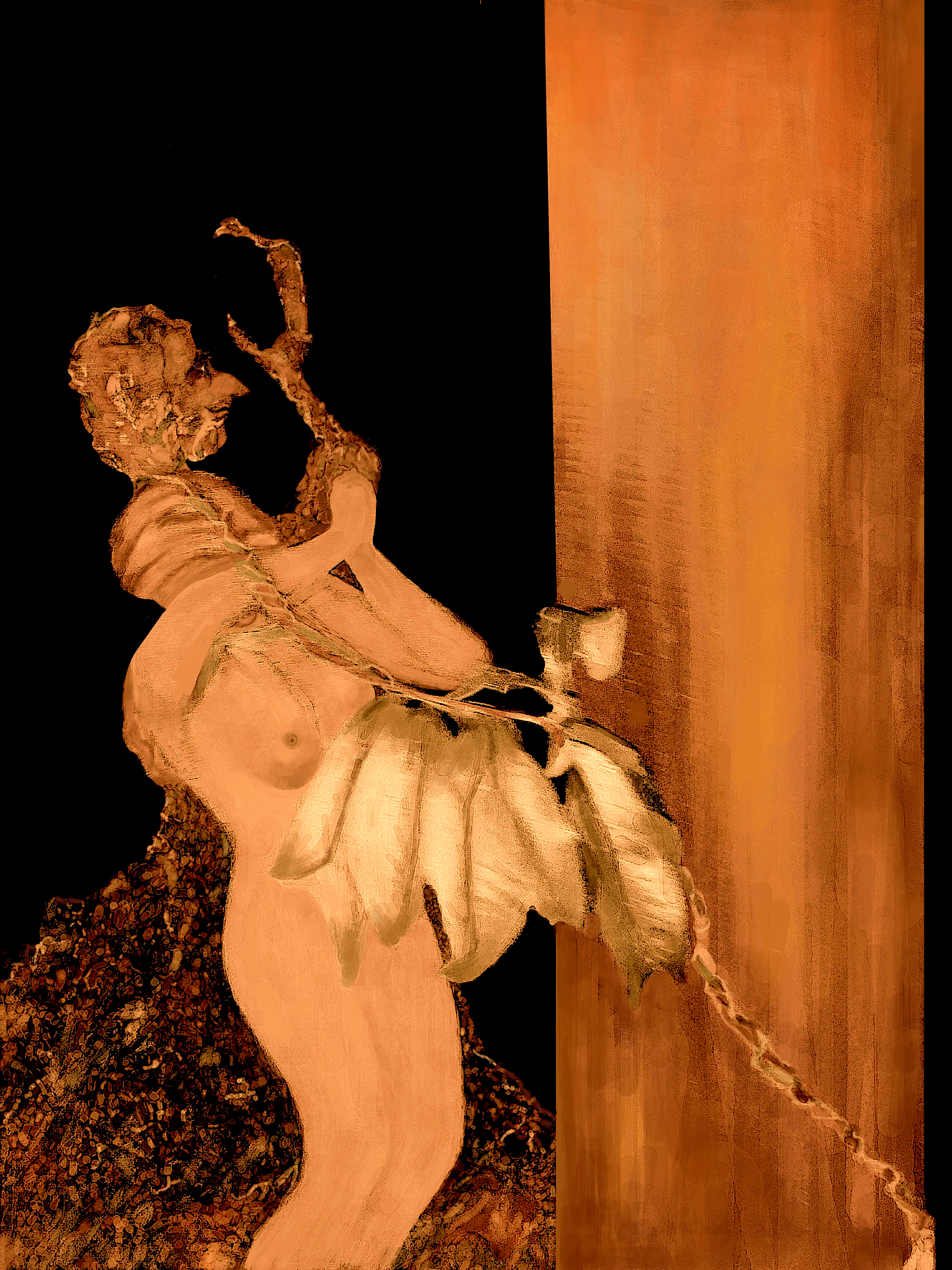
“Timidez”, 2023. JAS. 02-2024
A timidez é “amiga” da melancolia. A acção impetuosa estilhaça sem piedade a sensibilidade e o delicado mundo que lhe está associado. Pelo contrário, a timidez gera recolhimento interior para esse universo da sensibilidade. O poeta sabe da melancolia da protagonista/amada e julga conhecer a razão. E por isso quer partilhá-la no território íntimo da sensibilidade poética. A luz que a iluminava interiormente mudou de direcção (para poente, onde o sol se põe) e provocou alguma intermitência na sua sensibilidade. Não se sabe se esta luz era a do poeta, mas pode suspeitar-se que sim, pois no fim de um poema ele confessa que tem desejo de voltar a voar com ela, sob a luz quente e cintilante do sol de primavera. Não sei se será esta a interpretação, mas, se fosse, ela explicaria a melancolia e a timidez que ela parece exibir. Mas, sabendo nós que o poeta é um fingidor, é sempre de desconfiar do que ele confessa num poema. Mas também há que ter presente o que diz Ovídio na “Ars Amatoria” sobre o jogo do amor.
ARS AMATORIA
A seguir à “Ars Amatoria” Ovídio publicou “Metamorfoses”. E só uns anos mais tarde é que é exilado por ordem de Augusto (a 8 d. C., em Constança). A edição bilingue da Rizzoli tem uma longa e interessante introdução de Scevola Mariotti sobre Ovídio. Aqui se diz (a propósito de “Amores”, de 19 a. C.): “Ovídio debruça-se com prazer sobre as contradições fundamentais da vida amorosa, em particular sobre a que resulta da relação entre o desejo de libertação do amor e a fatalidade da recaída”. Quanto a mim. é desta inevitabilidade, ou melhor, desta dialéctica que resulta a pulsão poética: desejo de libertação e persistente recaída.
Transcrevo, noutro sentido, um passo interessante de “Ars Amatoria”: “Spesso chi finse amore cadde in amore: pensava fosse un gioco essere amante, poi lo divenne. E dunque date ascolto a chi v’invoca, o donne, anche per gioco!”. (I, 920-923; Milano, Rizzoli, 1989, p. 151). Será o caso também do poeta fingidor, que finge amar porque ama realmente? Que finge que é só jogo o que deveras sente? Ou que, de tanto fingir, acaba por ficar prisioneiro do próprio jogo e perde-se em amor, tornando-se amante? É esse o território onde o poeta acaba por se perder? Jogo perigoso, com esse sentimento tão poderoso que é o amor. Mas é nesse território que se move o poeta, mesmo quando parece não falar dele.
REFÉM OU LIVRE?
Sobre uma aparente contradição: o poeta é refém, mas em permanente movimento de libertação… que nunca termina. A cicatriz está lá, é refém dela, mas a poesia eleva-o e vai-o libertando, sem que, todavia, o processo algum dia possa concluir-se. Porque há sempre “a fatalidade da recaída”. Não é possível eliminar a cicatriz, que às vezes mais parece ferida em carne viva. Corpo e alma em ferida. Refém do corpo, liberta a alma. A cicatriz é o sinal da ferida, que permanece. Por isso, a cada olhar (interior) sobre a ferida deve corresponder um poema. Eterno retorno. Pecado original. Diria que o poeta está condenado a ser livre. A libertar-se da ferida. Condenado-refém que se vai libertando pela poesia sem nunca conseguir finalizar o processo. É o caminho de Sísifo até ao Monte Parnaso. O corpo de Gramsci esteve cerca de 20 anos na cadeia (até à morte), mas a sua alma não. Cada fragmento dos cadernos do cárcere era um grito de libertação. Da prisão e do tempo. Também o poeta é refém de uma ferida-dor corporal (ainda que cicatrizada), mas a sua alma pode entregar-se livremente a um processo de permanente libertação. A liberdade reside no processo. É a condição de refém que o leva a essa libertação superior. A prisão é a alma gémea da liberdade. Ou o seu lado escuro. Procura libertar-se porque se sente prisioneiro. Um impulso imparável. Mas, claro, há ali uma permanente instabilidade existencial e uma permanente inquietação. Um permanente desassossego. É sobre ele, o desassossego, que constrói e se constrói.
INQUIETAÇÃO PERSISTENTE
Quando a inquietação é profunda e persistente o destino é ser poeta. Dizer tudo num poema, não. Absolutamente. O poeta nunca diz tudo, mesmo que pareça que diz. Vai dizendo, isso sim, mas de forma cifrada, só compreensível pelos “iniciados” ao mistério da vida. Mas o mistério subsiste e exige um infinito ritual.
A POESIA É MÚSICA
Sim, “a vida flui como tem de ser”, dizia alguém. Se for com música tanto melhor. E a poesia é música para as almas sensíveis. E ajuda a vida a fluir melhor. E flui entre uma dor que se pode ter tornado crónica e a busca permanente da beleza redentora, entre o peso gravitacional da existência e a leveza do desejo em busca da harmonia de formas que o exprimam e o realizem.
O SILÊNCIO
O silêncio, diz o filósofo, é a mais profunda das linguagens, quando ancorado numa pulsão profunda, numa demorada e focada contemplação, numa escuta atenta ou na intenção de dar a conhecer a outrem, por uma insistente e intencional redundância, o seu peso e o seu significado (o do silêncio). Muito se pode dizer pelo silêncio. A contemplação é silenciosa e permite a mais perfeita das sintonias. Mas só a poesia pode reconduzir o silêncio à sua forma original… como comunicação. Dando-lhe voz, transforma o imperceptível ruído de fundo em melodia. É a sua pauta. E pacifica e amacia a alma atormentada do poeta, dando forma à voz do silêncio, como se este tivesse um sujeito-autor e fosse a sua fala. Terá? Será? Não sei, mas é provável que sim. A poesia reinventa o discurso do silêncio e dá-lhe vida. O silêncio, quando perturba, tem sempre um autor, um sujeito por detrás. A este silêncio só o poeta está em condições de responder com eficácia devido não só ao poder criativo, mas também ao poder performativo da poesia. A resposta, a reinvenção ou a recriação é como a moldura cifrada do silêncio quando este é assim devolvido ao seu autor. Devolvido, mas sem um preciso endereço. O poeta responde interpondo-se entre aquele que sofre o silêncio e o seu autor, criando uma ponte invisível erguida sobre um imenso vazio.
PARADOXOS
Os paradoxos permitem-nos dizer com maior intensidade o que pretendemos significar. E são estilisticamente belos. Um silêncio ensurdecedor… Não há melhor forma de traduzir o poder de um silêncio que se torna insistentemente redundante e teimoso quase até à agressão (dos sentidos e da alma). O silêncio intensifica-se quando estamos cercados pelo ruído da multidão, anulando-o, enquanto silêncio físico, e expondo brutalmente a alma ao seu som ensurdecedor. No meio da multidão sentimo-nos mais sós e atormentados pelos nossos fantasmas. Outro silêncio é o da montanha para onde se evade o eremita-poeta para ouvir, em solidão, o som silencioso da majestade das alturas. Este silêncio é mais pacificador. Não agressivo, como o da cidade, que nos faz sentir perdidos e abandonados na selva urbana, à mercê da crueza das memórias mais duras. Lembro-me sempre do Baudelaire de “Les Fleurs du Mal”, do poema “À une Passante”: “La rue assourdissante autor de moi hurlait. (…) Un éclair… puis la nuit!”. Ou do Edgar Allan Poe. Pelo contrário, no ermo, lá no alto, a solidão é sideral. O silêncio, tenha ele a cor que tiver, é reconduzido à dimensão natural da existência, à dialéctica da natureza a que pertencemos e à sua lei. Lá do alto podemos observar o vale da vida com maior elevação (espiritual) e maior distância. Podemos relativizar, mas também podemos redesenhar a vida com a nitidez do olhar das águias reais, olhando lá de cima a vida como nosso alimento espiritual. Essa nitidez é dada pelo olhar interior do poeta ou do pintor. Nesta condição, o silêncio pode ouvir-se como melodia da alma ou até do universo. JAS@02-2024
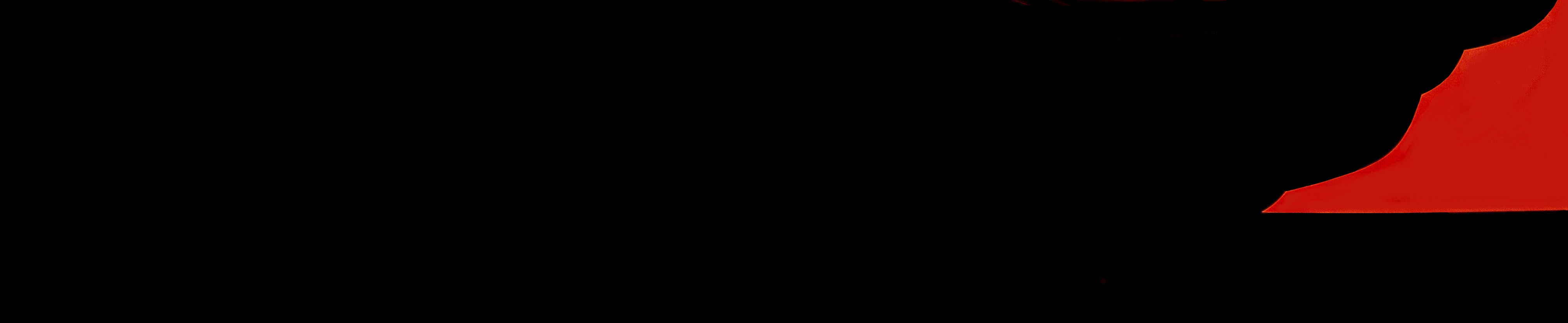
SOBRE A MINHA PINTURA
A propósito da Exposição de Pintura
“LUZ NO VALE”, no Museu da Guarda
João de Almeida Santos

“Uma Casa no Jardim”, 2022. JAS. 02-2024
NOTA PRÉVIA
Publico, hoje, um texto (com algumas alterações) sobre a minha pintura que integra o Catálogo da Exposição “Luz no Vale”, aberta ao público até sete de Abril, no Museu da Guarda.
I.
A MINHA PINTURA, digital, está associada à poesia. Nasceu em terreno poético, o seu húmus. Para cada poema, um quadro. Para cada quadro, um poema. Há muitos anos que venho regularmente publicando aos domingos, aqui, poesia associada à pintura, em torno de um tema ou de uma história, que até pode ser a expressão de um breve, mas intenso, instante. É um delicado processo de sinestesia, perseguido com determinação, um diálogo entre duas artes, mas onde cada uma das expressões estéticas conserva a sua própria autonomia de linguagem e de narrativa. A pintura explora, com as suas próprias categorias estéticas, ângulos de visão que resultam de uma intencionalidade temática sempre associada à poesia, funcionando também como uma sua especial extensão ou projecção, onde a semântica conta. Por isso, é possível manter na pintura um registo semântico claramente identificável e que alude sempre a uma originária intencionalidade poética.
II.
Gosto de explorar sobretudo cores quentes, as que melhor exprimem a carga semântica da poesia com que a pintura converge, e de usar fundos negros, como recurso que permite evidenciar, com maior pregnância, as formas e as cores. Até porque o negro que uso tem, no tipo de papel que utilizo, uma textura e um tom muito especiais. Parto sempre de uma mancha original, que capto através de prótese fotográfica, sempre accionada tendo em vista explorar plasticamente um determinado ângulo de visão, seja de um rosto, de um corpo, de uma flor ou de uma paisagem. E, para além do traçado central que dá forma e pregnância ao tema, procuro dar vida às figuras que nela se insinuam, originariamente ainda sob forma larvar, como se estivessem a pedir que lhes desse uma identidade definida. Um processo de gestação estética de formas inscritas originariamente num tecido ainda vagamente definido.
III.
Rostos, corpos, flores, paisagens – em todas as formas ainda informes (para o fim em vista) procuro animação, vida, movimento. Parto à descoberta de figuras que, à primeira vista, são de difícil percepção, porque de pequena dimensão e de contornos indefinidos, mas que vão ganhando forma no processo de desenvolvimento da pintura. Como se se tratasse de uma construção a partir de uma estrutura molecular. E é esta animação interna da pintura que sugere os desenvolvimentos posteriores, sempre subordinados, claro, à unidade estético-expressiva do todo, que sempre sobredetermina esteticamente os elementos que o integram. Mas há uma constante na minha pintura – a presença e a influência do discurso poético. Como se o real de que parto fosse já o que a própria poesia configura, traduz, apresentando-se a pintura como discurso metapoético, mas por ela já marcado originariamente, na génese, na origem. Uma estética da cor e do traço assente na semântica poética. A poesia funciona, assim, como uma espécie de mediação entre o pintor e o real. Um real já devolvido pela poesia e por ela reconfigurado. Uma “second life” de natureza poética como ponto de partida da pintura. Mas também acontece, cada vez mais frequentemente, que, sendo sempre a pulsão originária que me leva a compor de natureza poética, o processo se inicie com a pintura, acontecendo a poesia em momento posterior como resposta à proposta plástica que a antecedeu. O quadro “O Aurífice”, de 2022 (n.º 15 do Catálogo, pág. 29), para o poema “Esculpir-te”, é exemplo claríssimo de escrita que se desenvolve baseada no olhar do poeta sobre a pintura já executada. O mesmo vale para o quadro “Rasto de Luz”, de 2023 (n.º 49 do Catálogo, pág. 63), para o poema “Ocaso”. E, todavia, a intencionalidade originária é sempre de natureza poética, a matriz da criação, um olhar poeticamente já comprometido.
IV.
Todas as pinturas têm, por isso, um poema associado. Assim, é possível detectar na pintura também uma sua função orgânica – a de tornar visível o discurso oculto da poesia, dar-lhe cor, prolongá-lo até ao ponto em que a própria pintura se desprende, transportando consigo, sim, a intencionalidade poética, mas exibindo-a em total autonomia, com a própria plasticidade e a própria hermenêutica. Poderia exemplificar com alguns quadros, nos quais se desenvolve e converte a própria fala poética. Mas essa sinestesia pode ser consultada livremente aqui, no separador “Poesia-Pintura”, onde se encontra publicada a maior parte da minha obra poética, associada à pintura. E, todavia, não é possível dizer que a pintura seja a ilustração plástica da poesia, porque o mesmo poderia ser dito da poesia, dizendo que ela seria a ilustração discursiva da pintura. Mas também se poderia dizer que, sim, é uma coisa e é a outra, ou as duas em simultâneo. O efeito sinestésico resulta da convergência intencional e livre – animada por uma originária ou primordial relação poética com o real – das duas artes em torno de um mesmo tema ou história, tratados com a linguagem própria de cada arte. Também no meu livro de poesia (João de Almeida Santos, Poesia, Lisboa, Buy The Book, 2021, 438 pág.s), tal como nesta Exposição “Luz no Vale”, onde estão expostos sete poemas associados espacialmente a sete pinturas, é possível encontrar exemplos desta sinestesia, estando treze poemas associados a treze pinturas (entre as pág.s 98-99, 106-107, 114-115, 126-127, 194-195, 252-253, 256-257, 262-263, 298-299, 302-303, 306-307, 328-329, 340-341 e, finalmente, para toda a poesia, entre as pág.s 52-53). Livro onde também se encontra desenvolvida a minha concepção de arte num ensaio de estética e de introdução à poesia e à pintura ou, ainda, nas respostas aos meus leitores digitais sobre vinte poemas.
V.
Há um lugar inspirador central: o meu jardim no Vale de Famalicão da Serra e os horizontes que o enquadram. Ali colho grande parte da inspiração, mas interceptando sempre, por um lado, remotos, mas intensivos, fragmentos de memória e, por outro, as figuras que se insinuam na mancha original de que sempre parto. Depois, acontece o livre desenvolvimento da pintura, em obediência aos meus próprios critérios de beleza e de harmonia, mas também às exigências semânticas que respondem ao chamamento poético. Não concebo a arte sem semântica, tal como não concebo a poesia sem música, mas também não compreendo a subordinação da forma e da totalidade estético-expressiva às puras exigências da semântica. É como se se tratasse de camadas que se desprendem de uma mesma matéria orgânica, ganhando autonomia e sentido próprio, embora contaminadas pelo próprio processo criativo e pela sua palingénese. Não me filio em nenhuma corrente estética, por uma única razão: o real é o centro do meu discurso estético, ainda que, na pintura, seja um real já portador de sentido conferido pelo olhar poético do pintor sobre a realidade, sobretudo sobre a sua realidade interior. Conjugando pintura e poesia procuro interceptar e interpelar o observador, o fruidor, com uma clara intencionalidade. É uma interpelação complexa onde poesia e pintura cooperam para intensificar o chamamento e a convocação para a experiência estética. Mas também é possível detectar alguma intertextualidade na pintura. Por exemplo, a presença, em alguns quadros, de citações, de fragmentos klimtianos (“Uma Casa no Jardim”, 2022, n.º 7 do Catálogo, pág. 21, o quadro que ilustra este artigo). Um autor, Gustav Klimt, que me seduz, desde sempre.
VI.
Para verificar em concreto o que disse, o melhor é, podendo, visitar a Exposição que está aberta ao público no Museu da Guarda até 7 de Abril, onde a pintura e a poesia expostas falam por si, em cinquenta e um quadros e sete poemas (veja aqui a notícia da inauguração da Exposição, e algumas imagens, na passada quinta-feira, dia 8 de Fevereiro). JAS@02-2024

LUZ NO VALE – LUZ NO VALE – LUZ NO VALE
LUZ NO VALE
PINTURA&POESIA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE JOÃO DE ALMEIDA SANTOS

NA PASSADA QUINTA-FEIRA, dia 8 de Fevereiro, foi inaugurada, no Museu da Guarda, a minha Exposição de Pintura e Poesia “LUZ NO VALE”, luz no meu Vale. Antes da visita às 51 obras de pintura digital e aos sete Poemas expostos, houve, no auditório da sala de exposições, uma sessão de apresentação do meu livro POESIA (Lisboa, Buy The Book) pelo Dr. António José Dias de Almeida, depois do discurso de abertura da sessão pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa. A finalizar a sessão tive ocasião de dizer algumas palavras de agradecimento ao Senhor Presidente da Câmara pela gentileza do seu discurso e ao Dr. António José Dias de Almeida pela bela apresentação do livro de poesia, dando, afinal, sequência à interessante apresentação que, a 17 de Novembro, fizera, na Biblioteca Eduardo Lourenço, do meu livro A Dor e o Sublime. Ensaios sobre a Arte (S. João do Estoril, ACA Edições, 2023).
Tive oportunidade de dar conta do meu processo criativo, sublinhando, em particular, a sinestesia entre a pintura e a poesia que domina o meu discurso estético. Um processo que está ilustrado na Exposição com sete poemas e sete pinturas (associados espacialmente) em plena convergência de sentido, complementando-se, como discursos estéticos, em torno de um mesmo tema. Também pude falar da minha relação com a arte, da génese e das razões que me motivaram a percorrer, como criador, este delicado e fascinante universo. Muitas das obras em exposição inspiram-se, tal como a própria poesia que lhe está associada, no Vale de Famalicão e na magnífica vista da serra e do maciço central, mas também, em particular, no meu “Jardim Encantado”. É esta a razão do título da Exposição, “Luz no Vale”. Vale revisitado com as categorias da arte, pintura e poesia, e densificado com recurso a significativos fragmentos de memória devidamente enquadrados no discurso estético. Outras inspirações e outros lugares (Roma, por exemplo) também estão vertidos em arte, sim, mas a dominante é a do Vale.
Sala cheia e Amigos que me quiseram honrar com a sua presença, trazendo afecto a um evento duplamente muito importante para mim, porque me projecto como artista numa Exposição com uma significativa dimensão e porque o faço na minha terra. A todos o meu obrigado. Mas o meu obrigado também à Empresa que procede à conversão da versão digital das obras em papel Hahnemuehle, “Ideias com Peso”, e à que executa as respectivas molduras, “Espada&Lourenço, Lda”. Aqui deixo também o meu reconhecimento aos funcionários do Museu da Guarda que intervieram com competência e simpatia na montagem da Exposição. Ao Pedro de Almeida Santos o meu obrigado pelo trabalho de paginação e design do Catálogo e dos elementos gráficos de apoio à Exposição. E, finalmente, o meu obrigado à Dra. Ana Leonor Pereira da Silva, com quem geri todo o processo de realização da Exposição.
- Créditos fotográficos: Câmara Municipal da Guarda e Rádio Altitude
A Exposição estará aberta ao público
até ao dia 7 de Abril DE 2024

















"LUZ NO VALE" - 08.02 - 07.04 - 2024.
JAS@02-2024
FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO (V)
SOBRE A POESIA
Por João de Almeida Santos
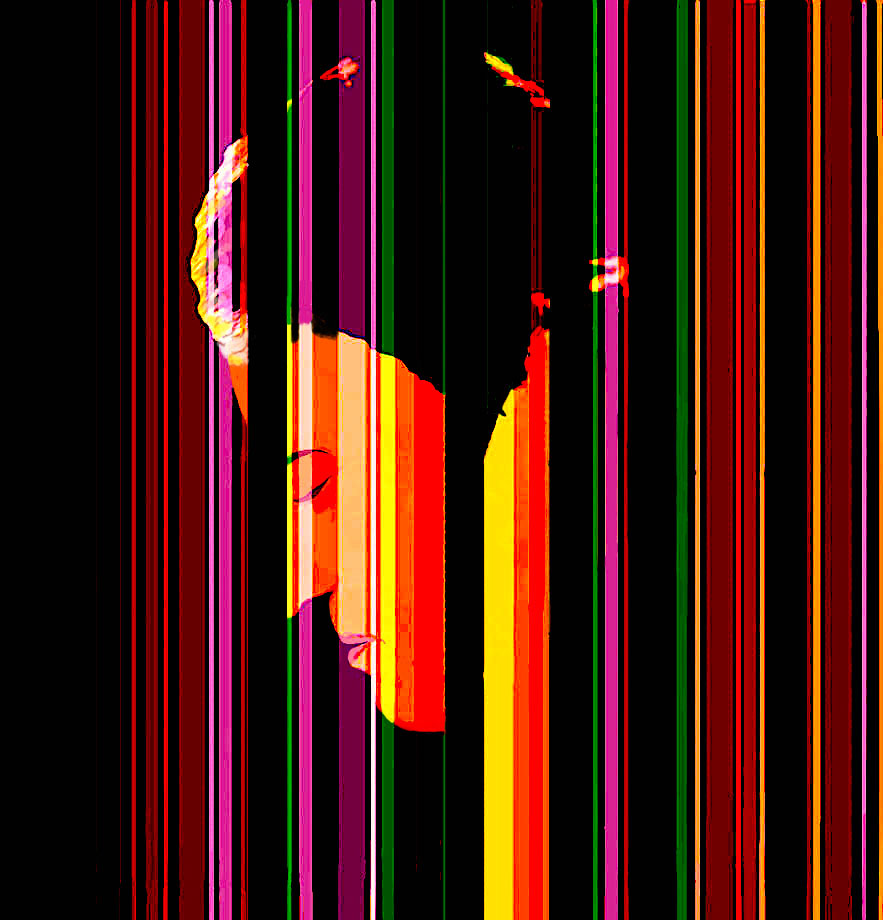
“S/Título”. JAS. 02-2024
A POESIA E O SILÊNCIO
NO SILÊNCIO encontramo-nos com nós próprios. E também é o momento de interpretar o silêncio dos outros, se lhe atribuirmos importância e significado. Mas a verdade é que nos tempos que correm anda no ar um imenso ruído, chovem palavras vindas de todo o lado. As palavras à procura de quem as queira interpretar ou apenas de quem as queira ouvir ou ver. “Bavardage”, dizem os franceses. Tagarelice, dizemos nós. E é aqui que ganha mais sentido o silêncio, a vontade de permanecer em silêncio. Às vezes até me apetece fazer um silêncio ruidoso para que o outro seja obrigado a interpretá-lo. E a valorizá-lo. E entre em diálogo comigo. Com sinais. Apenas sinais. E a poesia é a linguagem que está mais próxima do silêncio. Diz muito com pouco. É como a linguagem de sinais. É um falar sem aparente destinatário (mesmo quando o tem e até é verbalmente explícito) ou uma conversa com nós mesmos. Um desabafo cifrado. Um suspiro. Um murmúrio quase inaudível. Como água que brota da fonte. Um som leve. E pressente-se, o silêncio. Quando diz algo. E às vezes nem se tem a certeza de que seja mesmo silêncio. Ou que seja simplesmente ausência sem significado. Mas a verdade é que, às vezes, o silêncio é doloroso. E muitas vezes é usado como castigo. Ou até como vingança. Destruo todas as pontes por onde possa passar uma qualquer forma de comunicação. Chega a parecer terrorismo. Outras é pura indiferença… não intencional. Simples diferença. Desconhecimento sem significado porque não pode ser referido a alguém. No silêncio, podemos ouvir muitas vozes, em parte já confundidas com a nossa fantasia. Vamos à procura do melhor que encontrámos na vida e colocamo-nos em levitação, com palavras, com traços e cores, com notas musicais, com o corpo em movimento… com poesia. Chamar o tempo até à nossa fantasia e recriá-lo com prazer, ao limite da beleza que tivermos connosco e à qual consigamos dar forma. Sinto necessidade permanente de escrever poemas sobre o silêncio. O que significa que o silêncio me perturba, me vem perturbando, mesmo quando lhe dou forma verbal. O silêncio ressoa, sobretudo quando o ruído lá fora cresce para intensidades insuportáveis.
O SILÊNCIO E O MISTÉRIO
O silêncio é como o mistério. De certo modo, é insondável. E transforma-se com a interpretação, com a assunção subjectiva do seu aparente sentido (aos olhos de quem o ouve e sofre). O poeta procura penetrar nesse mistério com palavras em associação, semântica e sonora. Uma reconstrução do mistério, como se tivesse sido revelado (ao poeta). Uma ida à profundidade do tempo, ao passado ou à ausência. Um diálogo com o vazio que a ausência representa. O que se segue é uma tentativa de o preencher, ao vazio, com algo que possa ser considerado belo. Fazer do vazio pleno. A poesia é indissociável do silêncio e do mistério. Quando tudo é linear, directo e presente o poeta procura outras paragens mais sedutoras e densas. Não há poesia quando se é feliz. Mas pode-se ser feliz com a poesia. Um oxímoro? Não. Nela se acolhe com palavras e nas palavras o tempo que já se foi ou a presença que se tornou ausência. E dá forma ao silêncio que esse tempo traz consigo. Esse tempo é ausência irrecuperável a não ser com palavras que o recriem em forma de chamamento, de empenho, como parte do presente. O poeta como unidade expressiva do tempo (passado, presente, futuro). E assim dá a palavra ao silêncio do (daquele) que está ausente, invocando-o como algo inspirador. Sim, não somente como perda sentida e sofrida, como falta ou como fracasso, mas, sim, como algo inspirador, não como passado, mas (agora) como futuro. Um amor que já se foi, que já dói menos ou até que pode ser parte da alegria poética, revivescência, solução e parte integrante dessa unidade expressiva que se exprime na poesia. É isso. Fazer da dor remota, já menos viva, fonte de inspiração. Sim, fonte que abastece um rio de sentimento e beleza em curso e em direcção ao futuro. Isto não é lamento. Isto é alegria ou mesmo felicidade, de que esse passado ou essa ausência fazem parte. E talvez seja precisamente o silêncio que permite tudo isto, porque abre espaço para que a palavra poética se instale.
O SILÊNCIO E A MUSA
Um dia destes tive uma conversa com o magnífico Walt (o das “Folhas de Erva”) sobre o silêncio da musa, o seu vasto mar que o meu frágil barco solitário está sempre a navegar. E sabem o que me respondeu o Whitman? Que se trata de murmúrios de uma velada voz que o poeta tem de ouvir e interpretar. Mas também falou de vagas imperiosas nesse mar de murmúrios da musa. Pobre poeta que tem de (con)viver entre murmúrios indecifráveis e ondas imperiosas. Vida difícil, a dele. Não admira que esteja sempre a naufragar. Felizmente que adquiriu, por dádiva das deusas Athena e Aphrodite, o poder de levitar. Quando parece estar a afundar-se nas águas escuras e agitadas do alto mar, pode remar com a fantasia e elevar-se, levitar até à linha do horizonte. Palavras leva-as o vento e o barco ganha asas. É este o fabuloso, mas delicado e difícil, mundo do poeta, onde a musa o desafia permanentemente. As musas existem para serem abraçadas e beijadas pelos poetas, com a benção das duas deusas. Assim, é beijo seguro. Mesmo que seja bebido por fantasmas. Foi o Kafka que mo disse. E eu acreditei.
Os poetas têm diálogos sob a forma de monólogos, como quem as interpela, as musas. A verdade é que o poeta (também) faz a musa: dá-lhe vida, dá-lhe voz, interpela-a, (re)constrói-lhe o perfil, pedindo ajuda ao pintor, cobre-lhe o silêncio com palavras. Inunda-a de palavras e melodia. Sendo Erato, o seu perfil é o que o poeta traça: mistério. Porque o amor é isso. Só mistério, nada mais. É no mistério, coberto pelo silêncio, que o poeta navega. Ela não canta, não pinta, não dança – nada. É pura existência, sem definição. É isso que o desafia (ou desafiou) e o encanta. O inquieta. E como tem vida na memória do poeta, ele pode continuar sempre, “à la recherche du temps perdu”. Du visage perdu. De l’amour perdu: le poète à la recherche de ce qu’il ne trouvera jamais.
O POETA E O AMOR
Na poesia “pode o amor nem se reconstruir, porém, reconstrói-se o poeta”. Isto dizia um amigo a propósito de um poema meu (“Os Seios”). Sim. Talvez o amor persista como pulsão que tem de ter a sua vazão… neste caso pela poesia e a favor do poeta. É nesta forma de descompressão, de dar forma ao fluir pulsional que o poeta se reconstrói, se recompõe. O amor físico, esse fica lá perdido no tempo do insucesso. É coisa séria, profunda, que o obriga a falar do único modo possível. Como se o poeta se deitasse no divã do psicanalista e desse curso a associações livres, que depois são interpretadas com recurso à “tecnologia” poética. Esta leitura das associações tem exigências estéticas e assume uma forma que pode ser partilhada, embora seja uma linguagem iniciática, nem descritiva ou denotativa nem analítica. Uma das suas dimensões é a de se constituir como pauta musical que cobre, com a melodia e a rítmica, a própria semântica, que já nem é sequer explícita, linear. Exactamente: iniciática. A linguagem adequada ao mistério. Uma mensagem cifrada (dirigida a um imaginário interlocutor) em invólucro esteticamente desenhado. É neste labor e neste processo que o poeta se reconstrói. Por isso, sim, “pode nem o amor se (re)construir”, mas o poeta reconstrói-se em cada acto poético, como acto de amor, sem mais. É o processo, o percurso, que interessa, até porque nele não está inscrito o desejo de obter um concreto resultado (por exemplo, o da reaproximação do interlocutor original ou originário). Até porque sabe que isso é impossível. A poesia trabalha sobre e com o impossível.
O poeta, gosta de contar e de conter histórias na poesia. Nem que seja de fugidios, mas impressivos, instantes. No poema a que me aqui já me referi não é disso que se trata. Trata-se de uma longa história que alude à presença da figura maternal numa relação amorosa. O poema “Os Seios” simboliza isso. É um tema muito sensível, delicado e complexo, mas por isso mesmo só a linguagem poética, polissémica e metafórica, o pode tratar como deve ser tratado. Como se a própria poesia interviesse nele como sua expressão, como sua fala, sim, mas também como sua superior resolução. Ao mesmo tempo libertação e redenção, sem que a pulsão original se extinga, mantendo-se sob uma forma diferente, como pulsão amorosa, e, depois, como exaltação espiritual, na poesia. A presença no adulto da relação maternal figurada pelos e nos seios. É uma história de amor contada por um poema. Poeticamente reconfigurada. Onde a beleza é não só formal, mas também semântica. Onde a sensualidade se inscreve no mais profundo da natureza humana. É o sentido da presença dos seios no poema. Não é a explanação de uma tese ou a descrição de um estado de facto – é simplesmente um poema, um “grito” de alma poético, uma libertação, uma dupla libertação. Ou até um recomeço, uma entrada na maioridade afectiva guiada por um belo e nobre sentimento e pela exaltação da sensualidade. Na verdade, trata-se do exercício poético de fundir, através dos seios, o amor-paixão com a raiz profunda da própria maternidade matricial. É um tema delicado, mas desafiante para um tratamento poético que o envolva pela moldura da beleza. Sim, Mulher-Mãe, neste caso. O que sobrevive ao corte do cordão umbilical e subtilmente se transforma em fonte de sedução, de prazer e de amor.
A CLANDESTINIDADE DO POETA
De certo modo, todos os poemas são clandestinos. Têm uma identidade clandestina. O sujeito poético é sempre e somente poético. Fala de forma cifrada. Os poemas são obra da fantasia e, por isso, produzem ilusão poeticamente induzida. Mas não são pura ficção porque se inscrevem no “pathos” e são animados por aquilo a que o Nietzsche, na Origem da Tragédia, chamou “espírito dionisíaco”. Nascem de uma combustão, de um fogo que arde sem se ver.
ENCONTRO E DESENCONTRO
Perder-se de paixão em poesia sem o risco de desencontros – eis a questão. Mas se a poesia nasce sob o signo do desencontro, ela converte-o em encontro num patamar superior imune ao arbítrio da vontade, do interesse ou da circunstância porque as suas únicas leis são a da beleza e a da sedução. Perder-se, sim. Se não nos perdermos nunca conseguiremos reencontrar-nos. Perder-se é como sair de si para, depois, regressar mais rico, mais cheio de mundo e de maior consciência de si. O poeta só é poeta porque se perdeu. Reencontrou-se na poesia. Voilà.
DESPERDÍCIO
“Desperdício”. Fiquei a pensar nesta palavra quando uma leitora assídua da minha poesia a referiu à musa que parece inspirar o poeta. Parecia estar a dizer: “Ela não te merece, poeta!”. E não encontro resposta plausível. Mas, pensando bem, talvez encontre: desperdício por o amor só acontecer como poesia. Alguns chamam-lhe amor platónico. Eu não. Mas pergunto: se não houvesse “desperdício” teríamos poeta e poesia? Talvez não. Lembro-me sempre do passarinho do Vinícius: não há poeta, sou feliz. É a dor, não a felicidade, que faz dele “um poeta de alto nível”. É sempre necessária uma dissociação entre o poeta e o sujeito poético, para poder manter a própria condição de fingido “fingidor”. O poeta é um foragido das leis da vida. Não um desertor, porque leva a vida consigo, para dentro si, submetendo-a livremente aos seus códigos de beleza. Mas o “desperdício” parece estar escrito nas estrelas. Não depende da vontade. Sim, o poeta finge a dor (e o amor) que realmente sente, mas nunca encontra fisicamente o ser amado. Não será a poesia filha do “desperdício”? A musa diz-lhe: “Vem até mim”. Mas o poeta só pode ir no veículo poético. E, por isso, nunca lá chegará. É como Sísifo, a viagem não tem fim. A musa é como uma utopia que o atrai… chegado a ela seria o êxtase e o poeta morria. Mas nem Athena nem Aphrodite o permitem. É, sim, como a condenação de Sísifo, só que aqui a pedra é a poesia… que ele carrega nos ombros da sua atormentada alma.
O POETA E O ARBUSTO
O poeta fala para o arbusto do seu jardim encantado como se fosse uma mulher. Estranho? Às vezes os arbustos têm nomes de mulher. Vê o arbusto e sonha com uma mulher? Não sei, mas parece que sim. O jardim é ambiente idílico. E esse é o ambiente em que a sonha. É natural. Mas a mulher cultivará sempre um certo mistério, um seu lado obscuro, uma certa e espontânea frieza, acrescida de um persistente silêncio. À primeira vista, uma coisa parece não bater com a outra. Mas o ambiente em que cresce a fantasia do poeta acaba por se impor. Afinal, como sempre acontece na poesia. Mistério e desencontro, mas, depois, a harmonia e a beleza poética a imporem-se sobre a inquietação e o abandono, sobre o desconforto existencial, sobre a nostalgia e a melancolia, sobre um destino que parece estar traçado. Sobre tudo isto se eleva a poesia como veículo que transporta o poeta para regiões superiores, onde até a turbulência e as tempestades são suaves e belas. O poema tem referente? Sim, o arbusto (um loureiro). E o arbusto tem referente humano? Não sei, mas talvez tenha. E, se tiver, isso acontece nesse jardim encantado do poeta, para onde o transportou. Querem coisa mais bela do que esta, pôr beleza onde só parece haver mistério, desencontro ou até mesmo fracasso e tristeza? Envolver tudo isso em moldura idílica de formas, cores e aromas, temperados com palavras e melodia… ver beleza onde até pode haver dor é redenção. Levitação. Sim, é bom levitar e a poesia permite-nos levitar sobre a dor, levando connosco os que a partilham. Sim, tudo parece conduzir a um movimento de libertação pela palavra em pauta musical. O triunfo da leveza sobre a força gravitacional da privação sofrida, “como reação ao peso do viver”, como diria o Italo Calvino: quando a tristeza se transforma em melancolia, quando se dissolvem os últimos resíduos da opacidade corpórea (Calvino, Lezioni Americane, Milano, Garzanti, 1988, pág. 21).
A MUSA E O BEIJO
As musas, afinal, andam por toda a parte. Havendo arte também no futebol é natural que por lá também andem musas. Evadem-se da poesia e vão divertir-se a jogar futebol. Não se limitam a inspirar. Entram em jogo, em competição. O Rubiales que o diga, pois parece ter-se inspirado excessivamente numa musa, a Hermosa Erato, sem se aperceber que também ela estava em campo. Concordo: há que obedecer às musas, muito senhoras do seu nariz. Ah, sim. Não podes agarrá-las à bruta e dar-lhes beijos, mesmo que seja dia de festa. O seu poder é imenso e não há manuais de procedimento para interagir com elas. Nunca sabes como vai acabar. É como estar em alto mar com ondas altas e com um barco frágil. Deixar-se ir com elas, sem lhes resistir, para não ser esmagado por elas. Não nadar contra a corrente. O infeliz Rubiales, que não é poeta (julgo eu), foi atirado pelas ondas contra as rochas. Não se salvou. Devia ter deixado a vida correr sem se ter atirado a ela, à musa. Estatelou-se, depois de, como o Benfica, se ter inspirado nela, na musa. É coisa muito séria, esta. Que o digam os poetas. Um poeta famoso, de seu nome Shakespeare, até estava disposto a ir para o inferno por um beijo: “aqui estou”, diria aos diabos, “mas antes eu vi o paraíso”. Cumpriu-se a profecia: por um beijo o Rubiales foi parar ao inferno. E nem teve tempo de ver o paraíso (creio). Mas há mais: onde há beijos também há fantasmas e não se sabe bem o que fazer quando o alimento escasseia e não há beijos para beber. Os fantasmas precisam dele, do alimento, do beijo. E os poetas já sabem que têm de enviar beijos às musas, não assim, como fez o Rubiales, mas através do veículo poético, sempre sujeito ao assalto dos fantasmas (e eles, os poetas, sabem disso). O ambiente em que tudo isto se processa é sempre de mistério e navegar nele é sempre difícil e delicado porque ao mínimo erro pode mesmo haver uma revolta dos fantasmas. E das musas, das nove, de todas. Eu acho que a única maneira de abordar as musas é mesmo através do veículo poético, que transporta os beijos dos poetas. Elas gostam de viajar nele. Às vezes até pedem boleia. Mas estão sempre protegidas pelos fantasmas porque são elas as destinatárias dos beijos, do seu próprio alimento. E pelas irmãs, as outras musas. Os beijos devem ser-lhes dados sempre de forma indirecta (não digo de cernelha, porque é feio e pouco poético) e nunca como fez o pobre do Rubiales. Quando o futebol feminino entra em campo, também as musas passam a estar lá e não só como inspiração. São protagonistas. O Rubiales não tomou isto em consideração. Pelo contrário, os poetas não se enganam, apesar de também correrem riscos. Porquê? Porque dão os beijos de forma intangível (beijam à distância) e é por isso que os fantasmas os podem beber ao longo do percurso, quando são levados ao destino, pelo vento. Não admira, pois, que os beijos não cheguem ao destino. É o preço a pagar, sim, mas o beijo fica dado. Fica mesmo. O beijo do poeta é coisa muito mais sofisticada do que o do Rubiales. Assim, o beijo, dado directamente e de qualquer modo, pode ser como a medusa: petrifica. Foi o que lhe aconteceu.
Nota a este fragmento: A questão Rubiales estava-me aqui entalada e, para não implodir, socorri-me da observação do JN sobre o jogo Gil Vicente-Benfica para me libertar deste peso. A coisa é complexa e delicada, mas, pelo menos, pude olhá-la a partir da mitologia e da poesia. Se o outro falou de “rebelião das massas”, agora estamos perante a “rebelião das musas”, ainda por cima nesse terreno mundial e explosivo do futebol. L’important c’est… le baiser. Quando um gesto de amor ou de júbilo (digo eu, somente por hipótese) se transforma em guerra, em “luta de classes”, em violência simbólica, em inominável agressão, em questão mundial, provocando mesmo a intervenção de governos – então há que reflectir sobre o sentido de tudo isto. “Eu já não sei”, para glosar a Roberta Sá e o Zambujo, se um dia destes os beijos poéticos não poderão ser também eles alvo de censura social ou até mesmo governativa, ainda que beijar a barriga de uma grávida seja considerado, e bem, um gesto de ternura presidencial. Já sei, talvez possa ser o Ortega y Gasset de Famalicão da Serra e publicar o livro “A Rebelião das Musas”, com prefácio da Isabel Moreira e da Fernanda Câncio (se elas aceitarem a prosa de um empedernido cisgénero, claro). Pronto, já me sinto melhor.
NAUFRÁGIO
Os poetas sofrem um pouco de desnorte, ziguezagueiam na vida, vagueiam por aí… É que a bússola é a sensibilidade e, por isso, dependem muito dos estímulos sensoriais, dos aromas, das paisagens, dos olhares e dos corpos… Penso que há sempre um estado de alma primordial que lhes faz disparar a sensibilidade. A este mar de sensações chega a poesia e o poeta transfere-as para lá livremente e voa, voa nesse mar de palavras, com as asas que as deusas da beleza e do amor lhe deram. Os jardins perfumados são a pista de onde os poetas descolam nos seus voos para a linha do horizonte. Mas é verdade, os poetas são filhos dos poços de ar, das turbulências, da tempestade, do deserto, das águas revoltas do mar. Por isso, venham ventos e marés que eles saberão sempre navegar neles. Mas nos mares habitados pelas musas o naufrágio é sempre iminente… só que ele nunca se conclui porque a fantasia o põe em levitação poética e o conduz sempre até à linha do horizonte… E o que é curioso é que ele leva sempre a musa consigo. Tudo recomeça, como se revivesse a pena de Sísifo. Eterno retorno, que é também a constante procura de uma linguagem de sedução pela beleza… Só seduzindo ele poderá redimir-se, salvar-se. Nem as musas aceitam outra linguagem que não seja a da sedução. Redenção pela arte, a que eleva e, assim, resgata.
GOETHE
Há um poema meu (“Reminiscências”) que tem várias inspirações na base. Precisamente Goethe (“Selige Sehnsucht”), Thomas Mann/Goethe (“Lotte em Weimar”) e, claro, Manuel Bandeira (“Desencanto”). Mas a base essencial é Goethe. Tudo partiu dali. Depois, Florença, onde vivi durante alguns meses, logo quando fui para Itália, em casa da minha Amiga Laura. Sim, a poesia propicia o renascer de memórias intensas e antigas. Musas, afinal, são nove. Para mim, são sobretudo quatro. E é um eterno retorno, um regresso permanente. Só não é como Sísifo porque a poesia é mais leveza do que peso. Mas talvez seja castigo da vida por algum fracasso amoroso. Há castigos destes. Ficas castigado a cantá-lo (o amor) ou a cantá-la (a musa) enquanto durares. Aos domingos, o dia do teu ritual laico. Só que a poesia tem este poder de elevar o efémero e de o preservar no tempo, de trocar o peso pela leveza, de libertar. Sim, tens de subir a montanha sempre, do Vale para a Montanha e da Montanha para o Vale. Só que aqui existem asas (dadas por Athena) que te levam, movidas pelo vento que te sopra na alma e na fantasia. Hermes, o mensageiro.
São múltiplas, sim, as referências que este poema traz consigo. A epifania toscana é uma delas. É lá, na Galleria degli Uffizi, em Florença, que está a Primavera do Sandro Botticelli. A primeira inspiração do desenho que ilustra o poema foi numa das suas figuras. Mas também há reminiscências da minha viagem literária por “Via dei Portoghesi”. Por ali andou Goethe, que viveu na rua que continua esta, a “Via dell’Orso”. Reminiscências – o poeta vai lá e procura preservar o efémero das suas vivências mais intensas. A minha canção preserva o efémero, diz Goethe (creio que no diálogo com Lotte), em “Lotte em Weimar”, do Thomas Mann (1939). Imortalidade? Pelo menos, desejo de preservar o que de mais precioso lhe coube viver. Isto dá mais sentido à poesia. Mas aquele poema “Selige Sehnsucht”, de Goethe, agarra o tema da chama que atrai a borboleta: ansioso por luz, qual borboleta, ardeste; ou a vida: “quero celebrar a vida /que morrer em chamas anseia”. É um tema fascinante, este, a celebração da vida, a luz intensa que atrai e que queima. A borboleta, a fragilidade e a beleza da vida. Muitas vezes, indo lá mais atrás nas nossas vidas, deparamo-nos com algo semelhante. Reminiscências. Depois a Epifania – algo se manifesta através de sinais. Por que razão um poeta se atira inexoravelmente à poesia e por ali fica sem poder exilar-se? Algo mais forte do que ele o obriga a mover-se. Reminiscências que afloram e que exigem nova descodificação? Talvez. A poesia também é exegese do poeta. Sobre si próprio. Que exige comunicação, partilha, para se completar como exegese.
A POESIA ACONTECE
Busca, magia, reinvenção – três palavras certeiras para captar o essencial da minha poesia. E, então, “o poema acontece”. Creio que era o Pessoa que dizia que a poesia lhe acontecia, retirando-lhe aquela dimensão, sempre ameaçadora, do construtivismo da vontade. A poesia como algo natural, algo que decorre da vida de um poeta. Acontece-lhe, a poesia, enquanto caminha. E logo se põe asas e voa até ao fio do horizonte. Ele procura sempre seduzir, através da beleza. Ele, que foi seduzido. É assim que procura a perfeição, porque sabe que só seduz se for perfeito. Aconteceu-lhe ter sido seduzido, mas, sem jeito para as coisas práticas da vida, falhou, fracassou. Foi então que decidiu repor poeticamente a ternura das palavras e dos actos falhados, mesmo (ou sobretudo) quando já interditos e quando foram submersos pelas altas vagas das marés da vida. Um modo diferente de responder aos desafios e aos desencontros da vida. Sim, é verdade. O poeta tem sempre uma razão profunda para cantar. E quase sempre se trata de perda ou de impossibilidade. Mas o canto não é fuga, porque ele transporta a dor consigo, dá-lhe forma, di-la e, com isso, consegue metabolizá-la, transformando o peso em leveza. A poesia é um belíssimo divã. “Malheur intérieur” – o poeta tem sempre de conquistar a sua própria (in)felicidade. De a construir com os sentidos interiores. Em permanência, como se tivesse sido condenado a transportar todos os dias as palavras até ao cimo do Monte. Feliz melancolia é o que ele sente no fim de cada percurso. Parnaso e Sísifo que transporta consigo palavras sob as asas da fantasia até lá ao alto do Monte. O poeta é um artífice da leveza.
KARMA
Não duvido de que o amor faz parte do código genético da poesia. Um amigo dizia-me que, neste poema, tudo disse sem filtros. Talvez, digo eu, que sou outro que não o poeta. Melhor, que não sou o sujeito poético. Mas é verdade que o poeta finge, mesmo quando diz o que sente. É a força e a fraqueza da poesia. A pergunta é a de saber se o poeta se distancia da experiência. Sim, porque se eleva para um plano que pretende ser universal. Mas levando consigo esse peso gravitacional. Não foge, enfrenta-a com as armas de que dispõe. Por isso o poeta é um combatente. Sofisticado, mas combatente.
O que, ou quem, estará na origem desta pena sisifiana? Só perguntando ao poeta. Mas já se sabe que ele fingirá. Karmamarga, referi eu na resposta a uma Amiga. Sim, mas a origem? O Thomas S. Eliot dizia que a visita da musa fazia nascer o poeta. Musa-parteira? Ou musa que provoca estremecimento de alma e condena o estremecido a uma permanente subida ao Monte? Mas eu também acho que os deuses ou as fadas não são estranhos a este acontecimento. O estranho é esta associação de uma pena à criação, sobretudo â criação poética. Eu acho que o Eliot tem razão e, se for assim, fica tudo explicado. E é verdade, pois acho que isto acontece com todos os poetas. E até com a predisposição para gostar de poesia.
O título deste poema a que o meu Amigo se referia era, primeiro, “Desabafo”. Depois, mudei para “Lamento”. Sim, vai longa a caminhada e o silêncio do lado de lá do poema pesa. Depois recomeça o lamento e a subida ao Monte. Não há disfarce possível a não ser o da própria linguagem poética e o do seu código. Mas eu creio que só assim a poesia exprime o seu próprio poder e desempenha eficazmente a sua função. Se é que ela tem uma específica função que transcenda a sua própria performatividade. Algo que lhe seja exterior. Acho que não, embora às vezes pareça que sim. O poeta nada espera a não ser uma bela fruição na partilha estética. E sedução. Isso sim.
Talvez a palavra Karma seja apropriada. Ritual para a redenção. Lixado, sim: ao fim de sete dias chega ao Monte, mas logo começa a descida, para, de novo, ao fim de sete dias, voltar ao topo do Monte. Karma. Há anos (curiosamente, sete) que este percurso acontece todas as semanas. Rigorosamente. Por isso falo de Sísifo. Como se fosse uma condenação. Mas não uma maldição. A subida é uma depuração de sentimentos (através de palavras). Lá no alto há sempre neve (figurei a neve e o palácio das artes, na pintura que ilustrava o poema). Beleza e frio. Sim, a beleza é sempre fria porque só exprime o essencial. Eu sinto-a assim. Mas não há razão para “inveja” porque o acto de fruição, com a alma, equivale ao acto da criação. Tem outra intensidade e não tem o sofrimento do “parto”. Mas é também acesso ao essencial. Participação no ritual. Partilha. Há também um estado que se chama karmamarga (“La via di salvezza consistente nell’osservanza delle norme rituali e nell’esecuzione dei sacrifici prescritti” – in Enciclopedia Treccani). Gosto mesmo desta palavra.
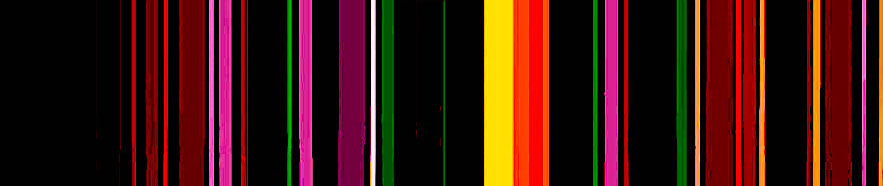
ESFERA PÚBLICA, REDE E DEMOCRACIA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 01-2024
PARA QUE NÃO HAJA DÚVIDAS: trata-se, neste artigo, da questão do espaço público, daquela esfera onde corre o fluxo comunicacional acerca do que acontece na sociedade. As plataformas tradicionais eram a imprensa, a rádio e a televisão. Entretanto, juntaram-se-lhe as plataformas digitais e, em particular, os social media, as redes sociais, alterando profundamente aquilo a que Habermas chama Öffentlichkeit, palavra geralmente traduzida por esfera pública. O acesso ao espaço público ganhou assim novos canais individualizados (aquilo que Castells identifica através do conceito de mass self-communication), não regulados por códigos éticos (como, pelo contrário, acontece com os mass media) e onde o receptor é também produtor e autor de mensagens, aquilo que hoje se designa por prosumer (produtor e consumidor de informação e opinião). As grandes plataformas de comunicação digital administram, mas, no essencial, não se pronunciam sobre os conteúdos, a não ser em casos extremos, funcionando apenas como ecrãs brancos onde cada indivíduo singular “imprime” as suas mensagens escritas e audiovisuais. Rompeu-se assim, com a comunicação digital, o monopólio de acesso ao espaço publico detido pelos mass media e instaurou-se um novo paradigma de comunicação e uma nova esfera pública deliberativa. Os próprios mass media migraram para este novo espaço intermédio constituído pelas plataformas digitais. Em síntese, estamos perante uma nova esfera pública, para usar a terminologia atribuída a Habermas, desde a publicação do seu livro de 1962.
1.
Esta nova realidade tem dado azo a debates e tomadas de posição fortes, umas defendendo a natureza e a estrutura da nova esfera pública que integra a comunicação digital, outras combatendo a nova comunicação digitalizada, em particular a dos social media. A defender esta última posição estes estão muitos daqueles que perderam o monopólio do controlo e do uso das vias de acesso à esfera pública, mas a verdade é que esta nova realidade veio para ficar e está a transformar todo o processo de comunicação social pública e privada, interferindo fortemente na própria esfera pública política e nos processos de legitimação e de conquista do poder. Uma nova esfera pública com características e problemas diferentes da esfera pública tradicional, precisamente aquela a que se referia Habermas no livro de 1962. Um espaço onde opiniões públicas “qualitativamente filtradas” coexistem com uma “esfera pública” de tipo plebiscitario, com “disrupted public spheres” que se separaram da clássica esfera pública integrada pela mediação jornalistica e onde a fronteira entre o público e o privado tende a ficar cada vez mais esbatida e nebulosa (Habermas, 2023: 64-69).
2.
O livro de Habermas, publicado em 2022 pela Suhrkamp com o título de Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik (mas cito a edição italiana: Habermas, J., Nuovo Mutamento della Sfera Pubblica e Politica Deliberativa, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2023), dá-nos conta desta mudança que está a acontecer. E fá-lo de forma reflexiva e crítica, evidenciando os seus efeitos disruptivos sobre o processo de coesão e de inclusão política, no essencial apontando os aspectos negativos desta nova realidade. Para se perceber o raciocínio de Habermas é necessário, em primeiro lugar, saber que a sua mais influente obra foi precisamente Strukturwandel der Öffentlichkeit, de 1962, concebida em linha com a natureza da comunicação social da altura, quando já estava a acontecer a queda das grandes narrativas ideológicas e quando a televisão já iniciara, nos USA, a sua marcha triunfal rumo ao controlo e domínio da comunicação política. Depois, a evolução de Habermas para a sua teoria discursiva da democracia e para a teoria da política deliberativa, ambas ancoradas num intenso racionalismo crítico. Evolução que exigia uma esfera pública ordenada e predisposta para um eficaz uso público da razão e para a argumentação socializada como meio de legitimação e de acesso ao poder. Ora, o que se verificou com o advento da comunicação via plataformas digitais foi a tendência para a fragmentação desta esfera pública, para o deslaçamento discursivo e argumentativo das comunicações e para um tendencial esbatimento das fronteiras entre comunicação pública e comunicação privada. E é aqui, neste plano, que ele vê o maior perigo, pela desqualificação da instância pública política e, consequentemente, pelo risco de dissolução da sua capacidade inclusiva. Ele considera que é necessário preservar a fronteira entre a instância privada dos direitos individuais e a instância do exercício da soberania e da afirmação dos vínculos societários colectivos. O mesmo cidadão deve agir politicamente tendo em conta estas duas instâncias. A contaminação da esfera pública com uma forte, difusa e indeterminada comunicação de natureza híbrida ou semi-pública, como é a comunicação digital das redes sociais, tende a ser desqualificá-la e a tornar a fronteira entre público e privado cada vez menos nítida, enfraquecendo os laços colectivos e, naturalmente, a política e a democracia. Não é por acaso que Habermas associa este processo à afirmação do neoliberalismo: “uma destas razões” (para a crise funcional da esfera pública política) “pode ser vista na coincidência entre a emergência de Silicon Valley, isto é, do uso comercial da rede digital, por um lado, e a difusão global do programa económico neoliberal, por outro. Uma área globalmente alargada de livres fluxos comunicativos, tornada, então, possível pela invenção da infraestrutura técnica da ‘rede’, tornou-se a imagem especular de um mercado ideal”. Por isso, ele não só considera necessária a responsabilização das plataformas digitais pelos conteúdos como também considera “um imperativo constitucional manter uma estrutura mediática que torne possível o carácter inclusivo da esfera pública e um carácter deliberativo para a formação da opinião e da vontade pública” (2023: 69-71). Habermas defende a estrutura clássica da esfera pública porque é esta que melhor se adequa ao seu modelo de democracia discursiva e deliberativa ancorada num racionalismo crítico e argumentativo como fonte de legitimação do poder.
3.
O que parece ser evidente neste livro é uma clara responsabilização da comunicação digital dos social media pela desestruturação da esfera pública política, pois é esta que garante e legitima os vínculos de comunidade imprescindíveis para que uma democracia funcione, na “sociedade dos media”, de forma racional e intersubjectiva (2023: 57), garantindo ao mesmo tempo os direitos subjectivos àquele que Habermas chama Gesellschaftsbuerger, cidadão da sociedade, mas garantindo também a sua condição de Staatsbuerger, de cidadão do Estado (2023: 96). A tendência centrífuga inaugurada pela rede prejudica, segundo Habermas, a função integrativa e legitimadora da esfera pública e abre caminho ao deslaçamento político da democracia e à emergência de um plebiscitarismo digital pouco compatível com a matriz liberal da democracia representativa. Tendência que favorece e alimenta as visões populistas, que navegam à vontade nessa zona cinzenta e sem fronteiras entre o público e o privado e onde cada um pode colonizar livre e perigosamente o outro.
4.
A posição de Habermas é clara e tem algum sentido, sobretudo se a entendermos no quadro da sua concepção discursiva da democracia e do racionalismo crítico que o inspira. O que, no meu entendimento, ele não valoriza suficientemente é o potencial de libertação da cidadania em relação ao monopólio de controlo do acesso à esfera pública das tradicionais plataformas de comunicação (mass media), muito em particular quando elas se comportam como a outra face do poder, mesmo que seja o legítimo poder democrático. Mas, referindo a emergência de uma dimensão autoral do cidadão, enquanto produtor de informação e de opinião, autêntico prosumer, Habermas não a valoriza suficientemente porque, no seu entendimento, não é garantida por reconhecidas competências institucionais e expressos códigos éticos partilhados, como, pelo contrário, acontece com o jornalismo e com os media tradicionais. Na verdade, o que acontece, a par de fake news e de exibicionismo de massas e de mau gosto, é que outros protagonistas com créditos firmados na sociedade civil se podem afirmar na esfera pública digital, independentemente da autorização dos famosos gatekeepers, mantendo, entretanto, padrões de garantia ética e de competência intelectual superiores aos dos encartados jornalistas e dos consagrados meios de comunicação. O que ele não vê, pois, é o potencial de libertação que a expansão digital da esfera pública pode trazer consigo, ainda que ele possa contaminar a linearidade e a aparente racionalidade discursiva e argumentativa da esfera pública mediática.
5.
Claro, é um universo onde, para o bem e para o mal, o real é replicado e por isso é muito mais complexo e desregulado do que o mundo concentrado dos mass media. Mas, por isso mesmo, é também um universo mais rico, mais variado e até mais exigente, porque tem de ser filtrado com as competências cognitivas que cada um tem, seja ele o “cidadão do Estado” ou o “cidadão da sociedade”, sem as delegar comodamente nos profissionais da comunicação, tantas, demasiadas, vezes meras câmaras de eco dos poderes instalados. Por outro lado, o alargamento do espectro da esfera pública corresponde ao alargamento da própria esfera da deliberação pública e política exigindo maior atenção aos fluxos que correm livres na área deste enorme espaço intermédio, que funciona no intervalo entre a esfera privada e a esfera pública política, integrando funcionalmente ambas as esferas, precisamente como aquele cidadão que Habermas designou através dos conceitos de Gesellschaftsbuerger e Staatsbuerger, um mesmo indivíduo com duas dimensões essenciais em si, a pública e a privada. Diz Habermas: “A comunicação pública constitui o nexo necessário entre a autonomia política do indivíduo e a formação da vontade política comum de todos os cidadãos” (2023: 96). Mas é precisamente “o Estado democrático constitucional” que “garante a cada cidadão de modo co-originário tanto a autonomia política como as iguais liberdades próprias de um sujeito de direito privado” (2023: 96).
6.
Claro, trata-se uma realidade nova e que exige novos e sofisticados meios de gestão e controlo, por exemplo, um novo constitucionalismo digital, até porque as grandes plataformas digitais já estão a intervir com intuitos comerciais, chegando mesmo a transformar os clientes em matéria bruta para a sua transformação em produtos preditivos do comportamento para a economia e para a própria política. E, todavia, o potencial da nova esfera pública é enorme, quer em sentido negativo quer em sentido positivo. O que não é aceitável é ver só um dos dois lados da questão. Mesmo que seja em nome do racionalismo crítico. JAS@01-2024

DEMOCRACIA – A FORMA E O CONTEÚDO
As Legislativas de 2024
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 01-2024
TENHO OUVIDO, demasiadas vezes, dizer, e pelos próprios agentes políticos, que estas eleições servem para eleger o primeiro-ministro. A toada do discurso eleitoral é esta. E até quando se tratou de eleger o líder de um importante partido político a decisão foi centrada na escolha, não do melhor candidato a líder, mas sim de qual seria o melhor candidato para aquelas funções. E agora todos os líderes afunilam o discurso na figura do primeiro-ministro. Em termos de conteúdo do discurso não há qualquer dúvida. É sobre isso que os eleitores devem decidir, mais do que escolher entre candidatos a deputados, assim reduzidos a tropa de choque do candidato a chefe do governo. Na prática, está instalado em Portugal um presidencialismo do primeiro-ministro. A reforçar esta tendência está o próprio sistema eleitoral vigente que põe os eleitores a votarem numa sigla partidária que é corporizada e interpretada pelo líder-candidato-a-PM. E até é recorrente, e generalizado, ouvir dizer que o primeiro-ministro vale mais do que o próprio partido que o candidatou, reforçando, deste modo e erradamente, a figura do líder-primeiro-ministro. Qualquer que tenha sido o líder, os partidos da alternância (governativa) sempre mantiveram um consistente núcleo duro eleitoral que lhes garantiu a formação de governo. Na verdade, o que está a acontecer é uma forte aceleração do processo de personalização ou mesmo de hiperpersonalização da política.
1.
Esta tendência não começou ontem. Ela iniciou-se com a migração do discurso político (em sentido amplo) para os ecrãs da televisão, nos anos cinquenta, nos Estados Unidos, e com a personalização da política que isso comportou. Costuma-se apontar o famoso debate, em 1960, entre os candidatos John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon, onde o rosto de Kennedy se impôs ao discurso de Nixon, como provaram as sondagens feitas quer ao debate televisivo (com cerca de 70 milhões de espectadores) quer à transmissão radiofónica do mesmo debate, onde a maioria foi favorável a Nixon. No discurso venceu Nixon, na imagem venceu Kennedy. Nas eleições venceu este último. Esta tendência evoluiu reforçando cada vez mais a personalização da política, sendo, por exemplo, a transformação, em 1969, do Press Office da Casa Branca em White House Office of Communications e a mudança conceptual de information para communication, um claro sinal da estratégia de valorização da imagem presidencial sobre a estratégia de informação analítica acerca da governação. Da informação às relações públicas. Depois, seguiu-se o que já era de esperar: o reverso da medalha. Remetendo o poder para a imagem pessoal do presidente também ele se tornou alvo fácil para as “campanhas sujas”, centradas na sua vida, durante as campanhas eleitorais. Até hoje.
2.
Ora o que se passou recentemente em Portugal com a queda do governo e a convocação de novas eleições alinha perfeitamente nesta tendência de extrema personalização ou mesmo hiperpersonalização da política: por um lado, uma leve suspeita judiciária sobre o primeiro-ministro não só levaria à sua demissão, mas também à convocação de eleições, não obstante houvesse uma maioria parlamentar de suporte a um novo governo. Note-se que numa democracia parlamentar como a nossa os governos saem das maiorias parlamentares, havendo mesmo, pelo menos, um caso, o inglês, em que os membros do governo, para serem nomeados, têm de ter a condição de deputados. Ora, o que aconteceu foi que o PR, à revelia da matriz do nosso sistema constitucional, identificou o resultado das eleições de 2022 com a figura do primeiro-ministro (o tal discurso de que o líder “vale mais” do que o partido de que é líder e que o gerou), rejeitando, ipso facto, outra solução suportada na mesma maioria que ganhara as eleições. Foi assim dado mais um passo para a consolidação do presidencialismo do primeiro-ministro, só faltando mesmo, e coerentemente, dar-lhe dignidade constitucional, promovendo, agora formalmente, a eleição directa do primeiro-ministro e, já agora, com as listas dos deputados incluídas, por círculo eleitoral, na mesma lista que exibiria o nome do candidato a PM.
3.
Estamos, assim, numa clara dissociação entre o que está inscrito na matriz do sistema representativo (a fórmula presidencialista inspira-se nas monarquias constitucionais) e a prática política que vem crescentemente sendo assumida pelos partidos da alternância, do establishment. Ou seja, o que se verifica é uma inversão na hierarquia dos poderes, onde o primeiro poder, o legislativo (que exprime directamente a soberania popular) cede lugar ao segundo poder, o do executivo, cuja génese e legitimidade deriva do primeiro. Este torna-se, portanto, o primeiro e decisivo poder na hierarquia dos três poderes (ou dos quatro, se o PR, o poder moderador, for considerado). Nasce assim um decisionismo centrado na figura do PM com a consequente subalternização do parlamento, da casa dos representantes. Não foi por acaso que Giorgia Meloni aprovou em Conselho de Ministros um “disegno di legge costituzionale” que prevê isto mesmo (a que chamam “premierato”), procurando instituir constitucionalmente, com isso, o que a direita radical vem tentando já em vários países, a começar pela Hungria do senhor Viktor Orbán. Precisamente um decisionismo de primeiro-ministro.
4.
De resto, o mecanismo formal é claríssimo e só não o vê quem não quer: a eleição é para os representantes e não para um PM que, numa democracia parlamentar ou num regime semipresidencial, não é eleito directamente. Stricto sensu, o primeiro-ministro é sempre nomeado (ou indigitado), não eleito. Entretanto, quanto mais se reforça o poder e a legitimidade directa do PM mais poder se subtrai ao poder legislativo, já tão subalternizado com a formação de listas fechadas e voto no símbolo do partido, em sistema proporcional, e com a imposição dos cabeças de lista nos círculos eleitorais pelas lideranças partidárias. Para não falar do monopólio de propositura detido pelos partidos políticos. Não é por acaso que muitos defendem – e eu estou entre eles – a criação de círculos uninominais, em sistema maioritário e a duas voltas, como modo de, além das tão necessárias primárias, responsabilizar (enquanto representantes da nação) os candidatos perante os eleitores que os irão votar, devolvendo-lhes, por isso mesmo, maior densidade e autoridade política, também perante as próprias lideranças. A questão é mais funda, mas esta orientação é seguramente melhor do que a que temos. Na verdade, o fundo da questão reside no activismo e na maturidade da sociedade civil, capaz de obrigar o establishment a mudar. E hoje já há instrumentos para isso. Lembro as plataformas digitais bottom-up (do tipo da moveon, da meetup ou mesmo da momentum, ligada ao Labour) e a capacidade que elas têm de influenciar fortemente o eleitorado e a cidadania. A não ser assim, a mobilização ficará a cargo da direita radical, que sabe, essa sim, mover-se no interior das brechas do sistema político e social, ganhando significativas quotas de eleitorado a ponto de já governar em vários países. E em Portugal também parece estar a desenhar-se a ruptura definitiva do bipolarismo de governo, com o forte crescimento da direita radical.
5.
Em poucas palavras, a mim parece pouco consistente esta hiperpersonalização da política nos termos a que me refiro porque tende a retirar-lhe a sua tão necessária rede orgânica e a ficar ancorada numa única pessoa, sujeita, portanto a uma excessiva volatilidade, como se viu no caso do primeiro-ministro português, António Costa. A política democrática torna-se inconsistente e extremamente volátil se não dispuser de organicidade territorial, social e política, ficando sujeita ao construtivismo ou ao subjectivismo político de um protagonista dotado de excessivo poder, o que acontece no caso de consolidação do presidencialismo executivo e decisionista do primeiro-ministro. Não é por acaso, como disse, que esta é a orientação que está a ser assumida pela direita radical. JAS@01-2024
![]()
His. comun. soc. 28(2) 2023: 259-266
EL DISCURSO POPULISTA
Texto publicado pela Revista
“Historia y Comunicación Social”,
da FCI da Universidade Complutense
de Madrid, como Introdução
a um número sobre “Valores
democráticos y comunicación ética
frente a populismos y demagogias”
João de Almeida Santos (1)

“S/Título”. JAS. 01-2024
Resumen
ESTA REFLEXIÓN SOBRE EL POPULISMO propone una análisis de la idea de pueblo a lo largo de la historia y de la operación de su conversión ideológica con fines de conquista, de legitimación y de reproducción del poder. Un proceso igual al de la reconstrucción ideológica de la realidad. La narrativa populista es antiliberal y desprecia la mediación de las instancias representativas, ya que las identifica con la confiscación del poder soberano del pueblo por las élites. El poder unificador de la heterogeneidad social es garantizado por una figura carismática que interpreta el sentimiento popular, equivalente a la figura tradicional del monarca, que encarna, representa e interpreta la idea de pueblo-nación. El populismo (o el neopopulismo) puede ser de derecha o de izquierda, pero ambos se afirman, sobre todo, en la oposición a la matriz liberal de la democracia representativa.
Palabras clave: democracia representativa; masas; pueblo; significante vacío; soberanismo.
Abstract
This reflection on populism proposes an analysis of the idea of the people throughout history and of the operation of its ideological conversion for purposes of conquest, legitimization, and reproduction of power. A similar process to that of the ideological reconstruction of reality. The populist narrative is an anti-liberal narrative that depreciates the mediation of representative instances since it identifies these instances with the confiscation of the sovereign power of the people by the elites. The unifying power of social heterogeneity is guaranteed by a charismatic figure who interprets popular sentiment and is equivalent to the traditional figure of the monarch, who embodies and interprets the idea of people-nation. Populism (or neo populism) can be from the right or from the left, but both are affirmed by opposition to the liberal matrix of representative democracy.
Keywords: representative democracy; mass; people; empty signifier; sovereignism.
Para entender el populismo es necesario revisitar la idea de pueblo, base sobre la que se ancla este concepto. Partiendo de algunas consideraciones de Ernesto Laclau, en la obra La Razón Populista (Laclau, 2005), empiezo con una interesante y muy útil afirmación teórica suya: “una identidad popular tiende a funcionar como un significante vacío” (Laclau, 2005: 125). En otras palabras, la identidad popular no expresa una realidad sociológica concreta y, debido a su indeterminación, no puede alcanzar dignidad conceptual, ni convertirse en concepto o en “abstracción determinada” (della Volpe). ¿Qué es entonces? Laclau distingue entre la dimensión óntica de la idea de pueblo y su dimensión ontológica. La primera se refiere a las determinaciones concretas que ha adquirido a lo largo de la historia y su asunción ideológica por las diversas corrientes políticas. La segunda se refiere a su dimensión genérica: la pretensión de hacer universal lo que tiene una simple dimensión óntica, histórica, contingente, parcial, transformando la especie en género, la parte en todo, lo particular en universal. Esto es un proceso ideológico típico. Para esta operación es necesario extirpar, mediante hipóstasis, sus determinaciones concretas, pudiendo así, después, como “abstracción indeterminada”, usando el lenguaje del filósofo italiano Galvano della Volpe, aplicarse a cualquier determinación temporal concreta, a su realidad óntica. Pero para eso tendrá que funcionar precisamente como un “significante vacío” o una “abstracción indeterminada”.
1.
A lo largo de la historia, el pueblo (político) se ha identificado con los individuos que tenían derecho a pronunciarse sobre las causas de la comunidad (Grecia), con los que tenían derechos en virtud de su condición civil, los cives (Roma), con los citoyens actifs (en la época liberal), con la clase obrera (marxismo), con el campesinado (populistas rusos), con las masas (populismo de derecha y de izquierda en el período entre las dos guerras mundiales), con los votantes (democracia representativa), con el público (“democracia del público”), con los usuarios (democracia digital). Sin embargo, cuando estas identidades fueron asumidas por las formaciones políticas como pilares fundamentales de la sociedad, se convirtieron en totalidad social, identificándose con la sociedad en su conjunto, mientras eran solo una parte de la identidad popular. Por ejemplo, la plebs que se convierte en populus o los polítai que se convierten en demos. No es hegemonía, sino transfiguración totalitaria. Así, la palabra pueblo, en su dimensión ontológica, equívoca, genérica, vacía o indeterminada, cumple su función ideológica y política. Por ejemplo, identificando al pueblo con la nación se garantizaría esta conversión. La nación sería la otra cara del pueblo: pueblo-nación. Si miramos las constituciones de las democracias representativas, estas dos ideas aparecen como totalidad social según su génesis: la soberanía reside en el pueblo o, en las constituciones liberales, reside en la nación. Aunque parezcan iguales, son significativamente diferentes. En el marxismo, la clase agota la idea de pueblo en sí misma, ya que está en el centro del proceso histórico y determina su evolución hacia una sociedad sin distinciones de clase, homogénea y genérica, donde todos son iguales en una “cadena equivalencial” (Laclau) de identidades individuales. Lo que todavía es sólo in nuce, en la fase capitalista, se convierte, con la evolución histórica, en “todo el pueblo” (por ejemplo, en la URSS, en el “Estado de todo el pueblo”). Lo mismo ocurre con la raza, para los herederos de Gobineau. La igualdad se convierte en una identidad absoluta y, por lo tanto, vacía de contenido empírico.
2.
Es un proceso típicamente ideológico, en el cual se produce una hipóstasis y una inversión: lo particular se proyecta como universal (hipóstasis) y luego, a partir de esta nueva condición, se reformatea la realidad como su determinación (inversión). Este proceso fue muy bien visto y teorizado por Galvano della Volpe, en Logica come Scienza Positiva y en Rousseau y Marx (della Volpe, 1973, IV y V; y Cerroni, 1972: 115-149). Según esta perspectiva, la idea de pueblo no sería más que una “abstracción indeterminada”. Parte de una realidad concreta, pero se sublima a través de una hipóstasis, absorbiendo su contenido empírico para, después, devolverle una nueva dimensión funcional más amplia. Esto cumple una función ideológica, una especie de tautología con funciones reconstructivas. En esencia, es una reconstrucción ideológica de la realidad. La realidad se sublima para ser confirmada simbólicamente y legitimada con mayor densidad ideal. Por eso, Laclau también tiene razón cuando dice que el pueblo de los populistas es una construcción política (yo diría una reconstrucción ideológica) y no refleja una realidad sociológica. En cambio, es objeto de una “sobredeterminación” – que él llama “nominación” – desde un vértice que es representado por una individualidad, por un nombre aglutinador de la heterogeneidad societaria, por un intérprete de la realidad sublimada como pueblo. Es en este contexto que surge el carisma. La figura del monarca puede ser considerada como una imagen de la nueva figura carismática y “laica” propuesta por el populismo, pero con menos poderes ejecutivos.
3.
El vacío de la identidad popular, en su dimensión ontológica, es llenado por una individualidad, por un líder, por un nombre, generalmente carismático y oracular. El ejemplo clásico se encuentra en la concreta corporeidad del monarca y en su simbolismo ideal en relación con la nación-pueblo. Durante el período de entreguerras, en la era dorada de la propaganda, de la ideología y de las grandes narrativas político-ideológicas este proceso adquiere un nuevo tipo de protagonista que encarna y representa la idea de pueblo y de pueblo-nación: “il Duce”, “der Führer”, “el Caudillo”, “el Secretario-General”, “o Chefe” o “il Capo”. En la película encargada por Hitler a Leni Riefensthal, Triumph des Willens, de 1935, el Führer aparece como un deus ex machina que desciende sobre el escenario de Nürenberg (véase sobre todo el comienzo, los primeros quince minutos) para restablecer el orden y rescatar a la nación alemana, que había sido humillada en el Tratado de Versailles (1919), que siguió a la Gran Guerra. La raza aria, el partido nacionalsocialista y el Führer serían los protagonistas de la redención del pueblo y de la nación alemanes. Veáse también el artículo 11 (“Capo II: La struttura dello Stato”) de la Constitución de la República Social Italiana (la Repubblica di Salò): “Sono organi supremi della Nazione: il Popolo e il Duce della Repubblica”. Una relación directa entre pueblo y jefe carismático, “Il Duce”. La generalidad de la idea de pueblo necesita, por lógica interna, un principio que la materialice, identifique y unifique funcionalmente. En el nacionalsocialismo, existía incluso el “Führerprinzip”, como principio supremo que daba unidad a toda acción política, interpretado por un personaje concreto, Adolf Hitler. Un monarca (o un emperador) de un nuevo tipo. Glosando a Gramsci, si el partido es el nuevo príncipe, el líder carismático y oracular es el nuevo monarca. En la actualidad, el principio del populismo es la soberanía “directa” del pueblo-nación, en su forma más radical de soberanía, el nacional-populismo, interpretado también por una individualidad que concentra en sí misma un poder por encima de los partidos, precisamente porque está investida del poder de unificación orgánica, de materialización y de representación. Este poder supera las instancias de intermediación en nombre de un retorno permanente de la política a su fundamento primario, fuente de toda legitimidad: el pueblo. De hecho, los populistas no se identifican con la primacía constitucional de la nación, sino que anteponen la primacía del pueblo soberano. No es casualidad que este populismo sea soberanista y considere, a diferencia de los liberales, sus opositores (o incluso enemigos – véase la idea de Viktor Orbán de “democracia iliberal”), que la soberanía reside sobre todo en el pueblo, no en la nación, en el pueblo-nación, donde deriva su cualificación como nacional-populismo.
4.
La naturaleza del populismo está aquí. Para comprenderla es necesario explotar tanto las diversas formas que ha asumido históricamente la idea de pueblo, como el proceso de su propia sublimación o hipóstasis para que pueda cumplirse lo que es absolutamente necesario: garantizar la unidad de la heterogeneidad social, la identificación de todos con la totalidad social y una alta performatividad del propio discurso político. Para ello, es necesario distinguir el plano óntico de la idea de pueblo, su dimensión contingente, del plano ontológico, donde funciona como ideología totalizadora (interpretada por una individualidad concreta) desde la cual – y mediante un decisionismo reforzado (que hoy descansa en el presidencialismo del primer ministro) – se recrea o reformatea la realidad. Sólo así podrá imponerse en la competencia por el poder. El populismo ha desarrollado esta capacidad a expensas de la ineptitud política e ideológica de las formaciones políticas que se han alternado en la gestión del poder democrático. De hecho, la política actual parece estar confinada, por un lado, a las formaciones políticas de inspiración populista y, por otro, a la conocida izquierda de los nuevos derechos, que se centra en las causas del políticamente correcto, de los identitarios y de los revisionistas de amplio espectro. El centroizquierda ha preferido la asepsia política, la governance y la tecnogestión de los procesos sociales, en una progresiva “despolitización” de la gestión del poder. Los resultados son visibles para todos. Pero miremos más analíticamente la idea de populismo tal como se manifestó históricamente, pero también a través de su ancla histórica.
5.
El populismo nació en Rusia, como una tendencia política de izquierda, en la segunda mitad del siglo XIX, intentando dar voz al campesinado y a sus formas organizativas, como los muziks y la obshina. ¿Nombres? A. I. Herzen y N. G. Chernyshevski. Creían que Rusia no tenía que seguir el camino de la industrialización y que el progreso podía lograrse con la civilización rural, siempre y cuando se suprimieran las formas de dominación imperial y se crearan nuevas formas de organización social y de legitimidad política. Lo que pasó en Rusia, después del segundo “Tierra y Libertad” (1876), es bien conocido: la socialdemocracia rusa, la Gran Guerra y la Revolución de Octubre, con la instalación del sistema soviético en el poder. En realidad, más poder estatal que poder de los soviets, más poder del partido que poder del pueblo, del pueblo de los soviets (2). Sin embargo, hijos de la Gran Guerra y de la Revolución de Octubre, surgieron en Europa movimientos populares de derecha e izquierda con fuerte influencia política, unos en contra de la revolución soviética y sus efectos en la geografía política europea, otros a favor. Los partidos comunistas, como el portugués, el español o el italiano, nacieron en 1921. Estos partidos reivindicaban la soberanía del pueblo-nación frente a las élites en el poder, es decir, las élites liberales. De hecho, el populismo es antiliberal, ya sea de izquierda o de derecha, y siempre convierte una entidad política parcial (clase social, raza) en totalidad, bajo la designación genérica e ideológica de pueblo o pueblo-nación. Es una visión más organicista que representativa.
6.
¿Pero qué pueblo es este? ¿A qué pueblo dicen representar los populismos de izquierda o de derecha? Tiene razón François Furet, en su interesante libro El Pasado de una Ilusión (Furet, 1995), cuando señala que la Gran Guerra propició la entrada de las masas en la política. Ortega y Gasset, en La Rebelión de las Masas (Ortega y Gasset, 1930), va en la misma dirección (3). En general, los partidos radicales de derecha y de izquierda intentan organizar a las masas en torno a una idea, una utopia o gran narrativa movilizadora. Por ejemplo, la clase o la raza son las entidades ónticas que, en la narrativa, se vuelven entidades ontológicas bajo la forma pueblo-nación. Esta narrativa, esta conversión es populismo.
Hasta entonces, la mayoría de los regímenes que tenían la responsabilidad de gobernar Europa en la crisis eran regímenes liberales, monarquías constitucionales, regímenes de élites, donde sólo unos pocos tenían derecho a voto y aún menos llegaban al poder. En otras palabras, eran regímenes censitarios, mientras que la adopción del sufragio universal a lo largo del siglo XX se implantaba muy lentamente. Había sistemas representativos, pero no había todavía democracias representativas. Lo que estaba emergiendo políticamente era un nuevo constructo político, una nueva idea de pueblo (político). Se observa, pues, una transfiguración con fines estrictamente políticos – por ejemplo, la clase se convierte, con un pase de magia ideológico y político, en pueblo, fuente de legitimidad incontestable y que no admite alternativas legítimas. El comunismo, por ejemplo, no admite la dialéctica de la alternancia en el poder, pues la clase obrera se convierte en totalidad social. La clase obrera es portadora única de la verdad histórica, centro de la totalidad social (véase, por ejemplo, Lukács en Historia y Consciencia de Clase, de 1923, y Santos, 1977, pp. 227-242).
7.
Tras la Gran Guerra se inaugura una nueva era política, dando lugar a dos populismos, uno de derecha y otro de izquierda. Ambos hablaban en nombre del pueblo y en contra de las élites. Ambos eran antiliberales y proponían la devolución de la soberanía confiscada al pueblo. Pero, repito, ¿qué pueblo era este? A la izquierda, el pueblo de los oprimidos, “les damnés de la terre”, para usar la feliz expresión de Frantz Fanon sobre los colonizados, los obreros y los campesinos (según los comunistas y los populistas rusos). A la derecha, el pueblo-nación, al que las élites habían confiscado el poder soberano. Desde la perspectiva de la izquierda siempre existen dominadores, los capitalistas burgueses, que no son considerados pueblo. Aquí el pueblo se identifica con el conjunto de las clases subalternas (Gramsci), con los explotados y los oprimidos frente a los que detienen el poder político y económico.
8.
En general, el pueblo es un grupo indeterminado de individuos en un territorio, con fronteras determinadas que puede ser traducido por la palabra griega plêthos (plenitud, multitud, las masas), uno de los significados de demos. No obstante, en un sentido político, como constructo político, en el sentido de Ernesto Laclau, la noción se estrecha en su concreción óntica. En la antigua Grecia, fuera de la idea de pueblo, en su sentido político y óntico, como conjunto de ciudadanos (polítai), estaban las mujeres, los esclavos y los extranjeros, aunque la palabra griega demos tenga, en general, una amplia extensión semántica: país, comunidad, territorio, pueblo (en oposición a notables), multitud. El pueblo se identificaba con los miembros de la ciudad con derecho a pronunciarse sobre los asuntos comunes – en la Ekklêsía -, pero no se trataba de un concepto jurídico como, según algunas interpretaciones, ocurriría en Roma con el término “populus” (populus, plebs, multitudo – palabras utilizadas para designar a los miembros de la ciudad), sino de un conjunto de personas físicas. Lo que en Roma parece haber existido como populus era en verdad una colectividad de ciudadanos con derechos. Populus romano, cives romanos, los que tienen la ciudadanía romana, con sus respectivos derechos.
La cuestión que se plantea radica en saber si el populus es el conjunto de ciudadanos titulares individuales de derechos (según Jhering, por ejemplo) o es un ente colectivo abstracto (como el Estado, sujeto de derecho en sí mismo), titular de derechos y lugar de soberanía, superior a los ciudadanos naturales (como el Leviatán, de Hobbes). En cualquier caso, parece haber un avance real en la integración política del populus, entendido, en la mayoría de las interpretaciones, como el conjunto de ciudadanos titulares de derechos (la pluralidad de cives), independientemente de que también pueda ser considerado o interpretado como parte del sistema de poder romano (los magistrados, el Senado y el pueblo), ser un lugar de soberanía y ser identificado con la idea misma de Estado. Lo cierto es que la noción de pueblo, en el sentido político, sigue siendo muy fluctuante en el tiempo (he seguido aquí a Caravale & Cesa, 1996). En cualquier caso, se trata de un constructo político. Como dice Laclau: “Una primera decisión teórica es concebir al ‘pueblo’ como una categoría política y no como un dato de la estructura social”, un nuevo actor creado a partir de una pluralidad de elementos heterogéneos. “Este conjunto, como hemos visto, presupone una asimetría esencial entre la comunidad como un todo (el populus) y ‘los de abajo’ (la plebs)”. Se trata de una asimetría entre la totalidad de los que componen la sociedad y una parte suya, aunque sea una parte importante. “También hemos explicado”, sigue diciendo, “las razones por las cuales esta plebs es siempre una parcialidad que, sin embargo, se identifica a sí misma como la comunidad, como un todo”. Una conversión ilegítima que define la operación ideológica del populismo. “Es en esta contaminación entre la universalidad del populus y la parcialidad de la plebs donde descansa la peculiaridad del ‘pueblo’ como un actor histórico. La lógica de su construcción es lo que hemos denominado ‘razón populista’ ”(Laclau, 2005: 278).
Aquí tenemos una primera conclusión: el pueblo del populismo es una construcción ideológica y política. No corresponde a una entidad sociológica concreta y no asume y metaboliza el principio de la mayoría, como en el sistema representativo, ya que es una parte que se vuelve totalidad (véase Müller, 2023: 36-37). Como dice Laclau, el pueblo “no constituye ningún tipo de efecto ‘superestructural’ de alguna lógica infraestructural subyacente, sino que es el terreno primordial en la construcción de una subjetividad política” (2005: 280). Estamos ante una “sobredeterminación” (Althusser) – “nominación”, dice Laclau – en la constitución de la entidad y de la subjetividad pueblo (sobre la cadena de demandas equivalenciales). El pueblo populista es omnívoro pues se convierte en totalidad expresiva y performativa. De hecho, tal vez podamos decir, como Laclau, que es “un significante vacío”, en su realidad ontológica, que puede expresar diferentes realidades ónticas (la clase, la raza). También podríamos usar, como señalado anteriormente, el concepto de Galvano della Volpe: el pueblo como una “abstracción indeterminada”. Un típico proceso ideológico de hipóstasis y de inversión ideológica. La parte que se vuelve totalidad y que, desde su nueva condición, concibe a la realidad como su determinación. En realidad, una perspectiva totalitaria.
9.
En la época liberal, esta noción política de pueblo aún excluía a las mujeres y a aquellos que no podían demostrar cierto nivel de renta (4). En los movimientos de masas posteriores a la Gran Guerra, la idea de pueblo se vuelve más indiferenciada, pero en general se identifica, por un lado, con las masas y, por otro, con pueblo-nación. En las democracias representativas de matriz liberal, el pueblo (político) está integrado por todos los que votan (todos son ciudadanos activos), excluyendo únicamente a los menores de edad. En la “democracia del público” (Minc, 1995; Manin, 1996) el pueblo es el público, los espectadores, los oyentes y los lectores. En la digital, “democracia de ciudadanos” (Castells), el pueblo son los users. Pueblo, en su dimensión óntica, pero funcional y políticamente asumido con dimensión ontológica, como totalidad social – esto es populismo.
La noción política de pueblo ha cambiado a lo largo de la historia y es entendida de manera diferente en su contenido óntico por las diferentes ideologías políticas. Su correlato político es el propio Estado, la entidad que representa la totalidad de la sociedad. Luego, podría decirse que es su configuración como Estado la que identifica al pueblo como entidad política, como ciudadanía, derecho de ciudadanía, politeia. Pero la noción de pueblo como tal no puede ser considerada unívoca y, por lo tanto, concepto – es tan sólo un “significante vacío” o una “abstracción indeterminada”. Y, sin embargo, ha sido una idea genérica muy utilizada en el discurso político, de derecha e izquierda, que ha servido y sigue sirviendo para diversos fines ideológicos y políticos. Sirve, en particular, al populismo, donde la noción pueblo se convierte en totalidad ontológica, con toda su fuerza ideológica y performativa, aunque las élites estén (políticamente) fuera: el pueblo como plêthos, plenitud, multitud. Así, llegamos a una legitimidad algo totalizadora o incluso totalitaria, resultado de una operación ideológica, de una transfiguración.
10.
¿Qué es, entonces, el populismo, donde el pueblo es a la vez fuente de legitimidad y destinatario del discurso político? “El populismo es, simplemente, un modo de construir lo político”, dice Laclau (2005: 11). Una forma ideológica y performativa. En cualquier caso, el populismo propugna un retorno a la fuente primaria de legitimidad y promueve la crítica a las instancias de intermediación en la gestión del poder y a las élites que lo ejercen. Es un retorno a los orígenes a través de una transferencia de poder directa al soberano primario, ese pueblo, más a través de un proceso de personalización que por los mecanismos de medición plural del consenso y de representación política. Back to the basics. Su modelo ideal es, por lo tanto, más la democracia directa y orgánica que la democracia representativa, la relación directa entre el pueblo y su intérprete supremo. En ella, la soberanía reside en el pueblo y no, como quiere la mayoría de (o, teóricamente, todas) las constituciones liberales, en la nación. En realidad, lo que esta visión critica es la separación entre quienes ejercen el poder y la fuente original de su propia legitimidad, el pueblo, es decir, el dominio de las instancias de intermediación y de la burocracia (las dos caras de una misma moneda) y la práctica generalizada de su reproducción endogámica en el poder. La personalización populista, en cambio, toma clásicamente la forma de carisma en un jefe capaz de interpretar no sólo el sentimiento popular, sino también los designios de la historia, ya sea por inspiración de tipo oracular o por interpretación científica de la verdad histórica, como en el marxismo-leninismo, en el famoso ISTMAT. Como dice Laclau: “De esta manera casi imperceptible, la lógica de la equivalencia conduce a la singularidad, y esta a la identificación de la unidad del grupo con el nombre del líder. Estamos, hasta cierto punto, en una situación comparable a la del soberano de Hobbes”. “Sin embargo”, añade, “la unificación simbólica del grupo en torno a una individualidad (…) es inherente a la formación de un pueblo” (2005: 130; cursiva mía).
El pueblo, ontológicamente vacío, se materializa en la individualidad concreta de la persona del líder, como sucedía con la figura física del monarca. Esto ocurrió, como hemos visto, en la era de las grandes narrativas: fascismo, nacionalsocialismo, comunismo – Duce, Caudillo, Führer, Secretario-General. Un nuevo personaje que reinterpreta el papel del viejo monarca. La reedición “laica” de una antigua funcionalidad política de las monarquías, bajo un nuevo fundamento de legitimidad – el pueblo, que sustituye a Dios.
11.
Durante más de siete décadas, desde la segunda mitad del siglo XX, hemos sido testigos, primero, de un mundo bipolar (político, ideológico, estratégico y económico) y, luego, del aparente triunfo universal de la democracia representativa (el famoso fin de la historia, de Fukuyama), con la caída del sistema socialista, con excepción del sistema chino. Sin embargo, lo que comenzó a observarse en este lado occidental, con la crisis de representación y de los partidos de alternancia, fue la irrupción de tendencias nacional-populistas (sobre todo de derecha, pero también de izquierda, como podría ser el caso del partido PODEMOS, por ejemplo – véase Donofrio, 2017: 48-49) con fuerte capacidad de afirmación política institucional: en Estados Unidos, con la victoria y la presidencia de Donald Trump; en Brasil, con Bolsonaro; y en Europa, con Viktor Orbán, en Hungría, Jaroslaw Kaczynski, en Polonia, Marine Le Pen, en Francia, los Brexiters y el UKIP, en el Reino Unido, Giorgia Meloni, Matteo Salvini y Beppe Grillo, en Italia. Este último representa un nuevo tipo de populismo, el neopopulismo digital, que también rechaza la clásica dicotomía izquierda-derecha, como es típico del populismo (Barberis, 2020: 12, 35). El M5S inauguró, de modo muy radical, una nueva era del populismo con su pueblo en red (5). Pero este neopopulismo digital es también el que los spin doctors nacional-populistas, los “ingenieros del caos”(Da Empoli, 2023), practican y promocionan, en el silencio de la red, con el pueblo en red (Santos, 2018; y 2023). Una nueva materialidad óntica del pueblo: los users. “La rivoluzione digitale è la causa principale, benché non l’unica, del populismo odierno”, dice Mauro Barberis (2020: 137; e 156). O incluso más intensamente: “o populismo tradicional que desposa o algoritmo e dá à luz uma temível máquina política” (da Empoli, 2023: 39). Neopopulismo digital, el populismo contemporáneo
12.
Lo que ha cambiado en el populismo respecto a su forma original no sólo fue su base social, el pueblo, que dejó de ser rural, sino también la forma política adoptada por los movimientos nacional-populistas, que aceptaron la democracia representativa, pero la han cambiado internamente para instalar su sistema decisorio de poder (Vassallo y Vignati, 2023: 253), siempre hablando en nombre del pueblo, en contra de las élites. Esto es lo que Orbán llamó “la democracia iliberal”(6). En el caso de M5S, se trató de un neopopulismo donde el pueblo (político) se identificaba con los usuarios (militantes) de la Plataforma Digital Rousseau (creada por Gianroberto Casaleggio) y, en general, con el pueblo en red. La crítica de Rousseau a la representación política y su propuesta de comisarios, en el Contrato Social, es la inspiración para el nombre de la plataforma del M5S (pero la Plataforma Rousseau ya no es, desde 2021, la plataforma del M5S). En los demás casos, el fundamento es el soberanismo, como narrativa que aglutina al pueblo, lo que más se identifica con el sentimiento nacionalista profundo y que, en particular, en nombre de su seguridad física, laboral, moral y cultural, se manifiesta con fuerza contra la inmigración amenazante, contra el otro, contra el invasor, contra el extranjero. Este sentimiento unificador del pueblo parece haber prevalecido, por ejemplo, en el BREXIT, y ha sido la causa del éxito pasajero de Matteo Salvini en las elecciones europeas de 2019. Un pueblo que creció mucho con la ola gigante de fenómenos migratorios, producto de la crisis en el gran Medio Oriente (Irak y Siria). Sin embargo, está claro que, con este fenómeno, la crisis de representación y de los partidos de la alternancia, el crecimiento masivo de personas en la red y, en particular, de los usuarios de las redes sociales, algo ha cambiado profundamente y sigue cambiando. La idea de “democracia del público”, centrada en el imperio de los medios tradicionales (prensa, radio y televisión), en el broadcasting y en su poder de construcción de la opinión pública, donde el pueblo es el público, sigue manteniendo su validez. Sin embargo, también es cierto que, como dice Castells, con la red surge una nueva democracia de ciudadanos, centrada en lo que él llama “mass self-communication”, comunicación individual de masas (Castells, 2007), donde el pueblo, ahora, corresponde a los users. Pero se trata de una realidad muy expuesta también al peligro de un proceso de instrumentalización personalizada, impulsado por los “ingenieros del caos”, como se ha visto en los casos del BREXIT y de la candidatura de Donald Trump, donde Cambridge Analytica y su vicepresidente, Steve Bannon, han condicionado fuerte y exitosamente al electorado en ambos países (véase Cadwalladr y Graham-Harrison, 2018; y Santos, 2018). Esta nueva realidad permite la transición de la democracia representativa a la democracia deliberativa, sin duda, pero es también un terreno muy propicio para la intervención del nacional-populismo a través de una comunicación directa con los votantes individuales en este inmenso campo silencioso, o espacio intermedio, de la red. Es esta la tendencia que Giuliano da Empoli intenta explicar en su libro Les Ingenieurs du Chaos, de 2019 (Da Empoli, 2023; Santos, 2023). Y esto no es futurología, porque ya se ha logrado con éxito, por ejemplo, en Italia, en 2022, y sigue ocurriendo. Dicen Vassallo y Vignati que Giorgia Meloni y su staff han demostrado “una notevole capacità di creare e interpretare registi comunicativi diversi”, “riuscendo ad affermarsi nell’attuale sistema mediale ibrido, in cui convivono le logiche dei mass media digitali, dei broadcast e dei social” (2023: 191).
13.
En el territorio digital, los nuevos populistas de derecha están interviniendo con mayor éxito que las fuerzas políticas moderadas. Y este es el campo privilegiado para su trabajo político actual. La democracia clásica aún no ha evolucionado hacia la democracia deliberativa porque aquellos que deberían impulsarla están paralizados en una gestión aséptica y endogámica del poder y siguen mirando sobre todo a la “democracia del público” y a la política como management, como governance, como tecnogestión del poder. Además, la democracia deliberativa es la única que puede resolver los problemas estructurales del modelo clásico de democracia representativa, pero la derecha radical ha comprendido mejor la nueva configuración de las sociedades contemporáneas y sus temas fracturantes, incluidos los representados por la ideología y la política woke e identitária (7), manejando inteligentemente su discurso y adaptando los mecanismos centrales del sistema representativo a sus designios con gran eficiencia, cambiando sus equilibrios internos e introduciendo un creciente poder del ejecutivo y un decisionismo del primer ministro (Müller, 2023: 98; y Vassallo e Vignati, 2023: 253). El caso de Viktor Orbán es paradigmático, al igual que el caso de Cambridge Analytica. Pero también fue ejemplar la experiencia del M5S cuando, en menos de diez años (entre 2009 y 2018), logró elevar su intención de voto a casi el 33% del electorado italiano. A esto se le suma la experiencia de la LEGA de Matteo Salvini (“io sono un populista”, se puede leer en una de sus camisetas – Barberis, 2020: 12), quien, al explotar exhaustivamente el tema de la inmigración, alcanzó el apoyo de alrededor del 34% del electorado en las elecciones europeas de 2019: “la politica antimmigrazione del governo gialloblù è un caso da manuale di populismo digitale”, dice Mauro Barberis (2020: 120). Tampoco podemos olvidar el partido Fratelli d’Italia que, en cuatro años, ha pasado de poco más del 4% a alrededor del 26% y que, ahora, en el gobierno, sigue creciendo (promedio en cuatro encuestas de final de mayo: 29,5%), mientras que el centroizquierda y el centroderecha languidecen (por ejemplo, el mayor partido de la izquierda, el PD: 20,5%). Todos ellos, los populistas de derecha, son críticos de la matriz liberal del sistema, críticos radicales de la llamada confiscación del poder del pueblo por las élites y críticos de la ideología woke, de la ideología gender y de lo “políticamente correcto” de forma muy intensa y políticamente eficaz.
14.
Esta es la realidad que el centroizquierda y el centroderecha se empeñan en no ver, poniendo en peligro las conquistas de la civilización occidental que, entre avances y retrocesos, tardó más de dos siglos en madurar hasta alcanzar niveles de desarrollo civilizatorio verdaderamente notables. El populismo está a la orden del día y su oponente histórico es el liberalismo, mientras que su oponente coyuntural y político directo son la ideología y la política woke, lo “políticamente correcto” y la ideología gender. A efectos de combate, los populistas identifican estas tendencias instrumentalmente con la doctrina política del liberalismo, a pesar de las diferencias estructurales entre ellos. Los italianos tienen una expresión que se aplica efectivamente a esta trampa de la derecha radical: “fare di tutta l’erba un fascio”, metiendo todo en el mismo saco para hacer más eficaz y aceptable la lucha, conociendo muy bien la laxitud de los moderados, que se están dejando infiltrar o incluso dominar por la izquierda de los nuevos derechos. En mi opinión, esta es también una de las razones del éxito electoral del populismo de derecha, que está recuperando la idea de política, que los moderados (tanto de izquierda como de derecha) han convertido en puro management, governance, tecnogestión, gestión aséptica o apolítica del poder. La política, a día de hoy, parece haberse convertido en patrimonio exclusivo de los populistas y de la nueva izquierda fracturante, políticamente correcta, identitaria y revisionista. El centroizquierda y el centroderecha ya están pagando el precio de su ineptitud política e ideológica, y no veo señales que indiquen que algo va a cambiar.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Barberis, Mauro (2020). Populismo Digitale. Come internet sta uccidendo la democrazia. Milano: Chiarelettere.
Cadwalladr, C. y Graham-Harrison, E. (2018). “The Cambridge Analytica Files”, en The Guardian, 17.03.2018.
Caravale, M. y Cesa, C. (1996). “Popolo”. En Enciclopedia Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/popolo_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/ (acceso en 10.07.2023).
Castells, Manuel (2007). “Communication, Power and Counter-power in the Network Society”, en Revista Internacional de Comunicación, n. 1 (2007), pp. 238-266.
Cerroni, Umberto (1965). Le Origini del Socialismo in Russia. Roma: Riuniti.
Cerroni, Umberto (1972). Marx e il Diritto Moderno. Roma: Riuniti.
Da Empoli, Giuliano (2023). Os Engenheiros do Caos. Lisboa: Gradiva.
Della Volpe, Galvano (1973). Logica come Scienza Positiva, en Opere. Roma, Riuniti, IV, pp. 281-532.
Della Volpe, Galvano (1973). Rousseau e Marx e altri Saggi di Critica Materialistica, en Opere. Roma, Riuniti, V, pp. 191-380.
Donofrio, Andrea (2017). “De las Calles al Asalto al Cielo”, en ResPublica, 17/2017, pp. 19-50.
Furet, François (1995). Le Passé d’une Illusion: Essai sur l’idée communiste au XXème Siècle. Paris: Ediciones Robert Laffont/Calmann Lévy.
Laclau, Ernesto (2005). La Razón Populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Manin, Bernard (1996). Principes du Gouvernement Représentatif. Paris: Flammarion.
Minc, Alain (1995). L’Ivresse Démocratique. Paris: Gallimard.
Müller, Jan-Werner (2023). Cos’è il Populismo? 2.ª Edición. Milano: Egea.
Ortega y Gasset (1930). La Rebelión de las Masas. Ciudad de México: La Guillotina.
Santos, João (1977). “A Questão da Ideologia: de ‘A Ideologia Alemã’ aos ‘Cadernos do Cárcere’”, en Biblos, LIII, 1977, pp. 205-268.
Santos, João (2017). “Mudança de Paradigma: A emergência da rede na política. Os casos italiano e chinês”, en ResPublica, 17/2017, pp. 51-78.
Santos, João (2018). “O nacional-populismo já tem um ideólogo Steve Bannon”, en https://joaodealmeidasantos.com/2018/06/ (acceso en 10.07.2023).
Santos, João (2019). Homo Zappiens. O feitiço da televisão. Lisboa: Parsifal, 2.ª Edição.
Santos, João (2022). “PCP. O nome e a coisa”, I y II, en https://joaodealmeidasantos.com/2022/11/ (acceso en 10.07.2023).
Santos, João (2022a). “A Democracia Iliberal”, en https://joaodealmeidasantos.com/2022/12/ (acceso en 10.07.2023).
Santos, João (2022b). “Woke”, en https://joaodealmeidasantos.com/2022/12/ (acceso en 10.07.2023).
Santos, João (2023). “Os Novos ‘Spin Doctors’ e o Populismo Digital”, en https://joaodealmeidasantos.com/2023/06/27/artigo-108/ (acceso en 10.07.2023).
Vassalo, Salvatore e Vignati, Rinaldo (2023). Fratelli di Giorgia. Il partito della destra nazional-conservatrice. Bologna: Il Mulino.
NOTAS
(1). Investigador. Ex director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Lusófona de Lisboa (2012-2020) y exasesor político del Primer Ministro de Portugal (2005-2011). ORCID: 0000-0002-4102-6480. Email: joaodealmeidasantos@gmail.com. URL: www.joaodealmeidasantos.com Historia y comunicación social ISSN-e: 1988-3056. Monográfico. DOI: https://dx.doi.org/10.5209/hics.92237
Como citar: de Almeida Santos, J. (2023). El discurso populista. Historia y Comunicación Social 28(2), 259-266. (*)
(*) Este texto resultou da minha intervenção de abertura da Conferência Internacional sobre “Populismos, Democracia e Comunicação na História”, promovida pela Associação Espanhola de Investigação da Comunicação, com organização de seis Universidades espanholas e a participação de doze, em Janeiro (19) de 2023.
(2). Hay un interesante libro de Umberto Cerroni sobre Los orígenes del socialismo en Rusia que desarrolla este tema (Cerroni, 1965).
(3). Véase, para ambas referencias, mis artículos sobre el PCP (“PCP – El nombre y la cosa” I y II), en Santos, 2022.
(4). Solo la 19ª Enmienda de la Constitución estadounidense, de 1920, reconoce el derecho de voto a las mujeres; véase la distinción entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos en la Constitución francesa de 1791 (Art. 7, Sección II, Cap. I, Título III).
(5). Para una mejor comprensión de Movimento5Stelle véase mi ensayo en Santos, 2017, pp. 51-78.
(6). Léase mi artículo sobre “Democracia Iliberal”, de 11.07.2022 (Santos, 2022a).
(7). Léase mi ensayo “Woke”, 14/12/2022, sobre esta ideología, en Santos, 2022b.
JAS@01.2024

PS – O RECOMEÇO
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 01-2024
DUAS NOTAS prévias antes de entrar
no tema que hoje me proponho tratar.
1. No passado fim-de-semana ocorreu o 24.º Congresso do PS, que finalizou o processo eleitoral para os novos órgãos do partido, em particular, para o novo secretário-geral. E, a este respeito, não poderia deixar de referir a atitude do semanário “Expresso” referente aos dois momentos culminantes da vida recente do maior partido político português, que não só governou o nosso país nos últimos oito anos, mas que foi também o partido que durante mais tempo governou Portugal. E a atitude resume-se simplesmente nisto: nem em relação ao Congresso do passado fim-de-semana nem no dia em que se iniciaram as votações para a eleição do novo secretário-geral este semanário, que sai precisamente à sexta-feira, ou seja, nos dias em questão, dedicou uma chamada de primeira página a qualquer destes eventos, tendo apenas, e somente no jornal do dia 15.12, incluído uma curta referência às eleições internas deste partido no interior de um dos dois artigos de primeira página dedicados a António Costa (um sobre o caso em que o PM está envolvido judicialmente e o outro sobre a hipótese de AC vir a ser candidato às europeias). No mais recente número, de cinco de Janeiro, nenhuma referência em primeira página.
O assunto não merece grandes comentários tal é a evidência da posição deste semanário sobre os princípios fundamentais do código ético por que se rege, ou deveria reger, em particular sobre o princípio da “relevância”. O que se pode concluir é que a agenda do “Expresso” não coincide com a agenda do país. Quem o compra deverá ter isto em consideração.
2. Outro facto que merece um curto comentário é a notícia, saída no dia do congresso, de que António Costa está acusado de “prevaricação”, acusação fundada no facto de João Tiago Silveira ter sido escutado a dizer que teve uma reunião de quatro horas com o PM sobre o dossier relativo ao novo regime jurídico de urbanização e edificação, ou seja, reunião no âmbito do processo legislativo, em particular do processo de simplificação legislativa (onde JTS desempenha funções como coordenador do Simplex do licenciamento). Li o que a imprensa detalhadamente noticiou sobre o assunto e ficou para mim claro que o PM está acusado de perder horas a analisar importantes dossiers da governação, acusado de “prevaricar” ao intervir no processo legislativo, ou seja, acusado de fazer o seu trabalho. Estamos, pois, no bom caminho, o de procurar beneficiados especiais na produção de leis que, como se sabe, são gerais e abstractas, beneficiando por igual todos os que se encontrarem nas mesmas condições. Que eu saiba existe um tribunal habilitado a controlar a produção legislativa, a sua conformidade com a Constituição, tribunal a que o poder judiciário sempre pode recorrer, designadamente através de um pedido de fiscalização dos diplomas pela Procuradoria-Geral da República. E este é o Tribunal Constitucional. Criminalizar no âmbito do processo legislativo parece-me realmente excessivo e intrusivo relativamente a um poder que, também ele, desfruta da separação de poderes. Para tornar ainda mais estranho o processo, acontece que a norma em causa nem sequer ficou consignada no diploma entretanto promulgado, tendo a questão sido resolvida internamente durante o recorrente processo de ajustamento dos diplomas entre a Presidência da República e o Governo. Mas, em qualquer caso, “à justiça o que é da justiça”, tenha ela ou não os olhos vendados.
I.
Posto isto, o PS teve uma campanha eleitoral muito participada (cerca de 40 mil militantes) e conduzida com elevação, embora pouco centrada sobre o próprio partido, e fez um bom Congresso. No primeiro dia, o palco ficou reservado para o secretário-geral cessante, António Costa, que teve a oportunidade de fazer um balanço geral dos oitos anos da sua governação. Os dois dias seguintes ficaram reservados, como é natural, para o novo líder, Pedro Nuno Santos, que fez dois discursos: um, no sábado, e, o outro, no encerramento do Congresso. E confesso que fiquei bem impressionado por algo que em política tem grande importância: a coincidência entre o que o novo líder disse e o que pareceu ser a sua profunda convicção. Um discurso assertivo e sentido. Isto independentemente do conteúdo concreto das suas palavras. A imagem foi essa: convicção e valores. Depois, o clima de unidade interna por ele promovido: o elogio do antigo líder e do seu trabalho e o dos outros dois candidatos à liderança, que deram corpo à democracia e ao pluralismo internos. Uma colocação acima de eventuais clivagens que pudessem instalar-se e assomar publicamente, prejudicando a pré-campanha eleitoral para as legislativas, que já está em movimento. Depois, ainda, a preocupação em chamar ao discurso a política dos valores, recentrando o discurso naquilo que tem vindo a ser posto excessivamente em surdina. Ou seja, evidenciou a política dos valores em detrimento do habitual discurso sobre os grandes números da economia ou sobre os temas que todas as forças políticas assumem como eficaz retórica política para a conquista do consenso. Um discurso claramente orientado à esquerda, com enfoque no predomínio da ideia de comunidade sobre a ideia de singularidade. Do dever colectivo sobre o dever e a responsabilidade individuais. Mas também a clara assunção de que erros, sim, foram cometidos, e que é preciso corrigir, e de que muito há a fazer. Por exemplo, é necessário seleccionar os apoios em vez de os distribuir indiscriminadamente, para a todos contentar. Outro dos erros cometidos e apontados foi o de o PS não ter apresentado candidato nas últimas eleições presidenciais, erro que, como o actual secretário-geral disse, com ele não voltará a acontecer. Depois, uma clara demarcação temporal, geracional e de liderança do PS: o ciclo de António Costa encerra-se aqui e uma nova liderança inaugurará um novo tempo político para o PS. Fez bem, pois, PNS em deixar claro que algo muda efectivamente, apesar de não ser através de rupturas. Mas isso deverá começar logo no modo de gestão do próprio partido que aspira continuar a ser hegemónico na sociedade portuguesa. Não o disse, mas espera-se que o faça, porque o PS precisa de ser reanimado na sua vida quotidiana e na sua própria organização e mobilização. A participação dos militantes nas eleições internas foi também um bom sinal e o Congresso foi outro sinal positivo. E creio mesmo que o modo como estes dois processos decorreram indicia que este partido pode muito bem ser revitalizado desde que haja vontade de o fazer. Esta declaração de PNS sobre um novo tempo político não foi, quanto a mim, circunstancial, mas de fundo, anunciando um estilo muito diferente de fazer política. A redução da política a pura táctica (que evidenciou um claro virtuosismo de António Costa) acabou, tendo sobrevindo um líder para o qual o importante é fazer, sim, e num quadro de valores enfaticamente assumido e verbalizado. E à esquerda. Programaticamente talvez António Costa tenha sido pouco eficaz e o discurso enfático de PNS sobre o fazer talvez também queira dizer isso mesmo. Decidir e fazer – ideias sublinhadas com convicção e com alma. Assim me pareceu ser a toada do discurso.
II.
Quem tem lido os meus artigos sabe que apoiei e votei no actual secretário-geral do PS. E também conhece as observações que fui fazendo sobre o partido ao longo da campanha (e não só), em artigos que aqui publiquei. E designadamente sobre os candidatos e as moções em disputa. Parece-me, pois, coerente propor, agora, uma reflexão crítica, mas propositiva, sobre o essencial, sobre a filosofia inscrita nos dois discursos que PNS fez no Congresso. E depois de ter evidenciado o que me parece ter sido positivo, cabe-me agora evidenciar o que me parece que deva ser melhorado ou mesmo corrigido no discurso do líder.
III.
Há três grandes temas sobre os quais é necessário reflectir, porque eles marcam, de facto, uma fronteira: a relação entre a comunidade e o indivíduo singular, as fronteiras da intervenção do Estado nas dinâmicas da sociedade civil e o papel do mercado nesta dinâmica e no funcionamento da economia. Os partidos socialistas sempre se afirmaram por demarcação relativamente aos defensores do maximalismo estatista e da economia de plano e aos defensores da redução do papel do Estado às funções de soberania, Estado mínimo, ou pouco mais. Foi essa posição politicamente virtuosa que sempre os tornou partidos centrais nos sistemas de partidos. Partidos que interpretaram e metabolizaram virtuosamente os avanços da democracia representativa ao longo da sua história: na passagem do Estado como garantia de segurança dos indivíduos singulares ao Estado social, inaugurado por Bismarck, nos anos oitenta do século XIX, prosseguido pela República de Weimar, nos anos vinte do século XX, aprofundado pelo famoso Relatório Beveridge, nos anos quarenta, e, finalmente, assumido pela União Europeia como “modelo social europeu”. Os partidos socialistas foram os partidos que melhor souberam interpretar e representar a evolução do Estado ao longo da história, assumindo o modelo social europeu como a solução mais virtuosa e alternativa quer à visão conservadora e mais restritiva do papel do Estado quer à visão maximalista das suas funções. E é aqui que se situa a sua principal virtude política, porque ela concilia a liberdade individual, a garantia e a afirmação dos direitos e das responsabilidades e deveres dos indivíduos singulares em face das injunções ilegítimas e excessivas do Estado na sua esfera, com a responsabilidade imperativa da comunidade perante si própria e perante os membros que a integram.
IV.
A democracia funciona politicamente segundo o princípio “um homem, um voto”, mas integra também a própria ideia de comunidade com poder de “sobredeterminação”, em questões essenciais para o bom funcionamento do sistema, sobre a esfera individual. Um delicado equilíbrio que é necessário preservar. E este equilíbrio é essencialmente aos partidos socialistas que cabe garantir. Por isso, pareceu-me excessiva a ênfase dada no segundo discurso de PNS à ideia de comunidade. Um discurso onde a matriz e a toada apontavam para excesso de comunidade e para défice de reconhecimento da centralidade que os indivíduos singulares ocupam no sistema, acabando, esta centralidade, identificada, por defeito, com individualismo egoísta e utilitarista. O indivíduo singular e a responsabilidade individual pareceram ser, no seu discurso, engolidos pela ideia de comunidade, um sufoco comunitário pouco compatível com os tempos que vivemos e com o próprio princípio da liberdade e da responsabilidade. Responsabilidade que é, sim, da comunidade, mas igualmente do indivíduo. Não perguntes o que o teu país pode fazer por ti, mas sim pelo que tu podes fazer por ele, disse Kennedy no seu discurso inaugural. Uma frase feliz e muito clara. E se o PS se identifica com o pensamento e a prática do seu fundador Mário Soares, então também a liberdade e, claro, a responsabilidade individuais não devem ficar na penumbra do discurso do líder. Na verdade, o excesso de comunidade conduz a uma visão organicista do sistema social, menoriza a liberdade, a responsabilidade e o sentimento do dever. E é pouco amiga da democracia representativa. Tudo é remetido para a comunidade (veja-se o meu artigo “A Culpa é do Sistema”: https://wordpress.com/post/joaodealmeidasantos.com/12927). O bom e o mau são da comunidade e as pulsões e utopias que movem os indivíduos singulares e os levam a construir futuro com as suas próprias mãos acabam por ser menorizadas e desvalorizadas, levando à paralisia, ao imobilismo e à falta de ambição. E a culpa, por isso, será sempre do sistema, isto é, da comunidade. Lembro o que Ferdinand Toennies e Max Weber disseram da comunidade e da diferença em relação à ideia de sociedade: uma, a comunidade, exprime identidade de afectos, subjectiva, de tradição, enquanto a outra, a sociedade, exprime uma relação de associação, uma relação de interesses motivada racionalmente, expressa em objectivos partilhados e em relações formais. O excesso de comunidade e de Estado, para além de enfatizar a dimensão orgânica e compacta das relações sociais, é, afinal, irmão gémeo do Estado mínimo, que deslaça e reduz as relações sociais à sua dimensão atomística, exterior e puramente formais. Ambas radicalizam as relações sociais a um ponto tal que arrastam a democracia para os seus níveis extremos (Estado máximo – Estado mínimo). Max Weber, em Economia e Sociedade, identifica a comunidade com os dois tipos-ideais “affektuel” e “traditional”, reservando os outros dois para a ideia de “associação”: “wertrational” e “zweckrational” (“racional em relação ao fim” e “racional em relação ao valor” – Milano, Ed. Comunità, 1980: I, 38), os dois tipos-ideais que identificam o plano de associação voluntária e racional das sociedades modernas e as distingue das comunidades orgânicas (sobretudo o tipo-ideal “zweckrational”).
V.
O PS deve, pois, mover-se com delicadeza e sensibilidade neste território societário (que também incorpora, mas supera, a própria ideia de comunidade), não só para melhor identificar as características da sociedade moderna, mas também para evitar um deslize fatal para o maximalismo e para a identificação do liberalismo clássico, que derrubou o Ancien Régime e fundou as bases da civilização moderna, com o puro individualismo utilitarista, identificando-o, sem distinções, com o neoliberalismo de inspiração hayekiana. Trata-se, afinal, de reconhecer os traços distintivos da modernidade, mas também de rejeitar o organicismo político e social como modelo prioritário da acção política.
VI.
E é daqui, deste aparente deslize ideológico para uma visão comunitarista da sociedade moderna, que resulta também uma certa aversão ao funcionamento do mercado, para onde são remetidas todas as culpas e ao qual são imputadas as falhas do sistema social. Se as culpas são do sistema, no essencial elas são do mercado. Por exemplo, na política para a habitação, onde ao mercado de arrendamento (mas também de compra e venda) são apontadas as falhas de oferta da habitação, propondo-se em alternativa (ou, pelo menos, algo mais do que um complemento) uma política do Estado como senhorio. O parque público de habitação como solução para a falha do mercado, não a criação de condições para que o mercado (na verdade, a sociedade civil) funcione. Daqui resulta também uma fiscalidade excessiva por necessidade de financiar a carga gigantesca de responsabilidades que recaem sobre a comunidade em relação ao indivíduo singular, ao qual não são, no discurso, imputadas quaisquer responsabilidades no rumo e no desfecho da sua própria vida. O excesso de assistencialismo caritativo a que temos vindo a assistir também é filho desta visão. Mas também pode daqui resultar um excesso de intervenção do Estado na economia a ponto de se aproximar perigosamente da economia de plano, como tendencialmente se pode ler no discurso, de agora ou anterior, sobre o problema da habitação. Se a selectividade é um bom princípio, porque governar é escolher, também é verdade que o Estado não se pode substituir às dinâmicas da economia real, de resto hoje globalizada, e da sociedade civil, fazendo recair as decisões fundamentais na máquina administrativa do Estado, como acontecia – mais radicalmente, claro – na economia de plano. Por isso, torna-se decisivo o método a usar pelo Estado para intervir no rumo da economia. Na verdade, para os partidos socialistas e sociais-democratas a função do Estado sempre esteve tipificada mais como função de regulação do que como função de planeamento. Também o elogio da decisão é positivo desde que não se caia no decisionismo, pouco respeitador do equilíbrio de poderes. Com efeito, o decisionismo é hoje uma linha política estratégica dos partidos da direita radical, tendo, em Itália, Giorgia Meloni chegado a fazer aprovar, pelo Conselho de Ministros, um “desenho de lei constitucional” com a eleição directa do primeiro-ministro e a eleição dos dois ramos do parlamento no mesmo boletim de voto do candidato a Premier. O chamado “Premierato”. O triunfo e a consagração constitucional do decisionismo (do primeiro-ministro). Já uma vez tive ocasião de criticar, no meu segundo artigo como colunista do “Diário de Notícias”, nos anos oitenta, precisamente o decisionismo, naquele caso, o do secretário-geral do PSI, Bettino Craxi. Sabe-se como acabou não só o seu reinado, mas também o regime de bipartitismo imperfetto que vigorava na Itália de então. Por isso, mais uma vez, o PS deve orientar o seu discurso e a sua prática para aquele que sempre foi o seu virtuoso espaço político, evitando recaídas num território que há muito parece ter sido superado não só por ele, mas também pelos partidos que partilham da mesma mundividência. Lembro somente, a título de exemplo, o Congresso do SPD de Bad Godesberg, em 1959, ou a reforma do Labour, iniciada por Neil Kinnock em meados dos anos oitenta, e que já fora tentada por Hugh Gaitskell nos anos cinquenta.
VII.
Eu procuro, com este artigo, apenas chamar a atenção para a compreensão e a gestão de um território muito complexo e delicado e que pode dar origem a desvios políticos muito graves, que urge evitar. Bem sei que PNS assume a tradição ideal do PS e com forte convicção, mas o que me pareceu nos discursos foi um forte deslize discursivo para a sereia comunitária como fonte de justiça social, correndo o risco de se desviar das fronteiras daquela que é a matriz do PS e, em geral, dos partidos socialistas e sociais-democratas. Em qualquer caso, e como é natural, desejo-lhe os maiores sucessos, mas também a maior atenção às questões que aqui referi e à filosofia que as inspira. Que não é matéria de somenos. JAS@01-2024

A AUTOBIOGRAFIA DE UM JORNALISTA
Giovanni Valentini
“Il Romanzo del Giornalismo Italiano.
Cinquant’anni di informazione
e disinformazione
(Milano, La Nave di Teseo, 2023)
Por João de Almeida Santos

“Perfil de um Jornalista”. JAS. 01-2024
CONHECI-O pessoalmente há uns largos anos, quando fui convidado a fazer o Elogio de um poeta italiano, Corrado Calabrò (*), na cerimónia de entrega do Prémio Damião de Góis, pela Universidade Lusófona, em Junho de 2016. Giovanni Valentini estava presente e no fim da cerimónia tivemos uma breve conversa, onde tive oportunidade de o informar de que, na realidade, já o conhecia desde 1978, quando fui para Roma preparar, no Instituto Gramsci, uma tese de doutoramento sobre Antonio Gramsci. Um ano especial, aquele, pois foi o ano em que Aldo Moro foi raptado pelas Brigate Rosse, mas também o ano da eleição de Karol Wojtyla, como Papa Giovanni Paolo II. Foi também o ano em que la Repubblica deu um grande salto em frente em notoriedade e difusão devido, em parte, ao tratamento do caso Moro e até à célebre fotografia em que o prisioneiro das BR tinha este jornal nas suas mãos. Ficámos amigos e dialogamos regularmente sobre a situação italiana. E não só.
1.
O jornal la Repubblica tinha sido fundado por Eugenio Scalfari há dois anos, em 1976, e Valentini fora também um dos seus fundadores. E, por isso, quando nos encontrámos, contei-lhe o que de facto, acontecera: lia regularmente os seus artigos de primeira página no la Repubblica, jornal que adoptei não só como meio de informação, mas também como “estrutura de opinião”, a forma como os fundadores o conceberam, que integrava grandes nomes do jornalismo, da política e da cultura italiana. Aprendi muito com este jornal, que lia diariamente. Era um jornal que se situava na área do centro-esquerda, mas que cultivava uma rigorosa e brilhante independência em relação não só ao poder político, mas também aos outros poderes da sociedade italiana. Independência que era garantida sobretudo por duas personalidades de grande peso: Eugenio Scalfari, o Director, e Carlo Caracciolo, “il Principe Rosso”, presidente da “Società Editoriale la Repubblica”. Um grande jornal que deveria servir de modelo, ainda hoje, a toda a imprensa. Um jornal de massas, mas rigoroso, culto, intelectualmente competente e independente. Disputava a hegemonia com o Corriere della Sera, mais conservador, batendo-se taco-a-taco. Giovanni Valentini foi sempre, e é, um jornalista formado na “escola” do la Repubblica. E assume com orgulho essa sua identidade profissional, que tem em Eugenio Scalfari o seu mais ilustre representante.
2.
Valentini foi jornalista e colaborador do la Repubblica durante quarenta anos, tendo sido também seu vice-director, entre 1994 e 1998. Mas esta não foi uma mera relação profissional. Iniciara a carreira de jornalista por influência do pai, também ele jornalista e futuro director da “Gazzetta del Mezzogiorno”, onde também trabalhou, mas construiu-se como jornalista na “escola” do la Repubblica, esse grande jornal que exibia uma solidez intelectual, cultural e política pouco comum no próprio panorama editorial mundial. Uma solidez que tinha no grande Scalfari o seu selo de garantia (veja-se o texto infra sobre Scalfari). Valentini reconhece-se, neste livro, como discípulo do “Maestro” Scalfari, também conhecido no círculo jornalista como “Barbapapà” (do francês “barbe à papa”: “algodão doce”), talvez pelas suas abundantes barbas brancas (ou “a sale e pepe) e pela sua doce auctoritas, por todos reconhecida (veja as pág.s 294-296). Mas ao ler este livro, de 334 páginas e 20 capítulos, verifiquei uma curiosa coincidência. Com a saída de Scalfari, em 1996, Valentini iniciara (passiva e silenciosamente) o seu processo de afastamento interior do la Repubblica quando Ezio Mauro foi, em 1996, nomeado seu director, chegando a pôr o seu lugar à disposição, mas mantendo-se até 1998. A operação indiciava uma mudança no jornal, pois este fora durante vários anos director de La Stampa, o jornal do grupo Agnelli. Mudança que viria, de facto, a consolidar-se, com a entrega, em 2016, do jornal a outro director proveniente de La Stampa, Mario Calabrese, quebrando-se, definitivamente, do ponto de vista editorial, a lógica de independência do jornal, o seu estatuto de jornal de “editoria pura”, apesar de a sua estrutura proprietária já ter mudado há muito, com Carlo de Benedetti. A ruptura definitiva de Valentini viria a acontecer em 2015, por ocasião de um “golpe baixo” desferido por duas jornalistas do la Repubblica contra o presidente do Antitrust Pitruzzella, de quem Valentini era porta-voz, já no fim da direcção de Mauro. Em 2016, viria a tomar posse como director do jornal Mario Calabrese, a que se seguiria (depois de um ano de Carlo Verdelli como director) Maurizio Molinari, outro homem do La Stampa, consumando-se, assim, definitivamente, a operação de mudança de orientação do velho la Repubblica (veja-se os capítulos 10 e 11, pág.s 165-198). Também Scalfari viria a distanciar-se do jornal, mantendo apenas a relação através da publicação de artigos de cultura. Pois bem, também eu por essa altura, no fim do mandato de Ezio Mauro, tinha deixado de ler, com a regularidade com que até então o fazia, o la Repubblica, por já não reconhecer nele o que me atraíra, quando em 1978 cheguei a Itália, e que vira confirmado não só durante os dez anos em que lá vivi, mas ainda por muitos mais anos, já em Portugal, tendo continuado a segui-lo diariamente, primeiro, em papel, e, depois, na internet. Até que chegou a desilusão e passei a ler com maior regularidade o jornal Il Fatto Quotidiano, fundado em 2009 pelo excelente jornalista Antonio Padellaro (lia-o no Corriere della Sera), que foi seu director até 2015, sendo a partir de então dirigido pelo imparável e turbulento Marco Travaglio. Trata-se de um jornal independente que não recebe financiamentos estatais nem é, creio, de propriedade de um grupo financeiro ou económico. Um bom jornal, na minha opinião. Valentini é seu colaborador regular, com a sua já clássica rubrica “Il Sabato del Villlagio”, título que homenageia o grande poeta italiano Giacomo Leopardi (“Questo di sette è il più gradito giorno, / Pien di speme e di gioa: / Diman tristezza e noia…” – estrofe de “Il Sabato del Villaggio”). A minha reacção ao que estava acontecendo ao “meu” jornal, a esta mudança profunda no seu perfil, foi quase de indignação pelo que estavam fazendo a uma jóia do jornalismo mundial. Pelo vistos, havia uma minha real sintonia com dois dos seus fundadores, Scalfari e Valentini: a identidade do la Repubblica fora radicalmente alterada… para pior. Tornara-se um “holograma” do que fora (pág. 302). Fiquei a conhecer melhor as razões da mudança ao ler este livro de Giovanni Valentini.
3.
O livro conta a história de cinquenta anos de imprensa em Itália, vistos por um dos seus principais protagonistas. Com efeito, ele não só foi um dos fundadores do la Repubblica, como foi também durante sete anos director da revista L’Espresso (1984-1991) e, durante dois, director do L’Europeo (1977-1979), entre outras funções e cargos de significativa relevância. O jornalismo italiano visto por dentro, em particular nas suas relações com a estrutura proprietária, mas também nas suas complexas e difíceis dinâmicas internas. Mas sobretudo visto a partir de uma visão bem precisa, assumida e argumentada do que é e deve ser o jornalismo. A posição de Valentini é clara, como resulta de todo o livro: a boa imprensa é aquela que é gerida por editores puros, não aquela que fica sujeita à estratégia de financeiros ou de grupos económicos que a vêem exclusivamente com a lógica do lucro e do poder, totalmente independente da sua função social e política, ao serviço da cidadania. Esta sua posição está claramente formulada no livro: “Um vaudeville de directores, entre Torino e Roma, que marcou o jornal fundado por Scalfari” (…), e ancorado num editor puro, “com o selo de fábrica da maior indústria privada italiana: o editor mais ‘impuro’, que mais não é possível” (pág. 181). E chega a propor um “Statuto dell’Editoria” “para limitar as quotas das participações financeiras nas empresas editoriais. E, ao mesmo tempo, reservar os financiamentos públicos para as cooperativas de jornalistas”, evitando que “editores impuros” possam aceder aos financiamentos estatais (pág. 315), pela óbvia razão de que eles não cumprem o código ético a que funcionalmente estariam obrigados – o de garantirem um rigoroso serviço público em que a informação deve instruir o cidadão nas matérias em que ele deve tomar as suas decisões, seja na política, na economia ou na cultura. E este é um ponto crítico do jornalismo actual até porque “salvo raras excepções, doravante o chamado ‘editor puro’ é uma espécie em vias de extinção, que deveria ser protegida como o panda do Wwf” (pág. 313).
4.
A última parte do livro, depois de uma descrição da referência proprietária dos principais jornais italianos, à excepção do CdS (la Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX – Gruppo Gedi; Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Il Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di Puglia, di Lecce e Bari – propriedade do construtor civil Francesco Gaetano Caltagirone; Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione – do Gruppo Monti-Riffeser; Il Giornale – da família Berlusconi; Libero, Il Tempo – do empresário da saúde e parlamentar de centro-direita Antonio Angelucci), é dedicada a uma reflexão, totalmente partilhável, sobre a nova condição do jornalismo na era da Internet e sobre as tendências que determinam uma nova dinâmica da informação, em função da emergência das redes sociais, do algoritmo e, em geral, da inteligência artificial. Porque, hoje, tudo isto interfere na função jornalística. E a verdade é que, como diz Valentini, “hoje, no essencial, não se faz informação para informar o cidadão, mas sim para defender interesses estranhos aos que deveriam ser estritamente editoriais. Para fazer negócios, obter favores, concessões ou licenças. E quanto mais se reforçarem as concentrações, neste campo, menos se salvaguardam o conhecimento, o debate, a liberdade de opinião e, portanto, a democracia” (pág. 316). Na verdade, enquanto a procura de informação cresce, tem vindo a diminuir a oferta, ou seja, está a diminuir o número dos que estão em condições de a produzir de forma profissional, de conjugar informação e conhecimento, daqueles que, em suma, Valentini designa por pós-jornalistas. Ofício absolutamente necessário, sem dúvida, mas que deve adaptar-se às exigências de tempos que estão cada vez mais em forte aceleração histórica e tecnológica: “uma nova figura profissional mais evoluída e complexa do que a tradicional”, é o que os tempos estão a exigir (pág. 307).
5.
Trata-se de um livro muito rico de informações sobre a imprensa nos últimos 50 anos em Itália. Mas, no meio de uma enorme massa de informações, é uma narrativa com um claro fio condutor: a vida profissional de Giovanni Valentini contada através do desempenho, do complexo ambiente em que teve de se mover e das decisões que teve de tomar, tudo filtrado por uma ideia clara a que a sua vida profissional deveria obedecer – a que construiu ao longo da sua experiência, em primeiro lugar, e sobretudo, como membro da “escola” do La Repubblica, dirigida com sabedoria pelo “Maestro” Scalfari, e, em segundo lugar, como director de dois importantes semanários italianos, L’Europeo, mas sobretudo, L’Espresso, palco especial de onde pôde acompanhar, por dentro, como activo interveniente, no plano das suas funções profissionais, a vida política, económica e social de Itália. Uma ideia que entroncava numa ética editorial que sempre defendeu e que quis cumprir rigorosamente, em nome da cidadania. “Editoria pura” e rigoroso cumprimento do código ético do jornalismo. Um desempenho independente de interesses que pudessem pôr em causa o exercício de informar e de descodificar o que de importante ia acontecendo nesse grande e belo país que é a Itália. Giovanni Valentini é autor de vários livros sobre a política e a informação em Itália, tendo-lhe também sido atribuído o Prémio Saint-Vincent do Jornalismo, em 2000. É também autor de três belos romances. Um dia escreverei sobre eles. JAS@01-2024.
NOTA
- Em português, deste autor: Corrado Calabrò, A Penúria de ti enche-me a alma. Poesia 1960-2012. Edição bilingue (Lisboa, 2014). Edição bilingue, tradução e pós-fácio de Giulia Lanciani. Prefácio de Vasco Graça Moura.
A propósito, e como útil complemento,
reproduzo o que aqui escrevi, em Julho
de 2022, sobre Eugenio Scalfari,
por ocasião da sua partida.
“Partiu Eugénio Scalfari. Com 98 anos, o grande, enorme jornalista deixou-nos, ontem. E, nesta ocasião, senti o dever de escrever algumas linhas sobre ele e o seu jornal, o la Repubblica, que leio praticamente desde que foi, em 1976, fundado. Comecei em 1978, altura em que me mudei para Roma, e ainda o leio regularmente. Ainda por cima, fiquei e sou amigo de um dos jornalistas que o fundaram e que me habituei a ler logo nos primeiros tempos, Giovanni Valentini, que foi seu vice-director e, mais tarde, director de L’Espresso. Dizem-me que o nome do jornal foi um tributo ao jornal português República. E foi, mas já não é tanto, um grande jornal, que chegou a ultrapassar o Corriere della Sera. No início dos anos ’90, obtive, e concretizei, autorização do la Repubblica para reproduzir, a título gratuito, artigos e até vinhetas de autores famosos em publicações dirigidas por mim. E aprendi muito na leitura deste jornal. Lá escreviam os melhores jornalistas e intelectuais italianos. Havia como que uma identificação ontológica do jornal com Scalfari, sendo impossível dissociá-los. E o mesmo se verificava com o seu editor, Carlo Caracciolo, ‘il principe rosso’ e ‘editor puro’, nas relações que sempre manteve com Scalfari. Como diz Giovanni Valentini, sem esta profunda cumplicidade de vida e de projecto entre ambos la Repubblica não teria acontecido. Essa marca manteve-se sempre, mesmo quando Scalfari já não era o director e se distanciara um pouco do jornal. Era um intelectual prestigiado, respeitado e muito influente. A sua ‘travagliata’ vida deu-lhe uma densidade que se notava em tudo o que fazia.
Um Ensaio de Scalfari sobre a Burguesia
Num livro que publiquei em 1998, Paradoxos da Democracia (Lisboa, Fenda, 1998, 175-179), retomei, no subcapítulo ‘Middle class, uma democracia sem futuro?’, um estimulante ensaio de Scalfari, ‘Meditações sobre o declínio da burguesia’, publicado na Revista MicroMega, 4/1994. Em poucas palavras, a sua ideia era a de que a burguesia estava a perder (ou já tinha mesmo perdido) o seu papel originário de classe geral, regressando a uma visão corporativa da sociedade e pretendendo ela própria interpretar directamente o poder, o que antes não acontecia. É claro que Scalfari tinha em mente o recente caso de Berlusconi e a comparação com os Agnelli – que nunca pretenderam gerir, eles, directamente o Estado – era inevitável. A ideia era a de que a universalidade do Estado não podia ser interpretada por uma concreta classe (ainda que obtivesse mandato por via electiva) e, por isso, havia que favorecer a representação por parte de instâncias e de protagonistas não ligados directamente ao interesse e ao poder corporativo. De resto, foi assim que nasceu e se consolidou (dos contratualistas a Hegel) o Estado e o direito modernos. A emergência política da middle class viria a favorecer um movimento social e politicamente fragmentário favorável à reconstrução de uma ‘burguesia de classe’ já não identificada com o chamado ‘interesse geral’ que a burguesia tradicional representou e a seu modo promoveu. Assistiu-se, assim, ao regresso do classismo burguês e à tentativa de acesso directo do grande capital ao poder de Estado. É o caso concreto do acesso ao poder de Berlusconi. Uma bela reflexão, a de Scalfari, a que um dia voltarei.
Uma “Estrutura de Opinião”
O seu la Repubblica era um jornal culto e sofisticado que conseguia ao mesmo tempo ter uma enorme difusão nacional, uma difusão média diária de cerca de 730 mil exemplares, no início dos anos ’90, tendo atingido picos superiores a um milhão. E tudo isto era obra sua, enquanto líder deste excelente projecto jornalístico. Um projecto que Scalfari definia como uma “estrutura de opinião”, um autêntico “jornal de opinião de massas” (Valentini). Em suma, um projecto de centro-esquerda, que não era um quase-partido, como muitos diziam, mas, sim, quase uma ‘universidade popular’ tal era a sua sofisticação, a diversidade de áreas em que intervinha com competência reconhecida e a enorme dimensão de massas que atingiu.
Obrigado, Eugenio Scalfari
Hoje vivemos tempos em que o modelo deste jornal de Scalfari está em declínio, não só pelo triunfo incontestado do audiovisual, contra a cultura de natureza mais analítica, e pelo dilúvio tablóide que inunda a maior parte dos meios de comunicação, mas também pelo desenvolvimento do digital, da rede e, em particular, pelo aparecimento das redes sociais e da revolução que elas estão a introduzir na opinião pública. Scalfari pertencia a outro tempo e julgo poder caracterizá-lo analogicamente como tempo das Luzes. Um tempo que o seu projecto tão bem soube interpretar. E digo-o com conhecimento de causa e com alguma nostalgia, pois o que agora estamos a viver continua a ser, sim, um tempo de luzes, mas mais o das fugazes luzes da ribalta.”

FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA (IV)
Por João de Almeida Santos

“O Desejo”, 2022. JAS. 12-2023
I.
ALGUÉM, UM DIA, SUGERIU ao poeta que ele estaria a afastar-se da musa, ao que ele respondeu que não, pois sem musa não haveria poeta. Seria como afastar-se de si próprio. Porque ele nasceu de uma sua visita e, a partir daí, ela passou a fazer parte do seu mundo, suscitando-lhe sentimentos, expressos em palavras, que resultam da dialéctica da (sua) presença-ausência ou do silêncio-diálogo entre ambos, poeta e musa. É um universo ondulante onde o poeta se move ao sabor das suas pulsões reprimidas no confronto com um real agreste, opaco, crespo. Mas um universo iluminado pela figura da musa, que está sempre em transfiguração controlada pela sua fantasia. A perda da musa seria uma perda fatal. E até os fantasmas iriam para outros lugares à procura de alimento espiritual.
II.
A poesia mata saudades. Ela chama a si o ausente e dá voz ao silêncio. A felicidade possível de um poeta em tensão. Os olhos dela pode vê-los com os sentidos interiores ou, felizardo, através do pincel do pintor. Epifania. Mas sempre se trata de um “delicioso pungir de acerbo espinho”, diria um amigo e companheiro de viagem poética, citando o Garrett. Sim, o prazer de um fruto amargo. Sofre, o poeta, no canto feliz da dor estilizada. Tem saudades, ele, mas, ao cantá-las, converte a dor da ausência em alegre ritual celebrativo de catedral. Assim parece ser. Longe desse real hostil, transfigura-o e dá-lhe nova e ritualizada vida. E assim o supera, o conserva e o nega (como perecível contingência). Uma dialéctica reconstrutiva para uma alegria dolorosa.
III.
Mas “não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram”, lembrou-me, um dia, uma amiga. Pois é. Tinha razão o Bernardo Soares. Saudades do que só aconteceu em sonho ou simplesmente como desejo. Essas é que são saudades dolorosas. Do que foi não é tão doloroso porque, de algum modo, foi, aconteceu. Mas do desejo que se ficou pelo desejo ou do sonho de que se acordou já noutro lugar qualquer, ah, isso sim, é dor. Porque o desejo desejado ou o sonho sonhado são mais intensos do que o desejo ou o sonho cumpridos, em parte. É essa intensidade interior que torna a saudade mais dolorosa. Tudo se passa nos sentidos interiores, que são mais intensos do que as relações sensoriais com o exterior. E mais duradouros. Porque persistem como desejo. Era este o mundo do Bernardo Soares. O mundo, para ele, era uma galeria de arte que ele desenhava e reconstruía com a sua imaginação. No real não gostava de tocar sequer com as pontas dos dedos. Por isso, a dor para ele não tinha uma dimensão sensorial, corpórea. Os rostos eram, afinal, retratos que ele apreciava na galeria da vida. E não se ajeitava com a poesia. Imaginemos, então, o que não seria se se ajeitasse… São dolorosas, essas saudades… porque isso nunca aconteceu a não ser em sonho ou como desejo. É como reencontrar-se no tempo perdido. Uma impossibilidade, a não ser em poesia. O desejo agiganta a vontade, mas o resultado é nada, só restando a fantasia. O Cioran falava de uma poética do fracasso. A celebração dorida do irrealizado, do falhado. As coisas que nunca foram são mais reais do que as que foram. Porque aquelas nunca morrem, persistem como desejo (sempre) inacabado. É a poética da perda: a elevação da perda a ritual poético no processo de redenção pela arte.
IV.
Sim, o Bernardo Soares é frequente companheiro de infortúnio. Se não posso ou devo tocar a realidade sequer com a ponta dos dedos, então olho para ela como para uma galeria de arte. Ele, que nem filósofo se considerava, não se ajeitava lá muito com a poesia, mas a verdade é que tinha irmãos que eram excelentes poetas. Mas este, o que escreve, felizmente lá se vai ajeitando e assim pode salvar-se do infortúnio. Ainda por cima vive irmanado com um pintor que o vai confortando e animando com riscos e cores que vão dando mais vida e cor às suas palavras. E curando o seu infortúnio. Perdido, perdido, anda sempre e, por isso, tem que se reinventar para se ir reencontrando noutros territórios que não naquele em que pecou e se condenou. Gosta de voar sobre pétalas de rosa. E de sentir o perfume da rosa com a alma, uma dádiva do Olimpo. O poeta é passageiro permanente nos voos da rosa. As pétalas são as suas asas. E o perfume o combustível. O seu jardim encantado é o seu aeroporto espiritual. E gosta dele porque gosta cada vez mais de viajar deste modo. Se o destino leva o poeta por aí, só lhe resta cantar. Voar. E melhor será se voar em direcção ao infinito. Parte de um lugar concreto, o do desassossego, e eleva-se para falar com os deuses, pedindo-lhes a bênção. Neste caso, a Athena. Salvação pela arte. Pela beleza.
V.
O “Voo da Rosa”, um quadro do poeta-pintor, é “dança da solidão”, disse dele uma habitual frequentadora dos meus poemas. Sim, “dança da solidão”. E o poeta está condenado a executá-la, a dançar até cair exausto. Karma. Na dança, o poeta vagabundo passeia-se por outras almas, que assim alimenta e que o ajudam a reencontrar-se. Na partilha reencontra-se. Cumplicidade poética. Ele é, sim, um ser perdido, em constante viagem, depois da visita da musa, que, implacável, logo o abandonou. Restou-lhe o estro, a marca da sua passagem e o estímulo para a procurar constantemente. A poesia é filha da musa e da dor. Do silêncio e da ausência. Depois chegam os fantasmas, que se alimentam dos beijos que ele sopra ao vento que passa para que cheguem até ela. À musa. Um destino marcado, este, o do poeta. Que se cumpre no canto.
VI.
E há sempre saudades. Cantá-las, as saudades, ajuda a metabolizá-las e a conservá-las como feliz melancolia. Sim, ficam as saudades quando o essencial perdura no tempo. Senti-las é uma coisa, cantá-las é outra coisa. É dar um passo em frente. Este passo depende apenas de quem as sente e, de certo modo, significa ritualizá-las, revivendo o passado sob outra forma mais livre, mais estilizada. É já um tempo próprio, independente do contexto em que se viveu. Mesmo na pintura, ainda que ela possa evocar, com minúcia, algum realismo e sem fingimento, nos traços, esse passado que o poeta canta.
VII.
Um dia, uma persistente leitora e habitual comentadora dos meus poemas falou da poesia como “música crepuscular”. Bela definição. Ao cair ou ao nascer do dia levanta-se o poema para o recordar e o (re)viver, o dia, como sonho a olhos abertos e como fantasia. A poesia é toda ela crepuscular, porque acontece sempre num intervalo entre o que foi e o que está para ser, onde as formas mais parecem sombras indefinidas que solicitam a fantasia para as identificar. É como um ambiente de neblina a que é preciso acrescentar luminosidade e definição. Ou traz consigo ainda as figuras do sonho sonhado ou ainda esbatidas as formas que encontrará à luz do sol. Mas a definição acrescentada nunca provém do exterior, ela resulta da música interior que anima o poeta e do seu cinzel poético. O crepúsculo é o ambiente favorável da poesia porque está entre o real e a fantasia. Convida a desenhar com maior nitidez o que se apresenta um pouco sombrio. O poeta encontra aqui a posição privilegiada para poetar, entre a vida e o sonho, entre a realidade e a imaginação. Neste intervalo nem é uma coisa nem a outra, sendo, ao mesmo tempo, as duas. É aqui que a linguagem poética melhor se exprime.
VIII.
O destino do poeta é chorar em palavras. Chovem palavras do seu melancólico olhar. Mas não espera que lhe enxuguem essas lágrimas. Ele sente prazer nelas. Chorando assim, redime-se. Nada mais espera. Um dia. o pintor embelezou o choro com uma rosa em voo. E a cor da rosa era ditada exclusivamente pela beleza a que o poeta aspirava no seu voo redentor… voando sobre pétalas deitava palavras ao vento sobre o vale da vida.
IX.
E quando perguntam ao poeta como aconteceu esse encontro primordial com a musa, ele responde sempre: tudo começou quando uma videira cardinal trepou pela pernada acima e fez o loureiro do seu jardim encantado dar uvas. O poeta registou o momento, recorrendo a fragmentos de memória afectiva. Aconteceu ali uma transfiguração, um encontro sensual e germinal. Claro, seria melhor perguntar-lhe se a transfiguração é também evocação e invocação de algo bem concreto. Mas ele certamente responderia em verso, dizendo que o poeta é um fingidor que até finge o que deveras sente. E ficaríamos ali nesse intervalo entre a realidade e a ficção. De resto, nem a poesia tem como função descrever o que acontece no real, porque ela é tão-só um expressivo, estilizado e sofisticado grito de alma. É um veículo onde o poeta viaja sem destino. E viagem é libertação.
X.
Num quadro que pintei, “Epifania”, tudo se passou como se de uma aparição se tratasse: a aparição de um anjo em forma de mulher, mas numa visão sensorial interior. Sim, esta aparição terá uma sua exterioridade, algo que impressionou sensorialmente o poeta, que o tocou fisicamente, mas, depois de esculpida pelo tempo no terreno da memória, ganhou uma nova dimensão. É aí que a aparição se torna ambígua, ente anjo e mulher, provocando alguma indecisão no poeta e até no pintor, quando este lhe propôs uma figura de mulher (também ela um pouco anjo e um pouco mulher). É nesta nebulosidade sensorial que reside o mistério, mas é também ela que alimenta o poeta. Sim, o problema reside na palavra “ver”. Ver com os olhos ou ver com a alma? Ou ver com ambos? É aqui, nesta tentativa simbiótica que o poeta se move, entre os olhos e a alma, entre a dimensão sensorial e os sentidos internos. Sim, é aqui que a poesia se move. Há sempre o perigo de uma idealização extrema e de uma excessiva desrealização. Um perigo de que o poeta se dá conta e do qual tenta sempre fugir. Porquê? Porque sempre sente que tem de dar fisicidade, materialidade ao poema. E não só através da sua musicalidade, altamente performativa, mas também na semântica, na alusão, ainda que equívoca e até perigosa, à realidade.
XI.
A poesia é sedução, fantasia, desejo, engano, realidade…, dizia-me um amigo depois de ter lido um poema meu. Sim, poesia é tudo isso porque é movida pela paixão e pela dor… reinventadas. Quanto maior for a perda ou a dor, maior será a recriação. Reconstrói o que perdeu, o poeta. E reinventa diálogos e seduções como se tivesse perante si esse ser que se ausentou e que lhe fala, o interpela, com silêncio reiterado. Ou até como castigo. E o poeta, sentindo-se punido, procura resgatar-se com a perfeição. Com a sedução estética como forma de reapropriação do que perdeu. Assim se redime e reencontra. A poesia esculpe com um cinzel afectivo. Tal como o tempo no fluxo da memória. E eleva e faz perdurar o que estaria condenado a esgotar-se, a cair no poço fundo do esquecimento. E, depois, o pintor, solidário, até chega a dar forma ao rosto dessa paixão cantada, completando a recriação e (quase) suplantando a realidade invocada poeticamente.
XII.
“As palavras do poeta dançam-me na alma”… Que mais pode querer um poeta? Ver os seus versos dançar na alma de quem os frui é a maior das recompensas para quem arrisca a sua intimidade num poema ou numa pintura. A poesia requer alguma sintonia interior para ser compreendida, porque ela própria é experiência interior convertida em palavras. Quando ela dança na alma é porque foi compreendida e partilhada. Ela não alude a algo exterior e palpável. Quanto à rima, todos os poemas procuram funcionar com musicalidade, ritmo, toada. Tempos houve em que a poesia era em rima interpolada. Hoje responde a outras exigências melódicas e rimáticas um pouco mais delicadas. Não fica tão presa a uma toada regular e repetida. É mais subtil e fala mais à alma do que aos sentidos. A melodia é mais espiritual.
XIII.
A poesia é libertação. Uma forma muito especial de libertação de quem se sente refém. A experiência do amor-paixão é densa e acontece para além das fronteiras da razão, por isso captura-nos e, de certo modo, aprisiona-nos. É uma pulsão profunda que tem um lado extraordinário e o seu reverso. A poesia não é uma tentativa de compreensão. É uma acção libertadora que lhe retira peso, elevando o amante à esfera da sensibilidade estilizada. É a verbalização de uma “opressão” interior que equivale a libertação. Coisa parecida com as livres associações da psicanálise. É remédio para essa “maladie de l’âme”, “Remedia Amoris” (Ovídio). Mas torna-se também mais do que isso porque é movimento em direção à beleza, que é a própria condição da cura. Quanto mais poder de sedução tiver mais eficaz será no processo de libertação. Não estamos, claro, na esfera da pragmática, porque o que estimula o poeta é uma exigência interior, a necessidade de lhe dar voz para não “implodir”. É uma poderosa tensão interior que ele decompõe através de palavras com forte dimensão musical, a dimensão que lhe confere maior performatividade. Sim, é uma viagem interiormente imposta, mas sem destino à vista. O processo é tudo e por isso nunca acaba. O poeta é um transeunte incansável e sem destino, mas que tem sempre o vento a favor. E é isso que faz dele poeta.
XIV.
A poesia tem o poder de curar e de salvar do desespero. E se se projectar na pintura, então cumprirá melhor a sua função (não utilitária). A alma pode adoecer: o amor como “maladie de l’âme” (Stendhal”). A poesia como remédio para os infortúnios de alma. Ovídio: “tristia, quo possum, carmine fata levo” (Tristia, IV). A poesia adoça o triste destino. E gosto da frase “amor sufocado (e) embainhado no silêncio”. O silêncio como arma do amor sufocado. Arma poderosa, embainhada. Mas a que a poesia pode responder, dando-lhe voz. Como se fosse o seu eco, devolvido não como arma, mas como canto.
XV.
O silêncio é a mais profunda das linguagens quando ancorado numa pulsão profunda, numa demorada e focada contemplação, numa escuta atenta ou na intenção de dar, por uma insistente e intencional redundância, a conhecer a outrem o seu peso e o seu significado (o do silêncio). Muito se pode dizer pelo silêncio. A contemplação é silenciosa e permite a mais perfeita das sintonias. Os paradoxos permitem-nos dizer com maior intensidade o que pretendemos dizer. E são estilisticamente belos. Um silêncio ensurdecedor, por exemplo. Não há melhor forma de traduzir o poder de um silêncio que se torna insistentemente redundante e teimoso quase até à agressão (dos sentidos e da alma). O silêncio intensifica-se quando estamos cercados pelo ruído da multidão, anulando-o, enquanto silêncio físico, mas expondo brutalmente a alma ao seu som ensurdecedor. Ficamos mais sós no meio da multidão e então ouvimos interiormente mais o silêncio. Outro silêncio é o da montanha para onde se evade o eremita-poeta para ouvir, em solidão, o som silencioso da majestade das alturas. Este silêncio é mais pacificador. Não agressivo, como o da cidade, que nos faz sentir perdidos e abandonados na selva urbana, à mercê da crueza das memórias mais duras. No ermo, lá no alto, a solidão é sideral. O silêncio, tenha ele que cor tenha, é reconduzido à dimensão natural da existência, à dialéctica da natureza a que pertencemos e à sua lei. Lá do alto podemos observar o vale da vida com maior elevação (espiritual) e maior distância. Podemos relativizar, mas também podemos redesenhar a vida com a nitidez do olhar das águias reais, olhando lá de cima a vida como nosso alimento espiritual. Essa nitidez é dada pelo olhar interior do poeta ou do pintor. Nesta condição, o silêncio pode ouvir-se como melodia da alma. E partir com serenidade para uma nova etapa. Som e silêncio, o som do silêncio que, por vezes, demasiadas, até, é, sim, ensurdecedor. Só a poesia o pode reconduzir à sua forma original. Dando-lhe voz, transforma esse som em melodia. E pacifica e amacia a alma do poeta. Não se conforma, o poeta, e retoma sempre o diálogo, dando forma à voz do silêncio, como se este tivesse um sujeito-autor e fosse a sua fala. Terá? Será? Não sei, mas é provável que sim. Só o poeta estaria em condições de responder. Mas é claro que responderia em verso, dizendo que o poeta é um fingidor.
XVI.
É na dor e na melancolia que a arte começa. Nada a fazer. Pedras no caminho, sim. Muitas pedras. E vamos tropeçando nelas. E o poeta vai tropeçando nelas. E as quedas fazem feridas e as feridas têm de ser curadas. Pela poesia. Mas a pintura ajuda. Dá forma visível à melancolia. Então tudo se torna possível.
XVII.
A ida a sul com as palavras é o recurso do poeta que, a norte, sente todo o frio quente da montanha. No sul há flocos… não de neve, mas de palavras. É a maneira de, a sul, nos aquecermos do frio da ausência e do silêncio. Com flocos de palavras. No norte montanhoso não se sente tanto essa falta. A neve tudo cobre e aquece com o seu manto. Frio na pele, calor na alma. A imaginação viaja a sul à procura de palavras que substituam a neve e o frio quente da montanha. Uma outra forma de aquecer a alma. E também o granito se instalou em nós para nos condicionar o destino. Ah, eu acho mesmo que sim. Aliás, eu sinto-o na pele, o granito amarelo. É ele que me faz resistir. Ainda por cima ele tem cristais que refractam a luz e que nos acendem a alma. A sul, o granito converte-se em palavras. Como os flocos de neve. E as palavras enrobustecem a alma de quem as sente. Que a poesia nos permita atingir o cume da montanha e nos provoque a vertigem das alturas, é o meu desejo. É diferente a temperatura física lá no alto, mas a da alma aumenta à medida das vertigens, do olhar comprometido sobre o vale onde acontece a nossa vida.
XVIII.
“O amor parece ser a estação adiada”, diz-me um leitor e amigo. Adiada sem prazo. É esse o problema. Persistência dos afectos? Sim. É essa a razão da poesia. Sempre em trânsito na direcção da “estação adiada”. Mas deixem-me que vos diga: a musicalidade de um poema intensifica a melancolia a ponto de lhe atribuir um forte poder de contaminação, na partilha. É mais intenso o poder de chamamento. A vida flui como tem de ser. E se for com música tanto melhor. A poesia é música para as almas sensíveis. E ajuda a vida a fluir melhor. E distende-se entre uma dor que se pode ter tornado matricial e a busca de uma beleza redentora em forma de melodia poética.
XIX.
“Inquietação persistente”? Se for, então o destino é ser poeta. Dizer tudo, talvez não. Ir dizendo, sim, mas de forma cifrada, só compreensível pelos “iniciados”.
XX.
Sobre a contradição (o poeta é refém, mas em processo de libertação?) de que me falou um amigo, digo o seguinte: a cicatriz está lá, mas a poesia eleva-o, liberta-o. Refém do corpo, liberta a alma. A cicatriz é o sinal da ferida, que permanece. Como ferida corporal. Por isso, a cada olhar (interior) sobre a ferida ele, poeta, deve responder com um poema. Um eterno retorno. Pecado original. Diria que o poeta está condenado a ser livre. Condenado-refém que se vai libertando pela poesia. O corpo de Gramsci esteve cerca de 20 anos na cadeia (até à morte), mas a sua alma não. Cada fragmento dos “Cadernos do Cárcere” era um grito de libertação. Da prisão e do tempo. Também o poeta é refém de uma ferida-dor corporal (ainda que cicatrizada), mas a sua alma pode entregar-se livremente a um processo de permanente libertação. Da prisão e do tempo. É a condição de refém que o leva a esse desejo de libertação superior. Mas, claro, há ali uma permanente instabilidade existencial. É sobre ela que ele constrói e se constrói.

E AGORA, PEDRO?
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 12-2023
NESTAS ELEIÇÕES INTERNAS DO PS, em que participaram, com voto válido, quase 40 mil militantes, ficou demonstrado que a dinâmica de escolha entre candidaturas alternativas com peso mobiliza e dignifica a política. Os resultados espelham bem o peso interno das candidaturas. Vejamos: total de votos – 39.492; Pedro Nuno Santos – 24.219 (61,3%); José Luís Carneiro – 14.891 (37,7%); Daniel Adrião – 382 (cerca de 1%). Quanto a delegados: PNS – 909; JLC – 407; e DA – 5.
O novo secretário-geral tem, pois, total legitimidade para gerir o PS, tendo obtido a maioria absoluta dos votos e sendo certo que irá gerir o partido respeitando os equilíbrios internos. Mas a figura do secretário-geral é muito importante, considerando a actual personalização (ou mesmo hiperpersonalizaçao) da política. A minoria pronunciar-se-á nos órgãos próprios e certamente será tomada na devida consideração, sem desvirtuar, todavia, aquela que será a orientação de fundo que o secretário-geral imprimirá legitimamente ao PS. Isto para não referir a necessidade de reconstituir integralmente o, lamentavelmente, extinto jornal do partido, de se decidir em qual das duas redundantes revistas (Finisterra ou Res Publica) irá apostar ou de reconstruir um dinâmico Gabinete de Estudos. Mas sobretudo há que clarificar questões de fundo que remetem para a identidade política e ideal do próprio partido e que podem e devem inspirar o programa de governo. Vejamos.
I.
Em artigos anteriores referi a pouca atenção dada, durante a campanha, às questões especificamente partidárias, tendo sido esmagadoras as propostas de natureza programática para um futuro programa de governo. Mas a verdade é que os programas de governo devem ter, a montante, linhas de orientação que entroncam na identidade dos partidos que os propõem, expressas, sem mediações, como ética da convicção. Esta clareza permite evitar ondulações e ambiguidades no plano programático, mas permite também saber o que, sendo assumido, mas não se inscrevendo na identidade do partido, foi objecto de negociação, de compromisso e de assunção em função de uma exigente ética da responsabilidade pública. É desta conjunção que resulta uma boa práxis política. Nenhuma delas deve ser menorizada, nem a ética da convicção nem a ética da responsabilidade pública. Lembro que se durante quatro anos a maioria de esquerda se manteve firme isso também se deveu à livre assunção e expressão pública da ética da convicção por cada partido, sempre reafirmada quando, em nome da ética da responsabilidade pública, eram adoptadas medidas que exigiram negociação e compromisso.
II.
É, pois, minha convicção de que só uma clara delimitação do que é ética da convicção e do que é ética da responsabilidade pode evitar confusões e neblina política e programática.
Assim, eu julgo que o PS, nesta nova fase da sua vida, ganharia em clarificar, antes de avançar para as concretas propostas programáticas, algumas orientações de fundo que não têm sido muito claras:
- A sua relação com o liberalismo clássico, tendo em consideração que existe há muito uma tradição conhecida como “socialismo liberal” ou “liberal-socialismo”, mas sendo claro que os partidos liberais têm assumido regularmente posições de direita, até em versão de direita radical, como acontece com o neoliberalismo. Mas o liberalismo clássico tem um significado histórico que não pode ser confundido com a prática dos partidos liberais. É disto que se trata, por exemplo, quando o Programa que emancipou a social-democracia alemã do marxismo (o Grundsatzprogramm de Bad Godesberg, de 1959) remete os valores centrais do socialismo democrático para a filosofia clássica (além do humanismo e da ética cristã) e para o binómio liberdade-justiça.
- A posição crítica do PS em relação ao wokismo, ao revisionismo histórico e às políticas identitárias, sobretudo atendendo a que estas posições contrastam com a matriz universalista da nossa modernidade política e da nossa própria civilização.
- Têm acontecido no nosso país várias incursões imprudentes ou infelizes de procuradores e juízes na política com graves sequelas não só sobre o sistema, mas também sobre concretas personalidades públicas que, de uma forma ou de outra, o representavam, sofrendo, com isso, graves e irreversíveis danos reputacionais. Como pensa o PS de Pedro Nuno Santos agir para evitar que incursões desta natureza deixem de se verificar, tendo em consideração que este partido tem no seu código genético a defesa dos direitos individuais como primeira prioridade?
- É conhecida a diferença da social-democracia relativamente à economia de plano, assumindo, sem reservas, como sua a ideia de uma economia (não de uma sociedade) de mercado, regulada pelo Estado, em defesa do cidadão e do consumidor, presas fáceis dos oligopólios. Como exprime, e com que intensidade, o PS esta ideia de protecção do consumidor relativamente à prepotência dos oligopólios instalados em Portugal? Esta centralidade do consumidor já era também apontada claramente no programa de Bad Godesberg.
- É velha a discussão em torno da justiça fiscal a partir da gestão dos impostos directos, sendo certo que os impostos indirectos atingem indiscriminadamente ricos e pobres. Como pensa o PS dosear a relação entre impostos directos e impostos indirectos para uma aceitável equidade fiscal, tendo em consideração que o bolo dos impostos directos (IRS) recai somente sobre três milhões num universo de 5,4 milhões de agregados? Uma coisa é certa: não é legítimo nem justo praticar um autêntico saque fiscal em nome do Estado Social e muito menos em nome de um assistencialismo caritativo, excessivo e paralisante. A prevalência da ideia de comunidade não deve significar esmagamento dos direitos individuais e anulação das responsabilidade individuais.
- De que modo o PS pretende melhorar a eficiência do aparelho de Estado que não seja exclusivamente no plano da cobrança de impostos e de receitas?
- Que papel o PS atribui ao mercado de arrendamento como principal factor de resolução não só do problema da habitação em geral, mas também do custo excessivo das casas para venda? Na relação entre oferta pública e oferta privada para uma eficaz política de arrendamento qual considera o PS que deva ser prioritária e dominante?
- Qual é para o PS a principal causa da actual crise do SNS? A remuneração e o excesso de trabalho dos agentes das prestações do SNS ou o excesso de procura das urgências no serviço público prestado pelos hospitais, enquanto os centros de saúde se estruturam quase exclusivamente como escritórios de prestação de serviços e não como centros operativos de cuidados primários (de primeiro nível)? Que valor atribui à oferta privada para uma melhoria das prestações do serviço público de saúde?
- Pretende o PS acabar com a actual distinção entre cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, repondo a igualdade de tratamento dos trabalhadores do sector público e do sector privado em matéria de tempo semanal de trabalho e equidade contratual entre o público e o privado?
- Pretende o PS, no plano da ciência e da investigação científica, manter a actual política de delegação exclusiva, pela FCT, em equipas estrangeiras da avaliação dos centros de I&D e, depois, dos projectos de investigação, alienando, na prática, o próprio dever de decisão e mostrando não confiar na isenção dos avaliadores portugueses?
- Qual a posição do PS em relação à evolução institucional da União Europeia? Adopta uma posição constitucionalista (uma constituição para a União) ou uma posição funcionalista (uma lógica simplesmente intergovernamental). Na verdade, não é conhecida a posição do PS sobre esta alternativa (que já tem uma longa história, desde 1984, com a aprovação do projecto de constituição pelo PE, promovido por Altiero Spinelli). Não deveria o PS construir e divulgar uma doutrina muito clara acerca da filosofia evolutiva da União Europeia?
III.
Poderia continuar, mas creio que chega. A resposta clara a estas questões permite identificar a actual identidade do PS, fundamentando as opções programáticas que serão propostas ao eleitorado, além, naturalmente, da qualidade dos representantes que as saibam naturalmente interpretar. Não me parece que seja muito útil e significativo apresentar um volumoso e minucioso cardápio de propostas para todos os sectores em que o novo governo se verá necessariamente envolvido. Até porque o que verdadeiramente estará em causa será a escolha dos representantes e não a aprovação de um programa de governo (os representantes não levam consigo um caderno de encargos, porque não se trata de um mandato imperativo). O importante é ir ao essencial e com sólidos fundamentos, que só poderão ser realmente certificados se se inscreverem numa robusta e clara identidade ético-política do PS e forem assumidos com coragem e sem tibiezas. A clareza ajuda à decisão não só porque as propostas são mais compreensíveis, mas também porque ficam politicamente melhor identificadas. Como quer que seja, desejo sinceramente os maiores sucessos ao novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. O seu sucesso será também um sucesso da nossa democracia, visto o papel central que nela desempenha o PS. JAS@12-2023

CONFISSÕES DE UM MILITANTE
Em Sete Andamentos
Por João de Almeida Santos

“Talismã”. JAS. 12-2023
HÁ MUITAS COISAS ERRADAS na política portuguesa. Por exemplo, personagens inconsequentes que desempenham funções para as quais não têm vocação nem atitude, podendo provocar, em certos momentos, situações de grave crise institucional. Também não creio que os nossos media desempenhem convenientemente a sua função essencial: influenciam mais do que esclarecem. Pecado mortal. Certas funções institucionais exigem “gravitas”, mas o que constatamos é que, em vez de “gravitas”, temos ligeireza, não leveza. Mas esta seria conversa que não teria fim, se o objectivo do artigo não fosse outro.
1.
Como já aqui tive ocasião de afirmar, e enaltecendo a vivacidade da campanha em curso, lamento insistir que há um grave equívoco nestas eleições internas do PS: estarmos a votar candidatos a primeiro-ministro quando do que se trata é de eleger o secretário-geral (e eu até preferia que a designação fosse outra, pois esta ainda me sabe a património marxista-leninista) de um importante partido. Basta contar as páginas a isso dedicadas nas três moções para confirmar o que digo. A mim isso parece ser errado e desviante, apesar de, pelos vistos, não incomodar ninguém. Que interessa o partido, se o que conta é o governo? Pois a mim interessa, e muito, porque não vou votar em legislativas, apesar de saber quais as consequências previsíveis do meu voto, nessa matéria, não se tratando, sequer, neste acto, de uma simples questão de método, mas de muito mais. E de muito mais porque significa menorização de uma importante organização política que, assim, se vê transformada em mero veículo para chegar ao poder. E ainda porque estas eleições acabam por transformar a eleição do secretário-geral em primárias (fechadas) para eleger o próximo candidato da área socialista a primeiro-ministro, desfigurando a eleição que, neste momento, conta. Eu não voto, nestas eleições, num candidato a primeiro-ministro, mas num candidato a secretário-geral. Figuras que não se confundem nem se devem confundir. Esta confusão indicia que não é necessário tratar do partido, designadamente dos processos de escolha dos dirigentes e candidatos a altas funções políticas e na própria Administração Pública. Depois, ganhas as eleições, o que interessa é apoiar o governo (ou combatê-lo, perdendo-as). Repensar o partido fica sempre para depois. Só que a reforma da política começa mesmo nos partidos.
2.
E quando se ouve dizer a algumas figuras proeminentes (politicamente, entenda-se) que não declaram apoio a um candidato para não dividirem o eleitorado militante, fica muito clara a ideia que têm de um partido democrático que se dota de dirigentes através de um processo deliberativo aberto e transparente. Tomar posição publicamente é o mínimo que se pede a um militante de um partido como o PS. E muito mais se ocupar posições de relevo no seu interior. A vivacidade e a transparência do debate só ganhará com isso. Depois, quando se assiste à colonização do partido por membros do governo que foram escolhidos livremente pelo primeiro-ministro (e secretário-geral), sem nunca terem passado por processos de selecção ou de afirmação interna, está-se a construir uma estranha concepção de partido: top-down e apenas sujeito à vontade do líder. Estes membros do governo são catapultados para o interior do partido exibindo o selo governamental como virtude a ser reconhecida e respeitada pelos militantes e até pelas direcções das estruturas. Ora acontece que o movimento deve ser exactamente na direcção oposta.
3.
Esta é uma eleição para o líder de um grande partido que deveria, nesta fase, mais do que um programa para o país, pôr à prova as propostas para o partido, evidenciando os grandes princípios que o animarão na gestão da causa pública, propondo soluções para melhorar os processos de selecção dos seus dirigentes e candidatos a altas funções políticas, para lhe dar robustez doutrinária e ideológica e consolidar a sua identidade ético-política e ideológica, para reforçar a sua ligação orgânica com a sociedade civil, para o dotar de estruturas de tratamento documental (designadamente do património político adquirido ao longo da sua história) e de reflexão de fundo sobre a sociedade, para romper com as tendências endogâmicas que sempre ameaçam o são funcionamento partidário. Tudo isto, porquê? Porque são os partidos políticos que estruturam a vida política de um país. Maus partidos políticos fazem mal à democracia. As insuficiências partidárias projectar-se-ão no aparelho de Estado. Não é difícil compreender isto.
4.
Posto isto, por que razão considero que o partido deveria merecer, mesmo nestas circunstâncias excepcionais, mais atenção discursiva e propositiva? Porque os partidos têm o monopólio de propositura dos representantes à escala nacional e, já não existindo este monopólio à escala local, eles continuam a ser extremamente importantes na democracia local, tendo perdido, isso sim, alguma importância por manifesto mau desempenho; porque os partidos, à escala nacional, quando obtêm uma maioria (sozinhos ou coligados) têm liberdade para formar governos, nomear inúmeras figuras institucionalmente relevantes e desenhar e executar concretos programas de governo; e, ainda, porque os partidos dão expressão política e ideológica à pluralidade das sensibilidades políticas presentes na sociedade. Só estas razões já seriam suficientes para darem lugar a uma maior atenção quando se trate de eleger o líder de um partido – neste caso, do PS.
5.
É claro que, reflectindo sobre a identidade ético-política e ideológica do partido, ipso facto se está a dar indicações ao eleitorado sobre as opções de fundo que serão traduzidas em programas de governo. Traduzidas. É aqui que o essencial fica definido. As linhas de força que hão-de inspirar os programas a propor ao eleitorado, sendo natural que, em via subordinada, se possa, no presente caso, também já avançar com algumas ideias sobre as principais clivagens que determinam a vida do país, antecipando algumas propostas programáticas. Mas a verdade é que haverá um tempo dilatado para isso mesmo e esse tempo começará no dia 17 de Dezembro, quase três meses antes das eleições legislativas e quase seis meses antes das eleições para o Parlamento europeu. O partido é único e deve ter uma filosofia de fundo que inspire os programas (de governo, europeus e locais). É disso que se trata, não de programas de governo. Para ser mais claro: este é o tempo de afirmar uma “ética da convicção”, mais do que uma “ética da responsabilidade”, esta sim, obrigatória na fase de candidatura com vista a conquistar uma maioria de governo. Enquanto partido, deve afirmar livremente os seus valores sem os subsumir num programa de governo. Os partidos políticos são organizações privadas (que propõem uma sua visão de sociedade) que perseguem fins públicos. Depois, a “ética da convicção” acabará por ser sempre “temperada” pela “ética da responsabilidade” quando se tratar de governar a sociedade no seu todo. A “ética da convicção” conhecerá uma sua conversão institucional (como “ética da responsabilidade”) através de um efeito de sobredeterminação pelo complexo institucional político-jurídico do sistema social. É assim que funciona o sistema em democracia.
6.
A tese de que o que importa são as eleições legislativas esconde uma real desvalorização do problema que está a afectar a social-democracia um pouco por todo o lado e já também entre nós. Um dos argumentos recorrentes nos partidos para não se discutirem é o de que nunca é oportuno ou de que, fazendo-o, se dá armas aos adversários: ou porque se está na oposição ou porque se está no governo. O tacticismo nunca deve ser elevado a filosofia de um partido, sob pena de os seus princípios ficarem sujeitos à ética do Groucho Marx. Sobretudo se for um partido de esquerda. Mas tem sido isto que tem fragilizado o centro-esquerda e o centro-direita, dando o flanco à direita radical ou à esquerda radical, como, por exemplo, acontece na Itália e na França, respectivamente. Além disso, a sociedade tem mudado muito em todas as frentes, ao contrário da política, que teima em manter as velhas e já gastas fórmulas. Quanto a mim, estes partidos comprometeram-se ao subordinarem a sua identidade à dependência do Estado, financeiramente, em termos de emprego dos seus quadros e militantes, dando cada vez mais voz a essa tendência autofágica da endogamia e privilegiando os seus núcleos duros eleitorais nas opções políticas. Esta tendência leva a que o novo perfil da cidadania tenda a não ser suficientemente reconhecido e, consequentemente, ao desvio inoperante do discurso político. Se virmos as recentíssimas sondagens feitas em Portugal, o que nelas se verifica é um significativo encolhimento da base eleitoral destes dois partidos em cerca de 15 pontos relativamente às últimas eleições legislativas de 2022. Encolhimento que está a alimentar os extremos, provocando um ulterior aprofundamento da fragmentação do sistema de partidos.
7.
Nas eleições que terão lugar nos próximos dias 15 e 16 de Dezembro o que se está a eleger é, no essencial, o próximo secretário-geral do PS, ou seja, a figura que, antes de mais, será responsável pelo bom desempenho do partido enquanto organismo vivo e não enquanto mero partido-veículo, ou partido eleitoral, que existe exclusivamente para ganhar eleições. Não me sentindo confortável, pelas razões que expus (aqui e em artigo anterior), com qualquer uma das moções, a minha opção, como já aqui tive ocasião de afirmar, vai para Pedro Nuno Santos (PNS), por me parecer que será o líder em melhores condições para reanimar o partido e para o dotar de uma sólida “ética da convicção”, de uma identidade capaz de ser reconhecida pelos seus militantes, pelos simpatizantes e pelos portugueses como a organização política que se situa num espaço político virtuoso, movido por valores que conjugam a liberdade com a igualdade, a esfera pública com a esfera privada e que defende uma visão para o nosso país enquadrada num cosmopolitismo progressista capaz de resistir às novas pulsões ditatoriais que estão a emergir com violência um pouco por todo o lado. Creio mesmo que será com ele que a “ética da convicção” poderá ser assumida sem tibiezas nem sujeição à lógica do compromisso e da negociação a todo o custo. Ou de uma ideia de política como mera tecnogestão dos processos sociais, management ou governance. Ideia que, afinal, tem consignado a política pura e dura aos extremos. A personalidade do líder é muito importante numa era de forte personalização da política em especial se ela se conjugar com a valorização de uma organização viva que se estruture politicamente como embrião do Estado, antecipando pelo trabalho, pelas boas práticas, pela determinação, pela coragem e por clareza estratégica a futura gestão do poder de Estado. Esta combinação virtuosa pode mudar o que tem de ser mudado, em vez de prosseguir como se o PS vivesse no melhor dos mundos. Mas não vive e, de facto, muito terá de mudar se se quiser inverter o processo que já está em marcha também no nosso país. E acredito que com PNS seja mais viável a mudança interna e necessária no partido. E, já agora, claro, no País. JAS@12-2023

AS ELEIÇÕES PARA SECRETÁRIO-GERAL DO PS
Manual para uma Boa Decisão
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 12-2023
SÃO TRÊS OS CANDIDATOS a Secretário-Geral do PS: Pedro Nuno Santos (PNS), José Luís Carneiro (JLC) e Daniel Adrião (DA). A campanha está no terreno junto dos militantes do partido. Desta vez não houve primárias, como seria desejável, e nem sequer foram reivindicadas, mesmo pelos que as defendem. O tempo escasseia e, de certo modo, compreende-se que seja assim. Também já são públicas as moções das candidaturas e os candidatos são suficientemente conhecidos dos militantes. E é claro que a competição essencial será entre PNS e JLC, não por qualquer razão discriminatória em relação ao outro candidato, num partido que tem a não discriminação como bandeira e valor central, mas porque no partido ambos recolhem um apoio mais significativo. O peso político dos dois é muito maior, até pelas importantes funções políticas que ambos já desempenharam.
1.
Há um aspecto crítico que deve ser sublinhado nestas eleições: todos os candidatos dão uma importância residual às questões internas do PS, colocando-se mais como candidatos a primeiro-ministro do que como candidatos a secretário-geral do PS. O que no meu modesto entendimento é um erro grosseiro que parece reforçar a ideia de que: 1) o PS é sobretudo um partido eleitoral, ou seja, um partido-veículo para o acesso ao poder de Estado e à sua vastíssima máquina, da qual se alimenta; 2) tudo está bem na sua organização interna, no seu funcionamento e até no modo como se concebe como partido de esquerda, embora a insistência de que se vive no melhor dos mundos enfraqueça mais do que enrobustece; 3) o secretário-geral se tornou essencialmente um candidato a primeiro-ministro, pouco importando o que faça ou não faça no e do partido; 4) as eleições legislativas são essencialmente eleições para primeiro-ministro e menos eleições para os representantes da nação.
2.
Ora acontece que esta é uma eleição para líder de uma grande organização e, naturalmente, o seu discurso deveria centrar-se na estratégia que pretende desenvolver para governar o partido com vista ao futuro, tendo em consideração que a área da social-democracia em que se inscreve sofre hoje um profundo desgaste que urge resolver, antes de mais intervindo sobre a sua identidade e os seus referentes sociais, sobre a sua organização e sobre a sua relação com a sociedade civil. Depois, acontece que, como partido de esquerda que é e pretende ser, o PS não deve confinar a sua identidade a partido eleitoral ou a partido-veículo, totalmente dependente do Estado, devendo promover-se, bem pelo contrário, como organismo vivo capaz de gerar dentro de si não só bons dirigentes políticos, bons critérios de selecção dos seus quadros para altas responsabilidades e uma dialéctica interna democraticamente virtuosa, mas também desenvolver uma cartografia cognitiva em linha com os desafios históricos que se lhe põem, uma relação orgânica robusta com a sociedade civil e valores civilizacionais avançados correspondentes à sua identidade enquanto partido de esquerda. O secretário-geral de um partido como o PS é antes de mais o líder de uma poderosa e vasta organização que exige dele uma atenção total, à semelhança de uma grande empresa ou de outras grandes organizações que ocupam lugares relevantes na sociedade portuguesa. Ele não pode, pois, limitar-se a olhar para a gestão do Estado, descurando a gestão do próprio partido, deixando-o entregue aos “caciques” e às “bolsas de quotas” e permitindo que se transforme numa gigantesca federação de interesses pessoais. E tem sido isto que, de algum modo, tem acontecido. Nunca me esqueço de uma afirmação de Antonio Gramsci acerca do partido político: ele é um embrião do Estado, devendo no seu interior antecipar de forma virtuosa aquela que será a futura gestão do Estado ( Quaderni del Carcere, 7, 1930-32, § (90) ). É nisto que um partido de esquerda difere de um partido de direita, mais vocacionado para gerir os poderes e os interesses instalados. Depois, ainda, as eleições legislativas não são eleições para primeiro-ministro, mas para o Parlamento, de onde, isso sim, sairá uma maioria que há-de gerar um governo. Foi esta colagem das legislativas à figura do PM que levaram Marcelo Rebelo de Sousa a convocar eleições e a não tornar possível uma solução alternativa no actual quadro parlamentar de maioria socialista. Aprofundo ainda mais. Recentemente, a senhora Giorgia Meloni propôs a eleição directa do PM (o já famoso “Premierato”), num só boletim de voto onde constassem também as opções relativamente às duas câmaras do Parlamento italiano. Puro decisionismo que colhe na tendência actual para a hiperpersonalização da política e na desvalorização da matriz originária do sistema representativo. Por isso, é necessário ter muita atenção quando se envereda por certas orientações e opções políticas.
3.
Li as três moções, com alguma fadiga, confesso, e, no total das 202 páginas (48, a de PNS, 94, a de JLC, e 60, a de DA), são escassas as páginas e as propostas dedicadas ao partido por qualquer um dos candidatos. São nove ou dez páginas no total e com vagas alusões a uma estratégia de gestão do PS no futuro. Não mais. Tudo o resto, em qualquer das moções, é dedicado a percorrer os inúmeros sectores da governação – como se já estivéssemos em plena campanha para as legislativas – com pequenas modulações ideológicas: maior ou menor intensidade nas propostas de assistência ou prestação social à cidadania, mas todas no quadro de um fortíssimo Estado Social. Discurso que, afinal, bem poderia ser desenvolvido, não nesta campanha interna, mas, sim, ao longo dos cerca de três meses de pré-campanha e campanha eleitoral. Ainda assim, e sobre estes discursos estratégicos para um futuro governo do PS, mais do que uma exaustiva lista de medidas muito marcadas por um excessivo assistencialismo estatal e por uma obsessiva ideia de sustentabilidade (palavra que já enjoa) transversal (na moção de JLC), teria sido interessante ter encontrado sobretudo opções prioritárias e selectivas, analiticamente argumentadas, em relação aos grandes problemas que nos afligem (habitação, SNS, investimento e produtividade, reorganização do aparelho de Estado, política fiscal, imigração, futuro da União Europeia, entre outros). Clarifico: nestas questões nucleares do que se trata é sobretudo de detectar a causa causans, ou a causa eficiente, a que permite construir uma efectiva solução estrutural. Por exemplo, na questão da habitação – a expansão do mercado de arrendamento (que tem efeitos decisivos também sobre o preço das casas para venda). Ou na questão do SNS – o acesso massivo e injustificado às urgências dos hospitais, que urge estancar. Mas não, o que encontramos é um vasto cardápio de medidas mais centrado numa visão assistencialista do que numa analítica reconstrutiva argumentada capaz de enfrentar com eficiência os dossiers fundamentais.
4.
Na verdade, o texto das moções que acompanha as candidaturas a secretário-geral não parece ser de grande utilidade para decidir acerca do candidato preferido. Pode ser um auxiliar, mas o conteúdo sobre o partido é absolutamente minimalista e não permite antever a natureza das respectivas lideranças. Então, em que se pode fundamentar a decisão do militante para optar por um ou por outro candidato? É claro que a opção não é dissociável do facto de o secretário-geral vir a ser o futuro candidato do PS, a referência da maioria para chefiar um governo, mas a verdade é que não é isso que aqui está em causa. O que está em causa é, sim, saber quem poderá vir a ser o melhor secretário-geral do PS, que o mesmo é perguntar quem melhor poderá conduzir o PS neste período de mudança e de grave crise da social-democracia. Há um tempo para tudo e este é tempo para falar do PS, enquanto partido. E não me parece que seja muito instrutivo dizer que os portugueses preferem este ou aquele candidato para primeiro-ministro, porque, nestas eleições, não são os portugueses que votam, mas os militantes com quotas pagas.
5.
Assim sendo, o militante, não se podendo orientar pelas (quase nulas) medidas propostas para o partido, deverá centrar-se na figura, na personalidade do futuro líder e sobre ele fazer uma reflexão que o leve a decidir. Contará o seu trajecto, a experiência política, as posições que foi assumindo ao longo da sua vida política, a qualidade das suas intervenções, a frontalidade e a clareza das suas posições perante os temas mais quentes da agenda política, a liberdade de discurso quando o PS se jogava em delicadas e polémicas decisões, a sua independência relativamente às relações de força em determinados momentos. Tudo no plano da avaliação política. Há nesta disputa mais uma forte personalização da competição eleitoral do que uma exibição de programas convincentes dirigidos à racionalidade do militante. E, como disse, a textura das moções pouco ajuda à decisão, não só pela sua extensão, mas porque não se vê a determinação de prioridades selectivas essenciais analiticamente argumentadas e em linha com o património ideal do PS, que, de resto, continua nebuloso em certos aspectos. Por exemplo, na sua relação com o património liberal clássico e com o iluminismo. Lembro, a mero título de exemplo, que as moções (nenhuma delas) não tomam na devida consideração a centralidade do cidadão-consumidor no sistema social e a necessidade de o proteger activamente do arbítrio dos oligopólios em matérias de importância vital para as suas vidas (banca, centrais de consumo, energia, operadoras de telecomunicações, etc., etc.). É um mero exemplo de uma questão que é central e que mereceria uma atenção especial na hierarquia selectiva das prioridades. Mas a verdade é que a personalização, ou mesmo a hiperpersonalização, tem determinado a evolução da política desde que a televisão entrou prepotentemente no jogo político, nos anos cinquenta do século passado. E, por isso, deverão também contar as características comportamentais e psicológicas dos candidatos, tendo em consideração a necessidade de tomar decisões duras sobre alguns dossiers e assumir posições de independência e mesmo de confronto em relação aos, recorrentemente insidiosos, poderes fortes da sociedade civil. Também, mas em menor escala, poderá contar como ajuda para a decisão uma avaliação do entourage do respectivo candidato, sendo certo que, em alguns casos, o círculo restrito dos apoiantes pode influenciar decisivamente as suas decisões ou até mesmo capturá-lo. A personalidade do líder pode dar alguma garantia acerca das escolhas, da sua liberdade, independência e autonomia de acção, que deverá ser sempre guiada, no quadro da ética pública, por um único princípio: o do interesse público ou interesse geral, que não seja excessivamente centrado numa visão caritativa da acção política e que garanta inequivocamente os direitos individuais, sem os subsumir numa visão comunitarista da vida social. Não se pode dizer, como é dito numa das moções (a de PNS, pág. 23), por exemplo, que baixar o IRS não é muito eficaz, do ponto de vista da justiça fiscal, porque a medida não atinge quase metade dos agregados portugueses (precisamente os que não pagam IRS). No mínimo, esta afirmação revela pouco respeito pelos cidadãos-contribuintes que pagam impostos directos.
6.
Tendo em consideração todas estas variáveis parece-me que o PS beneficiaria de uma liderança que se mostrasse mais em linha com as necessidades de mudança no interior do próprio partido, cujas fragilidades eu tenho aqui vindo a analisar em várias ocasiões, e de uma atitude de maior combatividade do partido perante uma larga frente de adversários que aspiram (legitimamente) a formar um bloco de governo alternativo, de direita. e que as sondagens já apresentam como bloco maioritário. Não me parece que uma linha de tacticismo e de compromisso, quer interno quer externo, e uma orientação que reduz a política a mero management, a governance ou a pura tecno-gestão dos processos sociais, condimentada com caridade católica em doses abundantes, possam indiciar um real avanço nas posições do PS relativamente a tantas fragilidades que acabaram por deixar o partido à mercê de forças externas, inclusivamente à política, e que induziram a crise que estamos a viver. É por isso mesmo que o establishment, integrado pelos partidos da alternância governativa (PS e PSD), tem vindo a perder eleitorado. Por falta de alma, por não assumirem o conflito estratégico como natural na dialéctica política, por reduzirem a política a management e a gestão ideológica dos grandes números, àquilo que um psicanalista meu amigo chama “algebrose”, e por praticarem um discurso que “dá ao público o que o público quer”, os partidos da alternância ou do bloco central têm vindo a perder quotas significativas de eleitorado um pouco por todo o lado (e já também no nosso país, a crer nas sondagens disponíveis). A situação já não era boa desde o início da maioria absoluta e piorou com as escolhas de António Costa para a constituição da equipa governativa. E o partido socialista, há que o reconhecer com frontalidade, também tem culpas na crise que se instalou a 7 de Novembro, pelo que a exibição acrítica e encomiástica do seu legado não me parece ser a melhor resposta à crise. Tendo o poder, enredou-se nele e não o soube usar, mudando o que há a mudar, no partido e no país. Por exemplo, na justiça. Na passada sexta-feira (01.12.2023), nas páginas do “Expresso”, Miguel Sousa Tavares pôs o dedo na ferida: o único poder que não conhece controlo de nenhuma espécie é o Ministério Público. Um qualquer procurador pode derrubar um governo legitimamente eleito, com maioria absoluta, baseando-se em coisa nenhuma, no momento do facto. Não é coisa nova, mas o PS nada fez, durante os governos de António Costa, no domínio da justiça, para mudar as coisas. A anterior ministra, a senhora Francisca Van Dunem, não era mais do que uma sindicalista encapotada do ministério público. E também a actual ministra nada fez.
7.
São estas as razões que me levam a apoiar e a votar em Pedro Nuno Santos e não em José Luís Carneiro (ou em Daniel Adrião). Reconheço no primeiro maior combatividade e independência, tendo mostrado nos últimos anos que nunca precisou da autorização do líder para dizer e fazer o que pensa. Fê-lo, por exemplo, nas eleições presidenciais, onde defendeu que o PS devia ter tido o seu próprio candidato. Na ocasião elogiei-o por isso. Bem sei que Daniel Adrião fez um bom serviço ao partido, candidatando-se contra António Costa e evitando um unanimismo sempre democraticamente pernicioso, mas isso não faz dele um candidato suficientemente ancorado no partido para o liderar. Conheço o percurso de José Luis Carneiro e reconheço-lhe qualidades políticas e pessoais, mas não me parece que tenha evidenciado no seu percurso independência suficiente e autonomia de pensamento e de acção. Esteve sempre colado às lideranças (primeiro a António José Seguro e, depois, a António Costa) e não me oferece garantias de que seja suficientemente ousado para mudar o que tem de ser mudado. Que me perdoe, mas é o que penso. A sua moção pouco ou nada me esclareceu (e sobretudo em matéria de partido) e o seu centrismo faz-me pensar que alinha no modelo de política que está a levar o centro-esquerda e o centro-direita a uma crise tão profunda que dá cada vez mais lugar a uma complexa fragmentação do sistema de partidos, com emergência de uma forte direita radical. Pelo contrário, o que espero de Pedro Nuno Santos é ousadia política, ruptura com a ideia de acção política por inércia e com o centrismo inócuo e asséptico e a superação da ideia de partido como organização exclusivamente eleitoral, partido-veículo totalmente dependente do Estado; o que espero é que recupere o partido como organismo vivo e que o prepare para soluções de futuro, com dirigentes à altura dos desafios; que sobre os principais problemas do país faça escolhas fundamentadas e liberte o partido (e o país) da ganga ideológica da esquerda identitária (que tanto tem alimentado a direita radical); que melhore o sistema de eleição dos dirigentes e dos candidatos para altas funções políticas; que levante o partido do estado comatoso em que se encontra e que acabe com a endogamia partidária; que recupere o desaparecido (sem que os militantes se tenham apercebido disso) jornal do partido como instrumento de debate político e de coesão ideológica, e tantas outras coisas que uma verdadeira moção estratégica deveria conter, mas que, infelizmente, não contém. A personalidade de PNS dá-me mais garantias de que o PS possa enveredar por um novo rumo capaz de iniciar um processo de superação de uma crise que não é só sua, mas, em geral, de toda a social-democracia. Compreendo que faltou tempo para um programa mais estruturado e dedicado ao partido, mas sempre poderia ter sido dito mais do que duas ou três ideias vagas que se encontram em duas páginas e meia, das 48 que a moção tem. Há um tempo para tudo e esta é a eleição do secretário-geral, não dos representantes ao parlamento nem do primeiro-ministro. Como militante com quotas pagas, é isto que espero do PS, um partido que a democracia portuguesa tem no seu ADN e de cujo destino também depende o futuro de Portugal.

A TEOLOGIA POLÍTICA DE LUÍS MONTENEGRO
Por João de Almeida Santos

“S/Título”.JAS. 11-2023
TRÊS VEZES INVOCOU o nome de Deus (em vão) para esconjurar a ameaça do maléfico, travestido de radicalismo, de imaturidade e de geringonça. Cristãos-novos perante os verdadeiros cristãos, os que o são por convicção. Uma imagem enigmática nos tempos que estamos a viver, no Médio Oriente. E também o inesperado regresso do gonçalvismo sob forma de neogonçalvismo, primeiro, pela mão do radical António Costa e, agora, pela do ainda mais radical Pedro Nuno Santos, que já fora ajudante na obra. A infame traição ao PS de Mário Soares. Tudo comunistas e radicais dos quais o Divino haverá de proteger os portugueses. Já bastaram quatro anos de neogonçalvismo apostado em varrer para o lixo da história o magnífico património deixado por Passos Coelho, Paulo Portas e por si próprio! McCarthy não diria melhor.
1.
O líder do PSD, partido liberal (em economia) e personalista (em atitude), Luís Montenegro, tentou ultrapassar, com este seu neomaccartismo, André Ventura pela direita, ciente de que corre um enorme risco de ser ver eleitoralmente acossado pela direita radical (ele tem visto as sondagens, a última das quais dá ao CHEGA 16%), arriscando-se, caso ganhe as eleições, a não conseguir formar um governo sem o apoio do partido de André Ventura. Criou dois muros (à direita e à esquerda) e elevou o 10 de Março a uma exigência equivalente à de um novo 25 de Novembro, com o PSD a salvar a democracia dos empedernidos comunistas, bloquistas e socialistas – todos eles, afinal, farinha do mesmo saco, o saco gonçalvista. Os que também, e ainda por cima, irão fazer como o outro que, antes, exibia um sorrisinho de plástico para, depois de ter o poder na mão, mostrar o que efectivamente era: um “animal feroz”. Já não bastava a Pedro Nuno Santos ter encarnado na figura de Vasco Gonçalves como agora ainda lhe acrescem as garras do “animal feroz”. Já uma vez se falara da chegada do diabo. Agora volta-se a falar do mafarrico, mas de um ser ainda mais feroz e infernal, numa conversa que cheira mesmo a mofo. E quanto maior for o mal maior terá de ser a cura. Mas, serenemo-nos, Luís Montenegro até é bastante alto (parece que tem 1 metro e 86 cms). E não sei se, também ele, foi ungido pelo Senhor.
2.
Depois, lá mais para o fim do dia, antes do encerramento do Congresso, e depois da unção (essa, sim) de dois dos santos padroeiros do PSD, Leite e Cavaco, chega o discurso de enamoramento eleitoral para os jovens, os idosos e pensionistas, os agregados que pagam IRS, os professores. Temos muito para redistribuir e até já fizemos as contas. Não vos dizemos quanto poupareis em IRS, a não ser aos jovens, mas ficai seguros de que até ao oitavo escalão os vossos bolsos serão (ainda assim) menos esvaziados pelo fisco. E vós, Professores, tereis o que não vos foi dado. E vós, pensionistas, acabareis lá mais para a frente a ter na pensão o mesmo que os do salário mínimo irão receber. Com carreira contributiva ou não, tereis uma pensão decente. Todos. Ou quase todos. Pensando melhor, só alguns, os que mais precisarem. Veremos caso a caso. Mas agiremos no signo de santo Abrunhosa – a quem agora pisco o olho – iremos “fazer o que ainda não foi feito”.
3.
Portanto, o que temos é, em primeiro lugar, um discurso neomaccartista, que prescindiu do facto de Portugal ter tido, sem convulsões sociais, durante quatro anos, um governo do PS (digo, do PS), apoiado no Parlamento pelo Bloco e pelo PCP, que procurou corrigir o virtuosismo neoliberal do governo de Passos Coelho e de Paulo Portas; de, em seguida, o PS ter ganho as eleições (2019) e de, pouco depois, em 2022, os eleitores até terem dado ao gonçalvista António Costa a maioria absoluta. Tudo excessos que só um novo 25 de Novembro, capitaneado pelo oficial-político Jaime Luís Neves de Montenegro, poderá corrigir definitivamente.
4.
O PS, com Pedro Nuno Santos, entrou definitivamente na era da revolução e só Deus poderá salvar os portugueses de o ter a chefiar um governo. As eleições internas acabaram antes de começar, para Montenegro. Como quem diz: elejam-no e verão o que vos espera! Mesmo assim, qualquer um dos três que as disputam é farinha do mesmo saco, ou seja, está irremediavelmente contaminado pelo neogonçalvismo que entrou prepotentemente nas casas dos portugueses e que urge esconjurar com um novo 25 de Novembro.
5.
Se isso for feito, a 10 de Março os portugueses serão objecto de fartas prebendas do Estado, numa vasta redistribuição de recursos financeiros aos jovens, aos idosos, aos reformados, aos professores e, como dizem os italianos, “chi più ne ha, più ne metta”. Vota em mim e eu recompenso-te financeiramente, nem que seja preciso voltar aos 130% de dívida pública (como no tempo das contas certas da dupla Passos&Portas).
6.
Confesso que o que aqui vejo é mais do mesmo, mas em excesso: neomaccartismo, que julgava ter sido enterrado no final dos anos 50, quando o seu artífice se finou; “justiça distributiva”, por um partido que se diz liberal em economia (disse-o Montenegro) e que, por isso, o que deveria propor era uma “justiça comutativa”. Mas, claro, em período eleitoral a regra de ouro é anunciar farta redistribuição, em homenagem ao Estado-Caritas e à hegemónica ideologia da caridade. É exibir uma atitude altamente personalista, a verdadeira identidade do PSD de Montenegro. Depois se verá, analisadas melhor as contas que os neogonçalvistas, os cristãos-novos das “contas certas”, nos deixaram.
7.
O discurso de Luís Montenegro confirma aquilo que vinha demonstrando ao longo da sua liderança: estar subordinado a um discurso pela negativa, exibindo aquilo a que chamo “política tablóide”, agora temperado por anúncios de “bodo aos pobres” para captação de votos em sectores sociais muito relevantes e numerosos. Vários anúncios: novo contrato social, ética pública, eficiência do Estado, recuo do Estado na economia, harmonia entre fronteiras abertas e fronteiras fechadas, gratuitidade e universalidade das prestações do Estado em relação às creches e ao pré-escolar. Sem dúvida, boas intenções. Mas o canto da sereia está lá na política redistributiva, para fins eleitorais… por um partido liberal em economia. A neblina na identidade política deste partido teima em persistir…
8.
O segundo discurso, no meu entendimento, poderá ser descodificado a partir de uma leitura atenta do primeiro: quem assim fala (no primeiro) não é credível (no segundo). Por uma simples razão: não há seriedade no discurso. E não há seriedade porque ao fazê-lo se esquece que Portugal foi governado entre 2015 e 2019 por um governo neogonçalvista sem que Deus se tenha dado ao trabalho de livrar os portugueses de tamanha calamidade. E a prova cabal da tolerância divina reside na atitude benevolente e até (muito) comprometida de um crente fervoroso que tinha o poder e o dever de o fazer, em nome do Divino, se fosse realmente o caso: o Presidente da República. Como se sabe, a cólera divina não se abateu sobre esse governo apóstata e, mais grave ainda, por duas vezes permitiu que o povo o mandasse governar o país. Uma das vezes até com maioria absoluta. Amen. JAS@11-2023

PS – ENTRE O PASSADO E O FUTURO
Por João de Almeida Santos
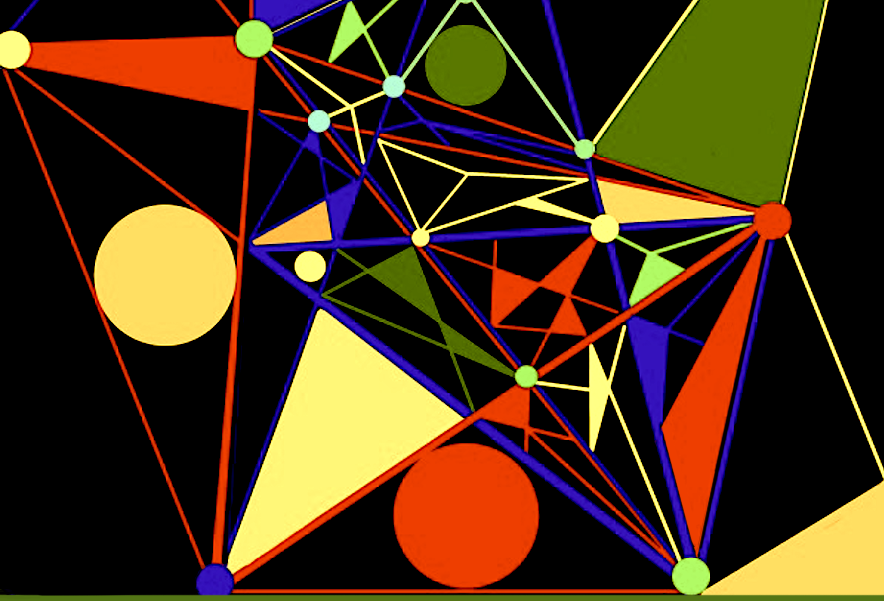
“S/Título”. JAS. 11-2023
O PS FEZ EM ABRIL CINQUENTA ANOS, se não considerarmos como início da sua vida a iniciativa política de Antero de Quental, de Azedo Gneco e de José Fontana, entre outros, em 1875. Fixemo-nos, pois, em Abril de 1973, em Bad Muenstereifel, para concluirmos que ninguém poderá esquecer o papel que o PS teve na construção da democracia representativa que hoje temos e o rosto que o protagonizou: Mário Soares. Mais, os avanços significativos da nossa democracia tiveram sempre o PS como seu protagonista essencial. O seu espaço político foi e é um espaço virtuoso porque procura combinar de forma harmoniosa a liberdade e a igualdade, o papel fundamental do Estado e a vitalidade da sociedade civil, o público e o privado, a convivência das forças mais conservadoras com as forças mais radicais, desde que se inscrevam nos valores constitucionais, ou seja, desde que pratiquem aquilo que um dia Habermas designou, falando da União Europeia, como “patriotismo constitucional” (1). O passado deste partido é algo de que os portugueses se devem orgulhar. Os erros também aconteceram, mas o legado é altamente positivo, durante os cerca de 25 anos em que o PS governou este País.
E AGORA, PS?
E, hoje? Respondo, nesta inesperada crise que derrubou o governo e uma maioria absoluta do PS, com considerações sobre o estado da arte, mas também numa lógica prospectiva, olhando mais para o futuro do que para o passado, sendo, todavia, certo que é necessário corrigir o que nele persiste de errado ou insuficiente. De resto, é disso mesmo que se trata no processo de escolha do secretário-geral que irá suceder a António Costa.
Se o diagnóstico é sobre o passado, o bom e o mau, o objectivo, todavia, é a resposta aos desafios que temos pela frente e a mudança para melhor, como forma de honrar esse passado de prestígio. O balanço deve ser sobre o partido, mas também sobre a sociedade portuguesa, onde ele teve uma impactante intervenção, sobretudo durante os anos em que governou.
A primeira observação que me parece dever avançar é a que resulta do reconhecimento das profundas mudanças que estão a acontecer nas sociedades contemporâneas e, consequentemente, da pergunta que se impõe: está o PS a mover-se tendo realmente em conta estas mudanças? Temo que a minha resposta não possa ser inteiramente positiva se olharmos para o passado mais recente. Não me parece que o PS tenha estado a responder com criatividade, eficácia e empenho prospectivo aos desafios que estão aí à nossa frente. E se não o fez ou fizer, enquanto partido, dificilmente o poderá fazer enquanto governo, por razões que são fáceis de compreender. Enquanto partido, sofre, em geral, as dificuldades que todos os partidos socialistas e sociais-democratas estão a sentir e que já se estão a traduzir em resultados eleitorais (refiro-me a resultados eleitorais e às recentes sondagens disponíveis) pouco entusiasmantes, na Espanha, na França, na Alemanha, na Itália ou na Grécia. Sofre as dificuldades que os partidos do chamado establishment – os da alternância democrática, os do centro-esquerda, mas também os do centro centro-direita – estão a sofrer e que se estão a traduzir na progressiva fragmentação dos sistemas de partidos. Esta fragmentação já está em curso também em Portugal e de forma acelerada pelo que nos dizem as mais recentes sondagens, a ponto de os dois partidos da alternância, PS e PSD, já só exibirem cerca de 50% do eleitorado, em conjunto. Veremos nas próximas eleições. Ou seja, o próprio PS está a sofrer os efeitos da progressiva redução da política à sua dimensão de puro “management”, à identificação de governo com governança (“governance”), a uma prática política sem alma e à perda de uma vocação hegemónica que possa conduzi-lo à formação de um bloco histórico (Gramsci), envolvendo as forças sociais com maior capacidade de propulsão histórica, capaz de conduzir o país para um futuro sólido, em vez de promover cada vez mais um discurso de comiseração e caritativo ao mesmo tempo que mantém taxas de sobrecarga fiscal sobre a classe média absolutamente incomportáveis. Ou seja, o PS tem vindo a praticar uma política de movimento por inércia, fundada num pragmatismo táctico que não prenuncia tempos de esperança, como devia ser sua vocação enquanto partido de esquerda. Também o PS sofre de “algebrose”, o discurso obsessivo dos grandes números, a obsessão pelas contas certas e uma visão puramente contabilística da político económico-financeira.
Internamente, o PS mantém uma estrutura orgânica pouco dinâmica ou mesmo inadequada aos tempos que vivemos: totalmente dependente do Estado; paralisado nas suas estruturas orgânicas (por exemplo, no Gabinete de Estudos, na Fundação “Res Publica”, no – lamentavelmente desaparecido – “Acção Socialista”, nas revistas de pensamento político); presença diminuta e apagada no universo sindical e, em geral, nas organizações da sociedade civil (veja-se o que tem acontecido na área do socorro de emergência, nos bombeiros), designadamente nos novos movimentos por causas, na comunicação social, nas universidades; alheamento em relação ao papel das grandes plataformas digitais e ao seu papel na mobilização da cidadania (lembro que um dos pontos fortes da fracassada liderança do Labour de Jeremy Corbyn, foi a plataforma “Momentum”); posição incerta sobre o futuro da União Europeia (a opção seria ou pela constitucionalização da União ou pela lógica simplesmente intergovernamental ou funcionalista). O PS parece ter estado a mover-se exclusivamente concebendo a política como pura comunicação instrumental para o consenso, em linha com a sua visão de puro pragmatismo governamental e com a sua dependência do aparelho de Estado, incapaz de metabolizar as profundas mudanças que estão a acontecer no plano da sociedade civil, designadamente graças à rede, à inteligência artificial e à globalização, sobretudo a globalização financeira, migratória e das grandes plataformas digitais.
A POLÍTICA DEMOCRÁTICA
E A QUESTÃO DAS FONTES DO PODER
Num ensaio que aqui publiquei, “A Política na Era do Algoritmo” (2), falava de três “constituencies” que hoje estão na origem constitutiva do poder, mesmo no plano do Estado-Nação: a do cidadão contribuinte (a original), a dos credores financeiros internacionais que financiam, através do mercado financeiro internacional, as dívidas soberanas e a das grandes plataformas digitais que contratualizam informalmente com a cidadania a prestação de serviços e acesso à informação e à produção de conteúdos, numa dimensão que é profunda, individualizada e simplesmente gigantesca, com fortes efeitos sobre o comportamento político da cidadania, como se sabe. Esta composição das fontes do poder e da soberania deverá ser objecto de cuidada ponderação pelas forças de governo e pela União Europeia de forma a evitar a erosão definitiva da “constituency” originária, a única sujeita a “accountability” pela cidadania, e, com isso, evitar a destruição da própria democracia representativa. O recente episódio dos Certificados de Aforro dá-nos uma ideia muito precisa da desvalorização da centralidade do cidadão contribuinte na política financeira do Estado a favor do capital financeiro, nacional e internacional (3).
A não assunção crítica destes factores implicará um esvaziamento da política democrática e da deliberação pública, grave sobretudo ao nível de partidos que têm o particular dever, enquanto se reivindicam de esquerda, de garantir a promoção da política democrática e representativa, ou seja, de garantir que a soberania do cidadão contribuinte não é definitivamente confiscada por poderes não sujeitos a “accountability” política. Bem pelo contrário, é seu dever promoverem a evolução para uma democracia deliberativa, a única que, mantendo a representação, pode resolver o problema da cisão entre representantes e representados (4).
A INFILTRAÇÃO IDEOLÓGICA
E A IDENTIDADE DO PS
Acresce a tudo isto que a este desvio para um excessivo pragmatismo (eleitoral) de governo, sem alma nem clareza ideológica, sem uma cartografia cognitiva exigente ou sem o suporte de uma grande narrativa ou de uma utopia mobilizadora (5), que até pode ser a de uma democracia deliberativa (Camponês, Ferreira e Rodrígues-Díaz, 2020) que confira mais poder ao cidadão no interior do sistema representativo, se veio a juntar a importação de perigosos produtos ideologicamente tóxicos, assumidos como se neles pudesse acontecer a redenção ideológica de um partido que deixou de cuidar das questões doutrinárias e da sua própria identidade político-ideal. Refiro-me à ideologia woke, ao politicamente correcto, à conversa enjoativa da linguagem inclusiva e neutra, ao radicalismo da ideologia de género, que vê a relação homem-mulher como uma mera relação de poder, e ao revisionismo histórico (6). A forma como estas ideologias têm vindo a evoluir, designadamente galgando os espaços partidários dos partidos do establishment e os espaços institucionais, assumindo cada vez mais dimensão normativa nas instituições nacionais e internacionais e impondo-se na opinião pública e na sociedade através de estereótipos com força de coacção moral, em muito tem contribuído para alimentar a ideologia iliberal da direita radical que as identifica, embora errada e instrumentalmente, com a própria mundividência liberal, sua inimiga jurada, desde os tempos do romantismo do século XIX. A intrusão daquelas ideologias – que de liberais, afinal, nada têm, sendo, pelo contrário, suas adversárias – na mundividência dos partidos socialistas e sociais-democratas, que, pelo contrário, radicam e se filiam no iluminismo, é facilitada por uma ideologia de tipo orgânico que, por um lado, rejeita o próprio património liberal (que está na matriz da nossa própria civilização – veja-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789) e, por outro, se afastou da tradição marxista, sem se preocupar em encontrar uma consistente mundividência alternativa em linha com os novos tempos. Eu próprio tentei uma redefinição da doutrina em Política e Democracia na Era Digital (7), desenvolvendo e actualizando, neste livro, a que já apresentara na Universidade de Verão do PS, em Santarém, em 2015. Os trabalhistas ingleses tentaram esse aggiornamento nos anos cinquenta, com Hugh Gaitskell, mas somente em 1985, com Neil Kinnock, e, depois, com John Smith e Tony Blair, viria a ser desenvolvido na forma de New Labour ou de Terceira Via, tão execrada pelos sociais-democratas tradicionais e, mais tarde, até pelo próprio Labour de Jeremy Corbyn, com os “magníficos” resultados que se conhece (e que aqui critiquei várias vezes, durante o período da sua liderança). O recomeço do Labour a partir de 1997 (data em que, após a consolidação interna do New Labour, Blair iniciou a sua caminhada governativa), assumido explicitamente pela liderança de Keir Starmer, está a projectar o Labour de tal modo que poderá vir a ser vencedor absoluto nas próximas eleições (com mais de 20 pontos acima dos conservadores, em recente sondagem de Outubro). Por sua vez, o SPD fez, em 1959, esta operação de libertação da tradição marxista e de regresso ao iluminismo no famoso Congresso de Bad Godesberg. Um e o outro, na sequência destas mudanças, viriam a conquistar o poder e a exercê-lo durante bastante tempo. Na verdade, tratou-se do abandono da sua identidade como partidos-igreja para assumirem mais a forma de catch-all-parties, na sequência do crescimento da “middle class” e da necessidade de lhe corresponder politicamente. O PS de Abril manteve, todavia, na sua Declaração de Princípios de 1974, uma posição, certamente por força da conjuntura que então se vivia, muito alinhada com as teses e os princípios marxistas (“sociedade sem classes” e colectivização dos meios de produção e de distribuição), só mais tarde evoluindo paulatinamente para posições mais moderadas, mas sem grandes rupturas de fundo, designadamente em dois aspectos essenciais: na manutenção da sua rejeição do património liberal clássico (e apesar de, como disse, o iluminismo ser a filosofia em que necessariamente se inscreve), que sempre considerou como sendo de direita (apesar de existir um filão chamado socialismo liberal, que vai de Stuart Mill a Hobhouse, Hobson, Capitini e Calogero, Rosselli, Dewey, Bobbio e o Partito d’Azione italiano) (8), e na assunção orgânica do predomínio da ideia de comunidade sobre a ideia de sociedade, um velho resquício sobrevivente do marxismo, e não tanto da teoria de Toennies ou de Max Weber. Uma coisa é certa: não se deve confundir o património liberal clássico com a sua reinterpretação pelos partidos liberais, que sempre se colocaram à direita, por razões que são historicamente explicáveis.
AGGIORNAMENTO
Na verdade, o PS, ocupado regularmente nas tarefas da governação durante cerca de 25 anos nos 49 da nossa democracia (em rigor, mais 47 do que 49), nunca chegou a efectuar um verdadeiro aggiornamento de fundo da sua doutrina no sentido de um esclarecimento ideológico equivalente ao que o Labour ou o SPD fizeram, sobretudo nestes dois aspectos que referi, o da compatibilidade da tradição liberal com a sua própria tradição e identidade (o que tem implicações muito relevantes sobre o modo como são vistos os direitos individuais) e o da remoção desse resquício comunitário (com o equivalente sentimento de pertença, que neste partido ainda é quase exclusivo), que persiste. Falta clareza sobre os limites da intervenção do Estado e sobre uma estratégia para uma maior eficácia da Administração Pública (que não seja a da máquina fiscal); sobre o papel dos partidos políticos na sociedade; sobre a dinâmica da relação entre o princípio da liberdade e o princípio da igualdade (não se sabendo, hoje, bem qual destes dois princípios tem a primazia, embora o discurso acentue cada vez mais o da igualdade, quando o PS de Mário Soares acentuava o valor da liberdade); sobre a chamada classe “gardée” ou a referência social dominante no discurso do PS; sobre a questão do peso fiscal sobre a cidadania (que está ligada à questão do papel e funções do Estado, que, sendo Estado Social, não é seguramente um “Estado-Caritas”, amigo caritativo dos “pobrezinhos”) (9); sobre a questão da hegemonia ético-política e cultural (que não se reduz a hegemonia política); sobre a relação proactiva com os movimentos sociais por causas; sobre uma estratégia para a projecção no futuro do país e da própria União, entre tantas outras coisas. Mas também sobre a política de justiça, que tem ficado colonizada (ou paralisada) por uma indiferença política centrada na célebre fórmula “à política o que é da política e à justiça o que é da justiça”, como se a justiça fosse coutada de uma corporação blindada relativamente a qualquer tentativa de ordenação ou reordenação por parte da representação política, directa expressão da soberania popular. O que a actual crise parece sublinhar é que a separação dos poderes só vale efectivamente para um dos poderes, precisamente o poder judicial.
O PS VISTO MAIS DE PERTO
A recente tentativa feita por um centro de investigação do ISCTE, encomendada pelo PS, sobre o partido e o poder local não veio alterar no essencial as coisas, nem, de resto, parece ter tido grande sucesso ou sequer divulgação interna como documento fundamental. Por outro lado, a tentativa de criar uma (bela, de resto) revista semestral de pensamento político, Portugal Socialista – Revista Política, bilingue (português-inglês), na altura dirigida pelo actual presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, Luís Pita Ameixa, parece ter ficado pelo caminho, creio que pelo seu número dois. A própria Revista Finisterra (que era propriedade da Fundação José Fontana e que agora é propriedade da Fundação Res Publica), que há muito parece estar um pouco abandonada, mas agora dirigida por Fernando Pereira Marques, em dez anos limitou-se a publicar onze números, acabando por ter somente uma periodicidade anual e não desempenhando, designadamente com iniciativas de mobilização, uma função orgânica e propulsora para a revitalização do universo intelectual e doutrinário em que se inscreve o PS. O Acção Socialista, que tive a honra de dirigir durante três anos e de informatizar, e que, há anos, é dirigido pela deputada Edite Estrela, pouco ou nada contribuiu, nesses anos, para promover o aggiornamento doutrinário do PS, limitando-se a ser um repositório de artigos de pura política interna e de propaganda, sem ambições doutrinárias e ideológicas, até pura e simplesmente desaparecer, ao ser convertido em mero espaço noticioso do site do PS, embora com a designação de Acção Socialista Digital. Na verdade, Edite Estrela, ao tornar o Acção Socialista um “jornal” diário ou uma Newsletter semanal, o que fez foi acabar mesmo com ele. Se já era pouco, agora é mesmo nada. O PS deixou de ter um jornal próprio. Restam o nome e a Directora. Dois nomes, somente, porque a coisa já não existe. E julgo mesmo que do fim do “AS” a generalidade dos militantes ainda nem se apercebeu. A própria Fundação Res Publica, dirigida por Pedro Silva Pereira, que absorveu a Fundação José Fontana e a Fundação Antero de Quental, pouco ou nada tem feito, estando certamente o seu presidente mais ocupado com o Parlamento Europeu, de que é Vice-Presidente, do que com a gestão e a programação da Fundação. Mas ainda houve tempo para criar, entretanto, em Abril de 2021, uma Revista, Res Publica – Revista de Ensaios Políticos, dirigida por si, que publicou, até ao momento, três números. A Fundação Res Publica tem, pois, neste momento, duas Revistas de pensamento político (Finisterra e Res Publica), ambas, na realidade, de periodicidade anual. Uma abundância redundante que, na prática, se converte em nula função orgânica, quando a revitalização ideológica e doutrinária é aquilo de que o PS mais precisa. Em tempos, e é um mero exemplo, a Fundação Antero de Quental, dirigida por Jorge Lacão, foi um importante centro de estudos e de actividade dirigidos ao poder local. Mas, hoje, o que me parece realmente é que o PS, nesta área, anda ao sabor das idiossincracias ou dos humores pessoais de certos seus dirigentes, numa vaga que não se entende.
AFINAL, O QUE É A POLÍTICA?
Tudo isto, que não é pouco, porque se trata de instrumentos preciosos para o robustecimento cultural, ideológico e doutrinário do PS e para a promoção da literacia política dos seus militantes, deveria ser objecto de uma profunda reflexão por aqueles que agora disputam a liderança do pós-António Costa, preparando um futuro que não seja simplesmente o de fazer cálculos tácticos e eleitorais para a conquista do poder político institucional e para a ocupação do aparelho de Estado, deixando como mero adereço o trabalho no campo estritamente político, ideológico, doutrinário e cultural. Viu-se ao que conduz uma política displicente do ponto de vista doutrinário, ético-político e cultural e até programática – ver desbaratado um capital político adquirido com a obtenção de uma maioria absoluta. Isso é o que se tem verificado, estando o PS transformado num mero partido-veículo (para conduzir ao Estado) e tornando residual a sua relação com a sociedade civil, a não ser numa lógica exclusivamente eleitoral e de redução da política à sua dimensão puramente táctica e instrumental. O que acontece é que a política é algo mais vasto e mais denso do que a mera competição eleitoral e, seguramente, também é muito mais do que uma mera “arte do equilíbrio”, como a definiu Fernando Medina, até porque é ela que deve ser a base sobre a qual devem ser construídos os projectos políticos, as próprias competições eleitorais e as soluções de governo. Mas essa função só pode ser desempenhada por um partido que seja já um pequeno universo onde se desenvolve uma vida autónoma e plural capaz de vir a alimentar as forças necessárias para a conquista da hegemonia ético-política e cultural, para a construção de um sólido bloco histórico e para a formação de governos competentes, densos e movidos exclusivamente pela ética pública. Sim, pela ética pública. A política não é, de facto, uma arte para equilibristas talentosos, mas muito mais. Ou para “temperadinhos” que a transformem em arte de sobrevivência. E não é desvitalizando e tornando anémico o partido que depois se pode esperar sucesso na relação com a sociedade civil, nas políticas a desenvolver e nos agentes que têm por missão executá-las e promovê-las.
QUE DOUTRINA PARA O FUTURO
DA UNIÃO EUROPEIA?
O mesmo vale para a política internacional e, sobretudo, para a política europeia, onde não se vê preocupação em posicionar o PS sobre as grandes questões que se põem à União Europeia no plano da sua evolução institucional como entidade política e como protagonista à escala mundial, vendo-se, isso sim, designadamente no Facebook, uns ou umas eurodeputadas a fazerem alegremente turismo pelo mundo fora. Nem se vê também preocupação da Foundation for European Progressive Studies, sediada em Bruxelas e dirigida por uma portuguesa, Maria João Rodrigues, produzir doutrina de fundo sobre o futuro da Europa para responder com novas ideias e propostas à crise por que estão a passar os partidos socialistas ou sociais-democratas da União Europeia, o que contribuiria para que o PS viesse a ter uma posição mais clara e sólida (que não tem) sobre o futuro da União. O que é grave, conhecendo nós a matriz europeísta do próprio partido, para a qual muito contribuiu o seu fundador Mário Soares.
Estamos, pois, numa situação que mereceria, agora que o PS tem meio século e disputa a liderança com jovens quadros com alguma experiência política no terreno, uma atenção particular, fazendo um aggiornamento profundo que toque em todos estes aspectos e superando essa ideia que começa a singrar na opinião pública de que este partido já mais não é do que uma enorme federação de interesses pessoais em busca de colo na gigantesca máquina do Estado e uma boa plataforma para descolar em direcção a Bruxelas e a Estrasburgo. Mas não é essa a vocação do PS, nem o seu passado é compatível com essa condição.
O FUTURO DO PS É TAMBÉM O FUTURO
DA DEMOCRACIA EM PORTUGAL
Por ocasião do aniversário dos seus cinquenta anos o PS foi chamado a escolher um novo secretário-geral na sequência da queda de um governo que dispunha de uma maioria absoluta na Assembleia da República. Uma vida curta e cheia de peripécias pouco abonatórias para o partido. A última deu origem a uma ruptura que levará a uma mudança interna profunda. O meu desejo, qualquer que seja o novo secretário-geral, é a de que o PS saiba sair desta situação algo pantanosa em que se encontra para que o seu passado seja honrado com um futuro que seja também digno também de boa memória. Fico a aguardar as moções de estratégia dos candidatos para conhecer as linhas de orientação de cada um quer sobre o partido quer sobre o País. JAS@11-2023
NOTAS
(1) Habermas, J. “Cittadinanza e Identità Nazionale”, In Micromega, 5/91, 123-146.
(2) “A Política na Era do Algoritmo”: https://joaodealmeidasantos.com/2023/04/11/ensaio-29/
(3) Veja o meu artigo “Confissões de um Aforrador”: .https://wordpress.com/post/joaodealmeidasantos.com/13068).
(4) Veja o meu texto sobre a Democracia Deliberativa em Camponês, Ferreira e Rodríguez-Díaz, Estudos do Agendamento, Covilhã, Labcom, 2020, pp. 137-167: https://labcomca.ubi.pt/estudos-do-agendamento-teoria-desenvolvimentos-e-desafios-50-anos-depois/
(5). Recentemente, em artigo em “El País”, o presidente de Más País, e um dos fundadores de Podemos, Iñigo Errejón, falava da necessidade de regressar a uma “política que volte a ser ingénua e utópica”, 14.04.23, pág. 11.
(6) Veja a minha crítica a estas ideologias em “Manifesto – A Lavandaria Semiótica e ouras coisas do mesmo jaez”: https://joaodealmeidasantos.com/2023/04/04/manifesto/ e em “O Desafio Woke”, de 18 de Outubro de 2023: https://wordpress.com/post/joaodealmeidasantos.com/13906
(7) Lisboa, Parsifal, 2020, pp. 15-47 e 133-153.
(8) Veja o meu livro Paradoxos da Democracia, Lisboa, Fenda, 1998, pp. 65-68.
(9) Veja o meu artigo sobre “O Estado-Caritas”: https://joaodealmeidasantos.com/2023/03/21/artigo-96/)

O PS E A CRISE POLÍTICA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 11-2023
ESTA INESPERADA CRISE POLÍTICA, que dará lugar a novas eleições e a uma nova liderança no partido que tinha maioria absoluta no Parlamento, o PS, já levou a algumas interpretações que introduzem novos factores disruptivos na crise. Nem falo da troca de nomes na transcrição das escutas ou da decisão do juiz de instrução relativamente à fragilidade dos indícios. Mas, falo, por exemplo, da identificação da crise como lawfare, onde o direito substitui, “com vantagem”, as velhas “botas cardadas” para mudança de regime ou de governo. A sequência de acontecimentos com sede no Palácio de Belém pode mesmo levar a esta interpretação. Ou seja, que o comunicado da PGR tenha tido a chancela da Presidência. Tenho poucas dúvidas de que não tenha sido assim. Lawfare à portuguesa. Esta interpretação é muito abrangente porque inclui não só o poder judicial como os mandantes, que podem ser internos ou externos a este poder, internos ou externos ao próprio poder político ou ao poder económico. De resto, sobre este assunto já há uma vasta bibliografia que descreve minuciosamente o processo de aliança entre o poder judicial e o poder mediático para a desconstrução política do poder legítimo, aquele que resulta do mandato popular. Esta aliança foi analisada, por exemplo, por Alain Minc na obra L’ivresse démocratique (Paris, Gallimard, 1995) e em Au nom de la Loi (Paris, Gallimard, 1998). O caso de Lula da Silva é de todos nós conhecido – Lawfare.
Eu próprio já aqui escrevi sobre este assunto: “Lawfare. O Direito como Arma”, em 24.12.2020: (https://joaodealmeidasantos.com/2020/11/).
1.
Com a imensidão de instrumentos de comunicação hoje disponíveis é difícil que algo possa escapar ao olhar do público e, por isso, a democracia só poderá sobreviver se respeitar rigorosamente as exigências da ética pública e mantiver um rigoroso funcionamento de controlo interno através do sistema de checks and balances. E cabe ao poder político, enquanto portador do mandato popular, garantir a efectiva separação de poderes, criando mecanismos que impeçam eficazmente a injunção ilegítima do poder político sobre o poder judicial ou a injunção ilegítima do poder judicial sobre o poder político. A separação dos poderes deve funcionar em ambos os sentidos. E não num só sentido, como parece estar a acontecer. O poder financeiro que hoje se concentra no Estado é suficiente para que este esteja permanentemente a ser condicionado pelos poderes fortes da economia e das finanças, à custa da permeabilidade dos agentes políticos à força do dinheiro, levando naturalmente a que seja inevitável e devida a intervenção do poder judicial. Mas também é evidente que cada vez mais se vai verificando uma intromissão excessiva do poder judiciário na política (conhecida com judicialização da política), rompendo a geometria da separação de poderes e promovendo até a paralisia da acção política. Esta intromissão vem sendo feita em aliança com o poder mediático, atropelando até a própria lei. O exemplo mais clamoroso é o do “segredo de justiça”. Por outro lado, algumas figuras penais são de tal ordem vagas que permitem injunções altamente problemáticas junto do poder político. Estou a pensar concretamente no crime de tráfico de influência (art. 335.º do Código Penal).
2.
A verdade é que a crise está aí e, posto isto, o que interessa é olhar para o futuro, para o que aí vem. E o que aí vem é um novo parlamento, um novo governo e novos protagonistas no centro do sistema. Uma coisa é certa: haverá uma recomposição, mais ou menos profunda, da geometria política, provavelmente com a densificação da fragmentação do sistema de partidos. Pode até vir a verificar-se que os dois principais partidos (os partidos da alternância) deixem de ter, em conjunto, mais de 50% do eleitorado (é para aí, para o limiar de 50%, que apontam as mais recentes sondagens, quando nas anteriores eleições a soma foi de 69%). O que representaria uma mudança substancial no sistema de partidos. Pode também acontecer em Portugal o que já está a acontecer noutros países, com a direita radical a crescer de forma muito significativa. Basta lembrar o que está a acontecer na Alemanha: nas sondagens disponíveis, o AfD já ultrapassou o SPD e é o segundo partido (uma das sondagens, a do Instituto Forsa, de Setembro, dá-lhe mais quatro pontos do que o SPD: 21% contra 17% do SPD e 27% da CDU/CSU, tendência que já se vem verificando há algum tempo). Na Itália, é a direita radical que governa, tendo acabado de aprovar um “desenho de lei constitucional” que eleva o poder executivo a pilar central de todo o sistema democrático (veja o meu artigo “O Modelo Democrático da Direita Radical”: https://joaodealmeidasantos.com/2023/11/08/artigo-128/) e que poderá vir a fazer doutrina para toda a direita radical. Dois países muito importantes na União Europeia. Entre nós, o PSD parece, com esta liderança, não descolar, cada vez mais assediado politicamente pelo CHEGA, que, a crer-se nas mais recentes sondagens, já representará 16% ou 17% do eleitorado. Verifica-se um enorme deficit de propostas programáticas e, quando as apresenta, mais parece que são inspiradas, ainda que em versão alternativa, nas do PS. Quase se poderia dizer que se trata do mesmo, mas com nuances diferentes. Depois, há o problema das mãos atadas de Luís Montenegro relativamente ao CHEGA, sendo quase certo que o PSD não poderá chegar ao governo do país sem o apoio deste partido. Mas prevejo que esta posição acabe por mudar – Passos Coelho aludiu (muito indirectamente) a este facto, sublinhando que “o CHEGA não é um partido antidemocrático” e que “tem toda a legitimidade de existir”. As sondagens mais recentes apontam, de facto, para um enorme crescimento eleitoral deste partido. A verdade é que quanto mais proscrito pelos defensores do politicamente correcto mais ele tem crescido. É um facto, não uma opinião.
3.
Quanto ao PS, depois dos permanentes desaires a que esteve sujeito o seu governo durante esta sua curta vida de cerca de dezanove meses, está agora perante o desafio de escolher uma nova liderança e, espera-se, uma nova reconfiguração política e programática. Há muitas coisas no PS que, como se vê, não estão bem e, por isso, é necessário mudar. E mudar profundamente. A área política onde o PS se inscreve está, como se sabe, em grave crise um pouco por todo o lado e é necessário e urgente proceder a uma mudança interna e a uma viragem programática que saia do círculo vicioso da “política caritas” ou do “Estado-Caritas”. Máximo de impostos para uma política esmoler. Neste e noutros importantes dossiers o próximo líder tem de ser muito claro e convincente para os que professam a social-democracia ou o socialismo democrático de forma convicta. Por exemplo, uma atenção à vida interna do PS, pois o que parece é que o partido se encontra em estado comatoso, funcionando mais como uma enorme federação de interesses pessoais do que como uma formação portadora de uma robusta ética pública e de um projecto ideal, ético-político, transformador e de futuro – a sua verdadeira matriz. Entre tantos dossiers de enorme importância, o da política fiscal é um deles, não sendo aceitável que mais pareça uma voraz política contabilística do que uma política inscrita na justiça e na moderação fiscal, numa visão integrada que compatibilize direitos e liberdade do cidadão contribuinte com uma visão eficiente, mas não caritativa ou esmoler, do Estado social. Na verdade, o conjunto dos impostos directos e indirectos (mais taxas e multas) representa um violento saque fiscal aos cidadãos. Acresce que só pouco mais de metade dos agregados fiscais pagam IRS. Esses, os que apostavam nos anteriores certificados de aforro e que o Ministro Medina castigou, em nome do bem estar dos bancos (veja o meu artigo sobre este assunto: “Confissões de um Aforrador” – https://joaodealmeidasantos.com/2023/06/06/artigo-105/ ). Mas até mesmo no plano da União Europeia o PS deveria promover uma visão clara acerca do sistema institucional e político – o que também não se verifica. Se me perguntarem se o PS defende uma visão funcionalista ou uma visão constitucionalista da integração política europeia, confesso que não saberei responder. São muitas as frentes que requerem clarificação por parte dos candidatos à liderança, não bastando limitar-se a falar de continuidade, de contas certas e de Estado social. Mas também não me parece razoável que em eleições internas não se diga uma palavra sobre o partido que se quer liderar, sabendo-se que este vive graves dificuldades e problemas que se torna necessário resolver. Nas actuais circunstâncias, é fácil dizer que o que importa é o combate das legislativas, que se avizinha, tendo a próxima liderança pouco tempo para se preparar. Nunca é o momento certo para resolver o que há a resolver. A verdade é que toda a legislatura tem revelado gravíssimos problemas internos que se repercutiram na governação. Em boa verdade, os problemas só se resolvem na raiz, a montante e não com fugas para a frente. Se não se afrontarem agora, não se afrontarão no futuro. O futuro líder tem responsabilidades acrescidas.
4.
O que digo não é de agora, pois há muito que venho reflectindo e publicando sobre estas questões. E faço-o não só pela minha própria posição política pessoal, mas também porque considero que o espaço político ocupado pelo PS é, em si, um espaço político virtuoso. E também porque reconheço as graves dificuldades por que está a passar a área política em que se inscreve o PS, designadamente nos países da União Europeia, ao mesmo tempo que vemos a direita radical crescer a olhos vistos. É por isso que o próximo líder do PS terá grandes responsabilidades, não só no imediato, mas também para que no futuro não aconteça o que tem vindo a acontecer a muitos partidos socialistas e sociais-democratas. Julgo não ser necessário enumerá-los.
5.
Pedro Nuno Santos parte com uma clara vantagem. Que é até independente da sua radicação no aparelho partidário – é aguerrido, lutador e livre. Não se deve esquecer que provavelmente foi o único dos dirigentes em funções no actual PS que sempre falou (e com sentido de responsabilidade) sem pedir autorização ao líder. E isso é uma marca de liberdade, de personalidade e de fortes convicções. Mas não estou tão certo de que o seu desenho doutrinário e de enquadramento político esteja totalmente alinhado com as exigências de mudança que se estão a impor cada vez mais à medida que o tempo passa. Não me passou despercebida a ausência de qualquer referência programática relativa ao próprio partido no seu discurso de candidatura. E também estarei atento ao séquito que o acompanhará. O que já vi não me impressiona por aí além. Acontece que sem essa mudança não será possível travar o processo, visível à vista desarmada, de retracção do espaço político em que o PS se inscreve. Mas tenhamos esperança que a mudança venha realmente a acontecer.

O MODELO DE DEMOCRACIA DA DIREITA RADICAL
O Caso Italiano: "Il Premierato"
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 11-2023
PUBLIQUEI AQUI vários artigos sobre a direita radical e populista (veja, por exemplo, o artigo “A Democracia Iliberal”, publicado aqui em Dezembro de 2022), onde procurava evidenciar o modelo de democracia que ela defende: no essencial, trata-se de um decisionismo centrado no reforço político do poder executivo e no enfraquecimento e limitação dos outros poderes: do poder judicial, do poder legislativo, do poder moderador (PR) e do próprio poder mediático. Estamos, pois, perante um processo deslizante tendente a reforçar progressivamente os poderes dos líderes/chefes de governo. Exemplo: Viktor Orbán (Hungria). O pano de fundo doutrinário é constituído essencialmente pela doutrina do soberanismo e pelo anti-liberalismo. Tudo sem grande clarificação formal ou constitucional, sobretudo em relação à clássica geometria institucional da democracia representativa. Mas, na passada Sexta-Feira, dia três de Novembro, em Itália, foi aprovado pelo Conselho de Ministros (que integra os partidos Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e é chefiado por Giorgia Meloni, líder do FdI*), por unanimidade, um “desenho de lei constitucional“ – já conhecido como ddl do “Premierato” – que vai no mesmo sentido, mas que torna tudo constitucionalmente mais claro. Vejamos.
A – O Presidente do Conselho de Ministros (PCM) passa a ser directamente eleito por sufrágio universal directo e, coisa que não é de somenos, através de um único boletim de voto quer para o PCM quer para as duas Câmaras (“Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale”). De sublinhar esta integração das listas para a Câmara e para o Senado na do líder candidato ao cargo de chefe do governo. É fácil compreender que se pretende hiperpersonalizar a eleição. O presidencialismo de que falava Giorgia Meloni é, afinal, o presidencialismo do PCM.
B – O Presidente da República (PR) continua a ser eleito por um colégio eleitoral e vê as suas competências totalmente pré-determinadas, retirando-lhe margem de manobra no processo de formação ou de crise do governo e de dissolução do parlamento: a) o governo apresenta-se no Parlamento para obtenção da confiança e, se não a obtiver, o PR volta a indigitar o vencedor das eleições; não a obtendo, de novo, o PR obrigatoriamente dissolve o parlamento e convoca eleições; b) em caso de demissão do PCM, o PR poderá indigitar um parlamentar eleito na lista do chefe do executivo eleito, que, todavia, terá de manter o programa que foi inicialmente aprovado pelo Parlamento (“per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia” ); c) voltando a não haver confiança parlamentar, ou em caso de demissão ou renúncia, o PR deverá dissolver o parlamento e convocar eleições.
C – Passa a haver para o vencedor das eleições um prémio de maioria que lhe atribuirá 55% dos mandatos em ambas as câmaras (sendo necessário atingir uma percentagem mínima ou então uma segunda volta entre os dois candidatos mais votados).
É este, no essencial, o conteúdo do “desenho de lei constitucional” (também acabam os senadores vitalícios de nomeação presidencial, mantendo-se apenas os ex-PR) que deverá ser agora submetido ao Parlamento para discussão e votação, sendo necessário, para a sua aprovação, uma maioria qualificada de dois terços. Não sendo obtida esta maioria qualificada proceder-se-á a um referendo de confirmação, como já anunciado por Giorgia Meloni. É necessário sublinhar alguns aspectos muito importantes:
1. A legitimidade política do PCM sai fortemente reforçada, embora as suas competências se mantenham inalteradas.
2. Estando rigorosamente previstas e definidas, as competências do PR ficam, na prática, congeladas, limitando-se este a ser um mero notário, sem qualquer de liberdade de acção.
3. A legitimidade política do PCM, do ponto de vista da sua génese, passa a ser superior à do PR.
4. Com prémio de maioria e com soluções obrigatórias para as crises internas de governo, que se deverão circunscrever ao interior da maioria e ao programa de governo aprovado no início da legislatura, a maioria fica, ipso facto, blindada.
5. Todo este processo vem limitar não só os poderes do PR, mas também alterar a natureza do sistema representativo, que assenta no princípio do mandato não imperativo e na consequente possibilidade de livre composição de maiorias parlamentares para suporte de um governo. Com efeito, como vimos, a génese do governo já não resulta da composição parlamentar pois passa a ser determinada pela eleição directa do chefe do governo. Sendo, de facto, a maioria o corpo parlamentar (poder-se-ia até dizer o “corpo orgânico”) do chefe de governo eleito (o boletim de voto único leva-me a concluir isto), ainda por cima reforçada como maioria absoluta pelo prémio de maioria, todo o processo se centra na figura do líder e chefe do governo, subalternizando a função do PR, que deixa de ser poder moderador para passar a ser um mero notário dos actos do executivo. Mas também o mandato parlamentar resulta diminuído, ficando, neste aspecto, somente com a competência de aprovar ou rejeitar o executivo e o seu primeiro programa, deixando de lhe estar confiada, sequer em tese, a possibilidade de livre formação de uma maioria para uma solução governativa alternativa ou de promover a alteração do programa de governo. É que, em tese, cada mandato parlamentar é totalmente livre, devendo, portanto, poder exprimir-se livremente para gerar uma maioria de governo. Mas assim não é. O governo não sai da maioria parlamentar, mas sim directamente do voto para o líder do executivo. Trata-se, de algum modo, de uma solução plebiscitária e de um hiperpersonalismo político, onde a figura do líder determina todo o processo, a montante, mas também a jusante. A blindagem na formação do governo, sempre interna à maioria obtida pelo líder e candidato à chefia do governo, é prova disso. Do que se trata é, de facto, de um presidencialismo do primeiro-ministro.
6. O que aqui temos é uma desvalorização do poder representativo, como instância fundamental de intermediação, do mandato não imperativo e do poder moderador, com o consequente agigantamento do poder do executivo e da sua liderança. Deste modo, este “desenho de lei constitucional” vem dar corpo e forma à solução que até aqui vinha sendo imposta na prática, passo a passo, pela direita radical no poder. Presidencialismo do primeiro-ministro, esvaziamento do poder político do PR, mas também subtracção de um poder do parlamento: o da livre composição parlamentar para uma solução governativa ou da promoção de uma alteração do programa de governo, que fica inalterável. A solução resulta directamente do voto e não requer a expressão explícita da vontade do parlamento, mas tão-só a sua não oposição. Mas mesmo em caso de oposição nunca haverá lugar a uma qualquer alternativa política e programática – nem o presidente tem poderes para isso nem o parlamento a pode gerar pois ela dará automaticamente lugar a novas eleições. É neste sentido que falo em blindagem.
7. Giorgia Meloni foi clara a este respeito: não haverá mais lugar a práticas transformistas, a jogos de poder, a “ribaltoni”, a governos de técnicos ou a maiorias “arco-íris”. Em 75 anos a Itália teve 68 governos. E nos últimos 20 anos 12 PCM. A proposta aponta no sentido de retirar poder às instâncias de intermediação. Tudo em nome da estabilidade e da duração dos governos, mas, no fundo, tudo assente na doutrina de um decisionismo tendencialmente adverso à matriz liberal da democracia representativa.
8. Dir-se-á que o presidencialismo é equivalente a esta solução. Não é. Aqui o presidencialismo é do chefe do governo, daquele que tem o poder executivo nas mãos e apoiado por uma maioria absoluta, sendo o PR mero notário das decisões de outrem por imposição constitucional, e estando o processo de gestão do mandato obrigatoriamente confinado às fronteiras internas dessa maioria, sem possibilidade de alternativa exterior, por eventual acção do PR. Assim não sendo, a única saída é a de novas eleições. É claro que o poder de desencadear eleições fica nas mãos da maioria, já que o segundo indigitado, caso exista, em situação de crise pode renunciar, provocando-as automaticamente. Ou seja, este terá nas suas mãos o poder de dissolução do parlamento e de provocar eleições. Mas acresce que, ao contrário do presidencialismo, as câmaras são aqui eleitas em boletim de voto único, onde consta a figura do candidato a chefe do governo como polarizadora do voto. Uma amálgama que não se verifica nos regimes presidencialistas, onde as câmaras são eleitas autonomamente, precisamente para condicionar o poder presidencial, garantindo uma legitimidade própria. Pelo contrário, aqui poderá ser sempre invocado o argumento de que foi a liderança que, por efeito de arrastamento, “puxou” pelo voto nas câmaras.
9. Duas eleições numa só: PCM e parlamentares eleitos na sua lista. Um só processo, dois resultados. O boletim único encabeçado pelo candidato a PCM alude a um só corpo cuja cabeça é representada pelo líder. Neste desenho, é evidente que o parlamento é desvalorizado, surgindo como uma espécie de função orgânica do líder, e o PR também, pois não só tem uma legitimidade inferior como todas a suas competências ficam minuciosamente pré-determinadas.
10. O “desenho de lei constitucional“ de Giorgia Meloni é coerente com a doutrina que a inspira e intervém sobre a constituição nos limites do sistema representativo, fazendo lembrar a arquitectura da nossa democracia local, onde todos os poderes estão concentrados no Presidente da Câmara e onde a Assembleia Municipal exibe poderes diminutos, pois, no essencial (na minha interpretação), pode somente aprovar ou rejeitar as iniciativas do executivo que obrigatoriamente tenham de lhe ser submetidas.
11. A ser aprovada, por maioria qualificada ou por referendo, esta “mãe de todas as reformas” (Meloni) a direita passa a ter um modelo constitucional coerente com aquela que tem vindo a ser a sua prática, digamos, informal.
- Sobre Giorgia Meloni e o partido Fratelli d’Italia veja o meu artigo “Os Herdeiros de Mussolini. A Terceira Geração”, publicado aqui a 12 de Julho de 2023. JAS@11-2023

NOTÍCIA SOBRE DOIS LIVROS DA AUTORIA DE JOÃO DE ALMEIDA SANTOS
A DOR E O SUBLIME. Ensaios sobre a Arte (S. João do Estoril, ACA Edições, 2023, 232 pág.s) POLÍTICA E IDEOLOGIA NA ERA DO ALGORITMO (S. João de Estoril, ACA Edições, 2023, 254 pág.s)
1.
O PRIMEIRO LIVRO será lançado no próximo dia 17 DE NOVEMBRO DE 2023, às 18:00, na BIBLIOTECA MUNICIPAL EDUARDO LOURENÇO, na GUARDA. Apresenta o livro o DR. ANTÓNIO JOSÉ DIAS DE ALMEIDA
2.
O SEGUNDO é um novo livro, que dentro de dias será lançado em formato E-BOOK pela ACA Edições, por ocasião do PRIMEIRO ANIVERSÁRIO da Associação Cultural Azarujinha (24.10.2022/24.10.2023).
3.
Partilho hoje, aqui, a CAPA, a FICHA TÉCNICA, o ÍNDICE e a INTRODUÇÃO do segundo livro, Política e Ideologia na Era do Algoritmo.
4.
Esta obra ficará DISPONÍVEL EM VERSÃO DIGITAL DENTRO DE DIAS, podendo desde já ser ENCOMENDADA através do E-MAIL acazarujinha@gmail.com. O CUSTO do e-book será de 2,99€, valor que será descontado em futura aquisição da obra on paper.

A Capa do Livro. JAS. 11-2023
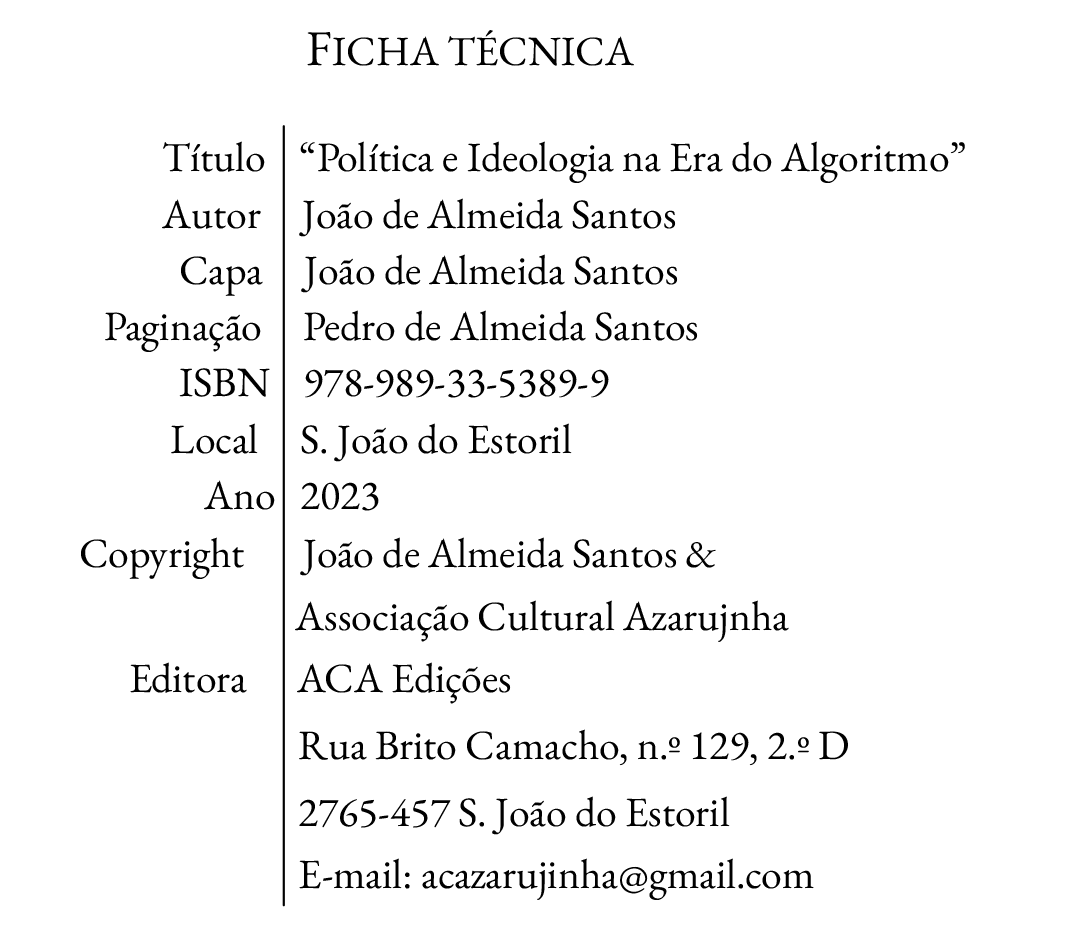
ÍNDICE INTRODUÇÃO I.A POLÍTICA NA ERA DO ALGORITMO A Política na Era do Algoritmo Apocalipse Now? Algoritmocracia Os Novos Spin Doctors e o Populismo Digital A Política Tablóide e a Crise da Democracia II. A DIREITA RADICAL A Democracia Iliberal A Direita Radical A Direita Radical em Itália III. A POLÍTICA DELIBERATIVA A Democracia Deliberativa Globalização, Capitalismo e Democracia IV. POLÍTICA E IDEOLOGIA - A LAVANDARIA SEMIÓTICA Lavandaria Semiótica WOKE Os Novos Progressistas Ideologia de Género e Luta de Classes Os Revisionistas e seus Amigos V. CONCLUSÃO VI. BIBLIOGRAFIA
INTRODUÇÃO
ESTE LIVRO procura recentrar o discurso sobre a política, sobre a sua real configuração, resultante das mudanças estruturais profundas que se estão a verificar na nova sociedade algorítmica. Deste modo, centra-se em questões que, de algum modo, já escapam a um discurso exclusivamente desenvolvido com os instrumentos conceptuais da teoria política clássica. Muda a realidade, devem adequar-se as categorias. Procura, pois, avançar um pouco no discurso da teoria política, tomando naturalmente boa nota de reflexões que já estão a ser desenvolvidas em linha com a mudança. O seu objecto é, pois, a política e as ideologias contemporâneas, aquelas que estão em curso nesta terceira década do século XXI.
O livro tem duas partes. A primeira é uma viagem pelas relações entre a política e as novas tecnologias, os desenvolvimentos que delas decorrem necessariamente, designadamente nos processos que visam a conquista do consenso e que afectam directamente a legitimidade do poder. Concentra-se também nos movimentos da direita radical e populistas: caracterização, novas formas de aproximação à democracia, doutrina, técnicas de captação do consenso e determinação dos seus principais adversários. Destaque para o caso italiano, o partido Fratelli d’Italia, que neste momento governa este país, sendo o seu maior partido. Mas faz também uma dupla incursão: por um lado, naquela que é a nova configuração da política na era digital e da globalização; por outro, no processo evolutivo da democracia para a forma que melhor corresponde à evolução da sociedade civil. Evolução que se exprime numa nova identidade da cidadania e nas suas relações com o poder, no crescimento, transformação e abertura do novo espaço intermédio, como novo espaço público deliberativo, desenvolvendo, consequentemente, uma análise da evolução necessária da democracia representativa para a chamada democracia deliberativa, aquela forma que garante a preservação dos mecanismos essenciais da democracia representativa, mas que, ao mesmo tempo, procura resolver a chamada crise da representação, melhorando e qualificando os processos de formação da decisão política, a sua transparência e a sua legitimidade.
A segunda parte consiste numa desmontagem daquela a que podemos chamar a esquerda identitária dos novos direitos, em todas as suas frentes fundamentais, considerando a implantação que tem vindo a conhecer quer no interior dos partidos do centro-esquerda e do centro-direita quer nas próprias instituições nacionais e internacionais, muitas vezes já sob a forma de lei e de moralidade social tendencialmente hegemónica. Toda ela é dedicada a uma analítica de desconstrução destas frentes de expressão da esquerda identitária dos novos direitos, tendo sobretudo em consideração dois aspectos. O primeiro é a sua clara oposição à visão liberal clássica, que é a matriz da nossa civilização e na qual assenta a própria ideia de democracia representativa, ou melhor, o sistema representativo e o Estado de direito que lhe está associado. O segundo decorre do facto de esta mundividência multissectorial constituir nos dias de hoje a principal linha de combate da direita radical e populista, que, de resto, procura identificá-la instrumentalmente, e erradamente, com todo o sistema, com o establishment, designadamente com a própria mundividência em que este se inscreve. Numa palavra, com a visão liberal clássica da sociedade. Não é, contudo, totalmente nova esta doutrina política, pois ela retoma aquela que era a visão romântica e crítica do iluminismo e do liberalismo. Crítica que, à esquerda, também encontra uma vasta e inteligente argumentação na obra de Marx, sobretudo na Crítica da Filosofia Hegeliana do Direito Público e em Sobre a Questão Hebraica, ambas de 1843. Estas duas linhas de fractura da política contemporânea, populismo e esquerda identitária dos novos direitos, têm-se revelado talvez como as principais clivagens políticas que nos desafiam e que de algum modo têm subalternizado ideologicamente os partidos do establishment, ou da alternância, enquanto intérpretes falhados da longa crise da representação e da própria democracia. Partidos incapazes de se renovarem doutrinariamente, alinhados numa visão simplesmente utilitária e instrumental da política e do poder. Reduzidos à pura tecnogestão dos processos sociais, deixaram a política pura e dura nas mãos daquelas duas tendências. A linguagem cada vez mais asséptica daquelas forças políticas interpreta cada vez menos as expectativas da cidadania, ao mesmo tempo que afunila a política no discurso da macroeconomia, muitas vezes torturando os números de acordo com os seus interesses eleitorais e subtraindo-se às questões socialmente mais delicadas com discursos retoricamente mais caritativos do que estruturais (veja-se o que a este respeito diz Judt, 2015: 353). O discurso sobre o Estado Social é um claro exemplo disso. Exagerando um pouco: peso financeiro e fiscal máximo para eficiência mínima. Estou a pensar em Portugal.
São estes os aspectos essenciais sobre os quais se centra este livro, que é, ao mesmo tempo, uma reflexão analítica e reconstrutiva sobre a política contemporânea, mas também um manifesto contra essa perigosíssima tendência com pretensões hegemónicas que tem servido de pasto abundante e rico à direita radical, a qual, através dela, tem conseguido desferir golpes certeiros sobre o sistema, sobre a própria democracia representativa, a coberto dos excessos e absurdos desta tendência, o wokismo, que agrega as ideologias do politicamente correcto, do identitarismo, da ideologia de género e do revisionismo histórico, que acabam por ser identificadas como ideologias do próprio establishment. Uma identificação que tem como fundamento o facto de o sistema estar a ser infiltrado em excesso por estas ideologias nos próprios partidos, mas também nas instituições. O perigo é duplo: por um lado, tornar-se hegemónico e legítimo o policiamento do pensamento e da linguagem; por outro, dar vasto campo de combate e de afirmação à direita radical, na sua luta contra a evolução da democracia representativa para a sua verdadeira fase reconstrutiva, a democracia deliberativa, a única que, apresentando-se nos antípodas da solução populista, está em linha com o processo evolutivo da democracia representativa (veja-se o capítulo, de minha autoria, “A Política, o Digital e a Democracia Deliberativa” do livro Estudos do Agendamento (Camponez, Ferreira e Rodríguez-Díaz, 2020: 137- 167).
Os clássicos partidos da alternância não têm estado em condições de se confrontar seriamente com estas tendências, por um lado, devido à drástica quebra de tensão ideológica que acompanhou a sua evolução de partidos-igreja para catch-all-parties e à redução da política a governance, a management, a pura tecnogestão dos processos sociais, revestida por técnicas de marketing com vista à conquista instrumental do consenso. Também é dedicada, na primeira parte, uma especial atenção às profundas transformações que os processos de conquista do consenso têm vindo a conhecer, fruto da revolução tecnológica e dos progressos da inteligência artificial, o que não é de somenos, visto que a conquista do consenso é decisiva para a conquista e a legitimidade do poder. Em 1993-1994, a experiência de Silvio Berlusconi, com a construção do seu partido pessoal Forza Italia, já tinha mostrado à exaustão a afinidade entre os processos de conquista das audiências televisivas e de conquista do consenso e a eficácia da aplicação das mesmas técnicas a ambos os processos. Agora, com a inteligência artificial e as grandes plataformas digitais, tudo isto se aperfeiçoa em termos de controlo individual de massas com níveis de eficácia verdadeiramente assustadores. O libro de Shoshana Zuboff sobre o “capitalismo da vigilância” dá-nos abundante conta disso. E os casos da vitória de Donald Trump, em 2016, e do Brexit, também em 2016, são exemplos suficientemente elucidativos desta evolução, tendo-se, entretanto, avançado muito em matéria de controlo comportamental por parte das grandes plataformas, por exemplo, da Google, sendo certo que nada nos diz que estes avanços só sejam aplicados generalizadamente na esfera comercial e não na esfera política, provocando, neste caso, uma fortíssima ruptura na validade dos processos eleitorais e na legitimidade que sempre deles decorreu para efeitos de governação. O livro também dedica uma parte a este assunto.
O que se espera é que as formações políticas com especiais responsabilidades na preservação daquele que é até hoje o melhor e mais justo sistema de autogoverno dos povos, a democracia representativa, metabolizem as profundas mudanças que estão a acontecer e criem mecanismos de segurança e de fiabilidade dos processos democráticos, impedindo duradouramente quaisquer desvios para formas autoritárias e ilegítimas de governo dos povos. Mas para isso é necessário que tomem consciência das profundas transformações que estão a acontecer e ajam de consequência. O que este livro procura propor é isto mesmo, ou seja, uma viagem pela mudança como contributo do autor para a defesa e a promoção dos valores e dos mecanismos que tornam a democracia representativa o melhor e mais justo dos regimes políticos até hoje conhecidos. Os capítulos sobre a democracia deliberativa e sobre a globalização visam precisamente, e numa óptica construtiva, dar conta da necessária evolução que urge promover para solucionar a crise da representação, mas também para pôr no devido lugar os extremos, à direita e à esquerda, impedindo que tomem conta da democracia para subverterem os seus próprios fundamentos. JAS@11-2023
O OCIDENTE EM QUESTÃO
O Conflito no Médio Oriente
Por João de Almeida Santos
![FCO 308 - Israel Travel Advice [WEB] Ed4](https://joaodealmeidasantos.com/wp-content/uploads/2023/10/jas_israel_1jpg.jpg)
“S/Título”. JAS. 10-2023
O CONFLITO Israel-Palestina ganhou subitamente a atenção mundial, sobrepondo-se à devastadora e ilegítima guerra entre a Rússia e a Ucrânia, depois do acto de guerra do Hamas contra Israel e do sangrento massacre de populações israelianas, a que se seguiu uma violenta e mortífera resposta de Israel sobre a Faixa de Gaza. Se o objectivo do Hamas era esse, a guerra, conseguiu-o. Não se tratou de um acidente de percurso. Creio mesmo que este ataque bélico se inscreve num mais amplo movimento político mundial em curso.
1.
Tratou-se, de facto, de um inopinado acto de guerra. Um desafio bélico e sangrento ao poderoso Estado de Israel. E, como era previsível, Israel não deu a outra face e respondeu, atacando o Hamas na Faixa de Gaza e provocando inúmeras mortes na população civil. Danos colaterais inevitáveis pois o Hamas encontra-se confundido com a população civil, um autêntico escudo humano. Danos que, de resto, também aconteceram com o ataque, com milhares de rockets e mísseis, de sete de Outubro, mas a que se juntou, desejado e executado a frio, o enorme e cruel massacre de inocentes israelianos. E esta é uma diferença que tem de ser sublinhada. O mísseis mataram inocentes, de um lado e do outro, mas aqui foi uma matança individualizada, preparada e executada a frio, olhos nos olhos.
2.
Tratou-se de uma acção longamente programada e, portanto, de uma acção consciente e impiedosa, sabendo que o inimigo responderia de forma violenta. Estamos, pois, perante uma guerra desejada e racionalmente programada pelo Hamas.
3.
Esta crise é muito complexa e tem um historial de violência longo e difícil de compreender e resolver. Não se trata de reivindicar tradições territoriais milenares ou de saber quem tem mais direito a ocupar territórios, desde tempos imemoriais. E também nunca será demais lembrar as tentativas bélicas, promovidas por vários Estados árabes, de aniquilar o Estado de Israel, logo desde 1948. A história é conhecida. E a definição territorial está há muito definida: Israel, Faixa de Gaza, Cisjordânia. É aqui que se centra o problema, que reside no estabelecimento, ou não, de dois Estados nos actuais territórios tal como estabelecido pela ONU, em 1947. Pelo meio, há o problema dos colonatos com centenas de milhares de israelianos a ocupar o território da Cisjordânia, espaço de um suposto Estado governado pela Autoridade Nacional Palestiniana (ANP). Um novo Estado e a retirada dos colonatos israelianos – eis a questão. Da Faixa de Gaza há muito, em 2005, sob a batura de Sharon, que Israel se retirou. E há muito que a ANP foi derrotada e de lá expulsa pelo Hamas (2006-2007), que a governa. Em 2017 houve, no Egipto, a assinatura de um acordo global entre o Hamas (que controla a Faixa de Gaza) e a Fatah (que controla a parte árabe da Cisjornânia) com vista à promoção de um Estado palestiniano. Solução que, de resto, em 2000, já o trabalhista Ehud Barak propusera, como veremos.
4.
Há quem ponha a hipótese de um só Estado, binacional ou federal. Coisa algo difícil pois pôr-se-ia de imediato a possibilidade de vir a acontecer rapidamente a hegemonia política israeliana ou árabe (mais provável, porque os árabes já são em maior número) com as complexas consequências que daí poderiam advir. A conquista por via eleitoral do novo Estado e a regressão para um Estado étnico. Problema que é ainda o de hoje e que é da própria democracia, onde não pode haver distinção de condição étnica entre cidadãos de um mesmo Estado. Sabe-se o que aconteceu na Faixa de Gaza em 2007 com a ANP, ou a Fatah, depois da vitória eleitoral do Hamas, em 2006. Esta é, pois, uma solução, que não tem pernas para andar. De resto, a discussão que se travou em Israel acerca da identidade hebraica e democrática do Estado foi condicionada precisamente pela ameaça de pressão demográfica árabe: daí a necessidade de assegurar uma maioria hebraica (Israele, Enciclopedia Treccani). Enquanto Israel ou o eventual futuro Estado palestiniano forem Estados étnicos e não Estados centrados numa constituição baseada nas Cartas de Princípios universais e onde se exija somente o chamado “Verfassungspatriotismus”, o “patriotismo constitucional”, para determinar a cidadania de todos, não será possível avançar nesta delicada solução. Só ela poderia garantir a convivência de duas nações num só Estado (veja-se o que a este propósito diz Tony Judt, em Quando os Factos Mudam, Lisboa, Edições 70, 2015, pág.s 132-133,162, 171). Mas, provavelmente, isso nunca acontecerá, pelas razões expostas.
5.
Há também quem considere que a existência de um Estado palestiniano, por exemplo Tony Judt, seria a melhor garantia para a estabilidade de Israel pois passaria a ter um Estado com quem estabelecer acordos de paz, e não só, acabando com o terrorismo. Mas subsiste o problema dos colonatos e de cerca de 450 mil israelianos que estão sediados na Cisjordânia (a que se juntam os de Jerusalém este), mas também a dimensão do território actualmente ocupado por Israel.
6.
Israel é governado por uma direita radical e tem problemas internos graves muito devido às políticas e às idiossincrasias de Benjamin Netanyahu e à influência dos radicais ortodoxos. Numa palavra, ao radicalismo de direita por ele (e por aqueles a quem se tem aliado) sempre representado. Os trabalhistas já não contam politicamente. Têm neste momento quatro deputados (em 120) na Knesset. E é muito claro que as forças representadas por Netanyahu, sempre activas a rasgar os acordos de Oslo, de 1993, têm gigantescas responsabilidades na evolução violenta do processo. Basta olhar um pouco para a história. De resto, foram elas que promoveram o Hamas (a política do quanto pior melhor) para enfraquecer a mais moderada ANP, com os resultados que se conhece. O objectivo foi sempre o de obstar à criação de um Estado palestiniano. É preciso lembrar que o trabalhista Ehud Barak, que, no partido trabalhista, sucedeu (1999-2003) a Shimon Peres e a Yitzhac Rabin (assassinado por um jovem fanático israeliano), viria a propor, em 2000, em Camp David, a criação de um Estado palestiniano com 73% do território da Cisjordânia (que em 25 anos evoluiria para 90%), 100% do território da Faixa de Gaza e Jerusalém Este (Capital). Arafat não aceitou nem sequer avançou com uma sua proposta (veja Marco Travaglio, “Storia d’Israele”, I-V, em “Il Fatto Quotidiano”, de 14.10 a 19.10). Creio que se se olhar com atenção para todos estes factos não será difícil ver o outro lado da questão: a responsabilidade do Likud e dos ultras na radicalização do conflito. Do outro lado, dominam os radicais, perante uma ANP politicamente muito enfraquecida. Ou seja, as orientações políticas dominantes de ambos os lados não parecem favoráveis a uma solução pacífica do conflito e do direito de ambos os povos a um Estado. Depois, ao que parece, a diáspora israeliana também exibe tradicionalmente soluções políticas mais radicais, sendo menos sensível ao problema da violência e de uma segurança estável. É o que sugere o historiador judeu Tony Judt, na obra que citei. E do outro lado ainda é pior, pois o Hamas nem sequer reconhece o Estado de Israel (apesar de nas eleições de 2006 ter aceitado o princípio de “dois povos, dois Estados”) e os seus amigos, o Hezbollah do Líbano e sobretudo o amigo regime teocrático de Teheran, são inimigos figadais de Israel. Estas companhias não ajudam em nada a uma solução pacífica pois os padres do regime iraniano beijam as mãos manchadas de sangue dos militares do Hamas (declarações do Irão posteriores ao massacre de 7 de Outubro).
7.
Como dizia Tony Judt, há um problema de fundo que obsta a uma solução pacífica do conflito. E esse problema consiste na falta de confiança recíproca, condição essencial para que possa vingar uma solução diplomática (Judt, 2015: 172). Acresce que Israel está rodeado de Estado árabes, que na segunda metade do século XX mostraram querer exterminá-lo pela guerra, mantendo ainda com eles alguma tensão, apesar dos esforços diplomáticos que levaram à normalização das relações com alguns (designadamente com o Egipto e a Jordânia, com os quais mantém relações diplomáticas). Depois, é a própria situação interna de Israel que não ajuda, tendo em conta a sua extrema-direita e a quase inexistência de um centro-esquerda favorável à solução outrora avançada pelo partido trabalhista, numa lógica que custaria a vida a Rabin.
8.
Israel é a única democracia desta região. No território palestiniano não há eleições desde 2006, e este facto não é assunto menor. Mas também é verdade que as dificuldades da democracia israeliana, provocadas em grande parte pelos governos do actual primeiro-ministro, não têm ajudado sequer a uma estabilidade interna necessária, mesmo perante o exterior, e útil para tomar em séria consideração o problema da Palestina e da segurança regional em geral. Bem pelo contrário, a extrema-direita israeliana não se tem mostrado amiga de uma solução de paz e, pelos vistos, nem sequer de verdadeira segurança, como acaba de se verificar, preocupada que estava em prosseguir a política dos colonatos, investindo sobretudo nela a segurança e deixando desprotegida a fronteira com Gaza. E o que, além disso, se verificava é que o Hamas já estava a passar a uma fase de guerra, depois da fase do terrorismo. E isso quer dizer alguma coisa.
9.
Há Estados interessados em agudizar a instabilidade nesta região, a começar pelo Irão, mas não é de descartar que os países que hoje declaram o Ocidente e a matriz da Civilização Ocidental como o inimigo a abater constituam uma ampla frente que favorece este tipo de intervenções. A Rússia faz parte desta frente. Na Ucrânia é também isto que está em causa. A China, de forma mais subtil e sábia, também. O Irão também. Uma parte importante dos movimentos políticos ocidentais não se revê na matriz liberal e iluminista da modernidade. Por exemplo, a nova esquerda identitária. E a extrema-esquerda clássica. Por exemplo, o PCP. E o Bloco de Esquerda. Há uma linha subtil que liga uma certa orientação de esquerda relativa à matriz moderna da civilização (a crítica feroz à democracia burguesa, ao capitalismo, ao actual capitalismo da vigilância, ao imperialismo, à globalização) aos movimentos mais radicalmente anti-ocidentais (no sentido da modernidade) que se estão a movimentar no plano nacional e no plano internacional. Por cá, basta ouvir os excessos da senhora Catarina Martins contra Israel ou ler a proposta facciosa de Resolução desta Esquerda (The Left) no Parlamento Europeu. A estes é necessário lembrar, por exemplo, que Israel, durante meio século, esteve sob ataque bélico cerrado de blocos de países árabes (Egipto, Síria, Iraque, Jordânia, por exemplo) com vista à sua destruição como Estado: 1948, 1967, 1973, 1981 (OLP), 1991 (Iraque).
10.
O iluminismo e a matriz liberal clássica da nossa civilização parecem constituir o horizonte crítico e comum em questão. É ler o filósofo inspirador de Putin, Aleksandr Dugin, para tirar todas as dúvidas. Eles, iluminismo e liberalismo, são também o adversário da extrema-direita ocidental. Trata-se aqui de uma claríssima linha de demarcação que permite separar sem grande dificuldade os dois lados em confronto nas suas inúmeras variantes. Na verdade, nem há grandes novidades.
11.
O que hoje está já no topo da agenda política internacional é esta contraposição entre o Ocidente e todos aqueles que não aceitam a sua matriz civilizacional e política, que está, sim, inscrita na famosa “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, de 1789. Tudo isto soa, de facto, a construção de uma alternativa ao velho bipolarismo entre democracia burguesa e socialismo de Estado, entre economia de mercado e economia de plano, contraposição outrora bem representada pelos Estados Unidos, de um lado, e pela União Soviética, do outro. Contraposição assumida pelos mesmos de sempre. Os que, criando novas terminologias, não deixam de dizer sempre o mesmo. Talvez este clima, esta atmosfera renovada, tenha animado o Hamas para uma acção bélica desta envergadura e tão intensa contra um adversário militarmente tão poderoso. Os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e Israel estão claramente do lado da matriz liberal do Ocidente (mesmo com os desvios promovidos pelo senhor Netanyahu). E até nem será muito difícil e arriscado ver no bloco hoje representado pelos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), a que em Janeiro de 2024, sob convite da China, se juntarão a Arábia Saudita, a Argentina, o Egipto, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Irão, um novo bloco político, liderado pela China, tendente a reconstituir um novo bipolarismo substitutivo do antigo. Bem sei que é uma linha subtil com muitas nuances (por exemplo, a Índia condenou a acção do Hamas: “solidarizamos-nos com Israel”, terá dito o Primeiro-Ministro indiano – veja-se o artigo de Eva Borreguero, no “El País” de ontem, 24.10), mas é claro que se trata de uma frente crítica comum. Se quisesse simplificar (muito, mas com muitas nuances) poderia dizer que os Estados Unidos representam, para essa vasta frente, o símbolo a rejeitar.
12.
Entretanto, não se compreende o falhanço dos serviços de inteligência israelianos, a Mossad, e das suas forças armadas na prevenção de uma acção programada durante tanto tempo, ali mesmo ao lado. Já referi o desequilíbrio entre a atenção prestada à protecção dos colonatos e a prestada a sul, na fronteira com a Faixa de Gaza. E em Israel muitos já pedem a cabeça Netanyahu e dos responsáveis pela segurança de Israel. A verdade é que também ali há um problema de alternativa e de insistência no apoio eleitoral ao Likud.
13.
Alguém pode mesmo ser levado a pensar que o modo de resolver a crise por que o governo e o partido que o suporta, o Likud, estavam a passar seria o de um recrudescimento da ameaça externa (e não só aos colonatos), solução clássica sobretudo aplicada pelas ditaduras. Só que a violência e a natureza deste ataque alteraram de tal modo a situação que hoje, no meio da unidade nacional contra o Hamas, muitos já se levantam a pedir contas e reponsabilidades a Netanyahu pela tragédia. Esperemos que, de facto, haja um ajuste de contas eleitoral com esta direita, para depois de terminada a fase aguda do conflito. Israel bem precisa disso. E a Palestina também.
14.
Será muito difícil que algum dia haja negociações entre Israel e os radicais do Hamas, mas não será impossível que a Autoridade Nacional Palestiniana possa vir a ganhar importância política se ela for activa na busca de uma solução política para o conflito e sobretudo se conseguir que Israel, com um novo poder político, aceite, de uma vez por todas, a criação de um efectivo Estado palestiniano, retomando, por, exemplo, a proposta de Ehud Barak. Deste modo, a ressurreição da ANP poderá estar também nas mãos da política israeliana. Não do Likud, mas pelo menos de um (improvável) ressuscitado partido trabalhista (ainda que sob outra forma). Caberia à ANP, depois, promover a integração política das forças mais radicais, como o Hamas, o que se apresenta possível sobretudo depois de assinados os acordos do Cairo, de 2017. A definição de uma clara estratégia para a paz fica agora também, e de forma muito significativa, nas mãos de Israel. Mas o problema deste confronto alargado e multipolar de civilizações, ou de visões do mundo, persiste, parecendo estar de volta um novo bipolarismo internacional. Uma nova guerra-fria, que teria, a oriente, uma nova liderança, a da China? JAS@10-2023
![FCO 308 - Israel Travel Advice [WEB] Ed4](https://joaodealmeidasantos.com/wp-content/uploads/2023/10/jas_israel_1jpg-copia.jpeg)
O DESAFIO WOKE
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 10-2023
NÃO É A PRIMEIRA VEZ que escrevo sobre esta ideologia, o wokismo, que ameaça tornar-se hegemónica, enquanto tal ou nalguns dos seus derivados, nos países ditos desenvolvidos. E já não é só nas Universidades dos Estados Unidos ou em França. É uma ideologia com muitas variantes que vão da teoria crítica da raça à ideologia de género, à teoria da interseccionalidade, às teorias identitárias, ao revisionismo histórico, ao politicamente correcto, à cultura do cancelamento e que se opõem, todas elas, radicalmente ao liberalismo, ao iluminismo, ao racionalismo, ao universalismo, à neutralidade e à objectividade da ciência. No livro que lançarei neste mês de Outubro, por ocasião do primeiro aniversário da minha actual Editora (ACA Edições), em formato e-book, dedico abundantes páginas a esta ideologia e aos seus derivados. Entretanto, tive oportunidade de ler um livro de Jean-François Braunstein, professor de filosofia na Sorbonne, sobre “A Religião Woke” (Lisboa, Guerra e Paz, 2023, 181 pág.s) que não só confirma o que escrevi, mas ainda descreve o fenómeno com mais radicalidade, mais dados e preocupação. Mas não é caso para menos, vista a influência que este movimento e seus derivados estão a ter para além dos muros da Universidade, nos Estados Unidos e em França, tendo já chegado às escolas primárias com a tentativa de influenciar e atrair os jovens para esta combativa e absurda ideologia. Não tão absurda que não tenha antecedentes na história da filosofia, como veremos, mas sobretudo pelo radicalismo e pelo primarismo das suas teses. Os casos relatados por Braunstein são imensos e dão conta dos castigos (despedimentos e vexame público) a que são submetidos os que ousam afirmar, por exemplo, que existem homens e mulheres e que isso é um facto biológico, que “o sexo biológico existe” (2023: 53).
1.
Há duas ideias centrais da ideologia woke que são sublinhadas neste livro: a ideia de racismo sistémico; e a ideia de que género e sexo são duas coisas não só diferentes, mas mesmo desligadas.
A esta última ideia aplicam, recorrendo ao John L. Austin de “How to Do Things with Words”, a noção de performatividade da linguagem e dizem que basta dizer-se masculino, feminino, neutro ou algo mais para o ser com todas as suas consequências, designadamente em matéria de comportamento social, ou seja, de imposição social das próprias opções. No nascimento, o género é atribuído, não resultado de um processo natural. “Basta declarar ‘sou trans’ e, portanto, é-se trans. E, então ascendemos na lista progressista e ganhamos credibilidade nesta visão do mundo interseccional” (Heather Heying; Braunstein, 2023: 84 e 77). “Fluidez de género”- é a teoria, a libertação radical da escravidão do corpo, cada vez mais promovida pelo movimento transgénero (Braunstein, 2023: 78-82). Mas como o recém-nascido ainda não dispõe de linguagem deve-se manter um género neutro ou, como sugere Anne Fausto-Sterling, atribuir-lhe um sexo provisório, prescindindo do sexo com que nasceu, mas educando-o no sentido de uma posterior livre escolha da identidade de género ou sexual. “Tu é que decides o teu género”. A caminho daquilo que Braunstein identifica como “trans train” (2023: 71-72). Se dúvidas houvesse, bastaria ver o que diz Fausto-Sterling, em “Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality” (2000): existem pelo menos “cinco sexos”: os homens, as mulheres, os herms (hermafroditas « verdadeiros »), os merms (« pseudo-hermafroditas masculinos »), as ferms (« pseudo-hermafroditas femininas »). “A sexualidade é um facto somático criado por um efeito cultural”. Não é binário, o sexo, mas um continuum (veja a recensão ao livro, na tradução francesa, daquela autora por Anne-Claire Rebreyend: https://doi.org/10.4000/clio.11110; e Braunstein, 2023: 76). Esta separação radical entre género e sexo ou corpo tem consequências: a desqualificação do mundo sensível e o regresso da velha teoria berkeleyana “esse est percipi”, ser é ser percebido. Faz-me também lembrar este curto e certeiro poema do beco, do grande Manuel Bandeira (1936):
“Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte? / / - O que eu vejo é o beco.”
O que conta é o que vejo com o desejo e o que, por consequência, declaro: o meu beco. Não há mundo, há becos por onde circulo, o meu mundo, que é o do meu desejo. Beco com sentido único. Raízes filosóficas da ideologia woke no solipsismo, portanto. Onde a natureza pôs um sexo, os wokes podem ver nele outro, dependendo da vontade e da linguagem performativa com que o enunciam. O problema não reside no desejo, mas na sua imposição social, na sua imperatividade social.
2.
O autor, referindo-se a John Money, encontra no behaviourismo de Watson uma das suas raízes de inspiração, o predomínio do adquirido sobre o inato: “dêem-me uma dúzia de crianças saudáveis”, diz Watson, “com boa constituição física e o tipo de mundo de que preciso para as educar, e eu empenhar-me-ei, escolhendo-as ao acaso, de as formar de modo a fazer delas especialistas, à minha escolha, médico, comerciante, jurista, e mesmo pedinte ou ladrão, independentemente dos seus talentos propensões, aptidões, bem como a profissão e a raça dos seus antepassados” (2023: 74). John Money foi o intérprete qualificado, radical e reconhecido desta releitura woke de Watson. O New York Times, traduzindo, explica: “Se dissermos a um rapaz que é uma rapariga e se o educarmos como uma mulher, ele irá comportar-se como uma mulher”; ou, mais especificamente, sobre a influência de Money nesta matéria: Money é para a história da sexualidade o que Hegel é para a história da filosofia e Einstein para o conceito de espaço-tempo (Beatriz Preciado; Braunstein, 2023: 74). O wokismo radicaliza esta orientação e vai até à anulação da biologia como ciência: seria urgente, porque “a biologia enviesa-nos”, lançar as bases de uma “ ‘anti-biologia’ ginocêntrica, matriarcal ou homossexista”, diria o militante do género Thierry Hoquet, na obra Des sexes innombrables. Le genre à l’épreuve de la biologie” (Paris, Seuil, 2016; Braunstein, 2023: 140). O famoso biólogo de Stalin, Lyssenko, não diria melhor, ao lançar as bases biológicas do homem novo (a alteração estável da constituição hereditária dos organismos pela alteração das condições ambientais), desejado pelo ditador soviético. Ou mesmo para a relativização das ciências em geral e das suas categorias (por exemplo, a da objectividade e a da universalidade). Vejamos a posição sobre a matemática: “o objectivo seria ‘desmantelar o racismo no ensino da Matemática’ e promover mais geralmente ‘uma viragem sociopolítica em todos os aspectos da educação, incluindo a matemática” (Braunstein, 2023: 126). Ou a branquitude matricial da matemática e o seu racismo sistémico. É isso que eles defendem. Nada menos.
3.
Esta mundividência (se assim se pode dizer, visto o localismo que eles defendem) também usa uma linguagem não só performativa, mas também neutra, para que ela não fique dependente da visão binária do sexo ou do género e da correspondente linguagem. Por isso, intimam a que se use uma linguagem neutra em linha com a nova liberdade da “fluidez de género” ou de sexo: “pessoas grávidas”, em vez de “mulheres grávidas”, “leite humano” ou “parental”, em vez de “leite materno”, “pessoas com vagina” ou “pessoas com útero”, em vez de mulheres, “pessoas que dão à luz”, em vez de mães. Um esforço enorme para “suprimir da linguagem tudo o que evoque a diferença dos sexos” (Braunstein, 2023: 93). A linguagem neutra, no fundo, reconhece a importância da linguagem tal como já acontecera com a invocação do seu poder performativo, condição da sua própria liberdade e do seu solipsismo. Reconhece-se com toda a evidência aqui também o incrível manual de boas práticas linguísticas da Universidade de Manchester.
4.
Há, todavia, um problema que a orientação transgénero e a teoria da “fluidez de género” ou de “sexo” levantam: as feministas não podem aceitar que o seu corpo seja assim relativizado e sejam obrigadas a “encarar como mulheres homens trans agora mulheres que, fisiologicamente, se mantêm homens” (Braunstein, 2023: 97). Ou, melhor ainda, mulheres lésbicas sujeitas a relacionar-se sexualmente com uma ladydick, aceitando que “um pénis pode ser um órgão sexual feminino” (Helen Joyce; Braunstein, 2023: 96). Há, pois, aqui um problema de assunção da identidade sexual e de eventual “profanação” do próprio território do desejo.
5.
A primeira ideia, ou seja, a do “racismo sistémico”, ou “racismo de atmosfera”, ou mesmo “racismo ambiental”, talvez seja ainda mais radical, mas algo contraditória com a segunda: o nascimento que determina a cor da pele marca o destino: nasceste branco serás eternamente racista porque ser branco é “por defeito” ser racista (Braunstein, 2023: 11-14). Não podes anular esta tua condição. Quando muito atenuá-la através do mecanismo do reconhecimento; ou, então, como diz I. X. Kendi: tudo o que o branco pode fazer é “lutar para ser menos branco”, pois, “ser menos branco é ser menos racialmente opressivo”. Ou até “matar o homem branco” (que há em nós), como já se viu ser dito entre nós, à boleia do grande Frantz Fanon de “Les Damnés de la Terre” (Paris, Maspero, 1961). Como a doutrina da predestinação: ao nascer branco ficaste arredado do dom da graça e condenado a arrastar contigo pela vida o pecado original da branquitude. E, segundo alguns, a branquitude até tem uma doutrina letal: o “imaginário letal do humanismo iluminista europeu”. O que define muito bem, e de modo radical, a posição anti-iluminista e anti-liberal do wokismo.
6.
Mas estas duas orientações são contraditórias. Podes escolher livremente o teu género (e seres transgénero), libertares-te do determinismo físico que te impôs um certo sexo, mas não podes libertar-te da raça a que ficaste condenado por nascimento. A liberdade, no plano do género, que anula a determinação sexual biológica, a conviver com o determinismo racial, que anula a possibilidade de te autodeterminares relativamente à tua condição biológica racial. Não há aqui doutrina da interseccionalidade (a doutrina da convergência das múltiplas opressões) que as salve desta contradição lógica, ainda que formulada por uma brilhante aluna de Derrick Bell em Harvard e posteriormente professora na Columbia Law School e na UCLA, Kimberlé Crenshaw (2023: 128-139).
7.
Mas ambas as orientações convivem com uma orientação identitária, seja por livre adopção seja por determinação racial. A filiação identitária (na raça ou no sexo desejado) é norma e é nela que o indivíduo se deve reconhecer. O wokismo não reconhece a universalidade porque tudo remete para identidades, subsistindo, pois, um problema de reconhecimento societário e respectivas instituições, a começar logo pelo contrato social e pelo Estado. O wokismo inscreve-se, assim, na tradição romântica anti-iluminista e anti-liberal (na lógica da rejeição), mas também na própria tradição marxista (na crítica do sistema representativo e do universalismo que lhe está associado, por exemplo, na crítica de Marx a Hegel, na Crítica da Filosofia Hegeliana do Direito Público, e na Questão Hebraica) que recusa e refuta esta tradição. O autor cita, a título de exemplo, à direita, Joseph de Maistre e Bonald. Mas o que acontece é que o wokismo não atinge a sofisticação destas teorias, revelando-se absolutamente primário nas suas formulações. Até na crítica da ciência, a sua redução sociológica, e na proliferação da suas epistemologias (p. 146-163) esquecem a robusta tradição teórica da sociologia do conhecimento, em particular a sofisticada obra teórica do seu mais importante teórico, Karl Mannheim (sobre o assunto, veja-se o meu ensaio sobre a obra de Mannheim, publicado pela Revista Jurídica, “Mannheim e la sociologia della conoscenza”, Abril de 2001, n. 24, pp. 473-493). Ou seja, nesta ideologia wokista encontramos filões que já existiram no pensamento ocidental, mas de forma teoricamente muito mais robusta e aceitável do que esta nebulosa filosófica com aspecto religioso e em busca de hegemonia num mundo à deriva. E não só pelos dramáticos conflitos a que estamos a assistir, mas também pela grave crise de pensamento sobre as profundas mudanças que estão a ocorrer em todas as dimensões da vida social, a começar logo na política. Só assim se explica a cavalgada mundial que o wokismo está a fazer nas suas várias frentes de afirmação e a sua penetração já profunda nos partidos políticos de centro-esquerda e até de centro-direita e nas próprias instituições. E não só nos Estados Unidos, mas também na União Europeia, em particular na França (e em Espanha e Portugal). Quem tomou bem consciência do perigo de hegemonia desta ideologia foi a extrema-direita, tendo compreendido que no combate frontal a esta tendência poderá colher bons frutos eleitorais por compreender que a generalidade da cidadania não aceita esta mundividência pelo que ela tem de absurdo e de contra-tendência relativamente ao que foi a sua própria história, mas também pelos perigos que ela encerra na sua relação com os jovens de hoje e responsáveis políticos, culturais e empresariais de amanhã.
8.
Voltei ao assunto para aprofundar o que já escrevi e pus em livro, a lançar nos próximos dias em formato e-book. Ajudou-me a este regresso, agora, o livro do Professor Braunstein, em boa hora traduzido para português pela Guerra e Paz. Mas voltei também porque considero que é necessário dar atenção e sobretudo dar luta aos avanços do wokismo nos países ditos desenvolvidos, não só pelos perigos que encerra, mas também pela farsa de pensamento que representa. Em particular, os partidos sociais-democratas, hoje abundantemente infiltrados pelas várias frentes do wokismo, deveriam tomar consciência de que um dos seus fundamentos filosóficos e políticos (que os diferenciou do socialismo ortodoxo) está a ser, uma vez mais, minado por dentro, correndo-se o risco de um dia já ser tarde para preservar o que de melhor a modernidade nos legou. Termino com uma citação de Braunstein que deixa claro o que está realmente em causa: “Consideram que os racizados sabem, e só eles sabem, que os homens não são homens abstractos no sentido da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, declarada aliás culpada de não ter abolido a escravatura”. “O universalismo é portanto um inimigo a combater, como dizem, com grande unanimismo, DiAngelo, Kendi e todos os outros militantes racialistas ou interseccionais. Estes subscreveriam de bom grado a fórmula do contra-revolucionário Joseph de Maistre: “Não há homem nenhum neste mundo. Vi, ao longo da minha vida, franceses italianos, russos, etc.; sei aliás, graças a Montesquieu, que podemos ser persas; mas quanto ao homem, declaro nunca o ter encontrado na vida; se existe, ignoro-o” (Braunstein, 2023: 164-165).
Sim, a Declaração de 1789 não acabou logo, na realidade, com a escravatura, é verdade. Mas acabou com o Antigo Regime e lançou as bases para o fim da escravatura. Nos seus princípios não há lugar para a escravatura ou para a opressão. Aliás, ela é o documento que define com um admirável rigor e uma extraordinária visão as bases da nossa própria civilização moderna. Em cerca de duas páginas e 17 princípios. No ano da Revolução Francesa. JAS@10-2023

NOTAS DE LEITURA
Lídia Jorge "A Costa dos Murmúrios" e "Misericórdia" (Impressões)
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 10-2023
NOTA PRÉVIA. Habitualmente faço notas de leitura sobre os romances e poesias que leio. O objectivo não é a publicação. É um simples registo para ulteriores reflexões. Foi o que aconteceu com “A Costa dos Murmúrios”. Mas, quando li “Misericórdia”, acabei por decidir publicar este artigo sobre as duas obras. São impressões subjectivas de um leitor, livres e sem pretensão de se apresentarem como recensão dos dois livros.
1.
Li o romance “A Costa dos Murmúrios” (2002), de Lídia Jorge. Sentimentos contraditórios: uma escrita de alto nível, mas com valor cognitivo de menor intensidade, em parte devido à colocação e à opção da escritora, não questionáveis, mas também, ou sobretudo, devido à própria natureza da composição, à construção literária da narrativa, à composição frásica – dança frenética e algo libertária das palavras. Um estilo que mantém em “Misericórdia” (2022), ainda que num registo não tão rico e num contexto mais definido, um lar da terceira idade, a que chamou “Hotel Paraíso”, título que já indicia um objecto literário lúgubre, porque alude àquilo que em italiano se indica com a palavra “trapasso”. “Il trapasso”, a passagem para o além.
2.
Para mim, a arte tem um alto valor cognitivo, embora não de natureza analítica. É uma relação diferente com o real, onde a forma tem elevada autonomia, valor próprio, expressividade estética autónoma. A arte é autopoiética, expande-se por dentro, como nos sistemas, mas nela há sempre (disso não tenho dúvidas), e aqui também há, um referente com dimensão ontológica, com valor existencial (claramente identificável). Até porque ela responde a um apelo interior, a uma exigência ou mesmo a um imperativo existencial, àquilo que os gregos designavam por pathos. No caso dos dois livros de Lídia Jorge isso acontece, porquanto representam duas realidades presentes intensamente na sua própria história pessoal, África (Moçambique) e sua Mãe, que lhe terá pedido que contasse esta história (a sua, a da Mãe, ficcionada). Se não houver pathos, na origem da obra de arte, o mais provável é que se fique no domínio do puro virtuosismo, da pura retórica estética. Que pode ser bela, mas não deixa de ser retórica. Da forma pela forma. Pecado mortal. O excesso de virtuosismo, exibido obsessivamente, estraga a obra. É aqui que bate o ponto. Talvez o pecado da escritora, que vence muitos prémios, seja precisamente este. Não sei.
3.
Foi uma leitura quase sem interrupção, esta, a de “A Costa dos Murmúrios”, mas com algum esforço, pela curiosidade em conhecer aquela que alguns consideram ser a sua melhor obra, e não tanto porque a força sedutora da narrativa me impedisse de parar. Pelo contrário, a leitura exigiu empenho, esforço e vontade. Como, de resto, acontece com as obras culturalmente exigentes. Neste caso, de linguisticamente exigentes. A escritora tem um domínio da língua notável e, neste livro, esforça-se por demonstrá-lo à exaustão, tratando-a com um imaginário linguístico exuberante, a ponto de frequentemente as proposições ficarem viradas para si próprias e sem densidade semântica, quase em registo de deslumbramento narcísico ou especular, auto-referenciais, não tendo, aparentemente, sentido ou significado visíveis. Poderia dar inúmeros exemplos, mas não vem ao caso. Nem sinto que valha a pena. Talvez seja limitação minha. Além disso, o livro parece-me mais uma sequência ininterrupta de luminosos flashes, em linguagem intensiva e obsessivamente desenhada, inspirada no ambiente colonial da Beira no período em que a luta pela independência já começara em Mueda, no norte de Moçambique. O ambiente descrito, de retaguarda familiar da frente militar, tendo certamente referências reais, é descrito num plano elevado de evidente fantasia onde a linguagem usada para o efeito não conhece limites de ordem semântica ou, diria, de retórica estética, para não dizer de exibicionismo linguístico. É a história de um hotel destinado a futura ruína pós-colonial e de dois personagens, o jornalista e Evita/Eva, cuja história se dissolve nos intermináveis flashes e personagens (como Helena de Tróia) com que a autora tece e entretece a narrativa. Brava a desencantar nomes sugestivos. Até neste ambiente triste e de fim de ciclo do “Hotel Paraíso” – Dona Luísa de Lyon…
4.
Linguagem riquíssima, sem dúvida, mas ao serviço de uma neblina semântica excessiva e de uma história fragmentária e algo impressionista. Sim, impressionismo parece-me ser o termo certo para qualificar a textura de toda a narrativa. Trata-se, sim, de um ambiente colonial de retaguarda da guerra que a autora conheceu e viveu em primeira pessoa, com descrições paroxísticas que pintam de cores intensamente carregadas, e com traçado no limiar do fantástico, o real vivido e experienciado em primeira pessoa. É uma espécie de texto-aguarela, as palavras fluem e escorrem livremente quase libertas de uma qualquer semântica até encontrarem um traço-fronteira que as sustenha, para fixar a forma. Neste sentido, é uma bela obra. Escrita com a lógica mais do pincel do que da caneta. Há certamente muito de autobiográfico, metaforizado e filtrado pela neblina ou as cores carregadas de uma memória em fuga onírica. Ou mesmo de um deslumbramento linguístico auto-referencial. Daqui talvez a aparente nebulosidade do texto. O problema é que a linguagem intencionalmente rebuscada, combinada com um intenso impressionismo semântico nos deixa um pouco insatisfeitos quanto ao valor quer cognitivo, e até estético, da obra, por excesso de peso e de excessivo emaranhado linguístico. É uma obra que acrescenta peso (o gongorismo linguístico) ao já insustentável peso do viver, em vez de leveza. A textura linguística pesa demasiado sobre uma trama um pouco incerta (é a palavra) e de incerto destino. Talvez a culpa seja do desejo de criar uma obra intensamente trabalhada do ponto de vista da linguagem como estratégia estética dominante, descurando a dimensão cognitiva, semântica, referencial.
5.
Estamos no domínio da arte, sim, e estamos numa arte onde o seu meio expressivo é a palavra, também, mas não é seguro que uma boa obra literária tenha que ficar encerrada em exercícios linguísticos rebuscados, em fuga do real e em direcção ao onírico, num certo gongorismo descolado do real, que descurem, por exemplo, a densidade existencial das personagens, a clareza da trama ou a evolução progressiva para um “gran finale”, que aqui não acontece, ou um regresso ao ponto de partida, que também não acontece. É um romance-aguarela, sim, mas sem a suavidade da tinta matizada pela água que flui numa folha branca de papel à procura de um risco que a trave.
6.
Um “gran finale” é o que em “Misericórdia” também não se encontra. Bem pelo contrário, o que se encontra é um final mal resolvido. Sim, é o que me parece, que me perdoe a autora. Não diria um “finalaccio”, como se diz em italiano, mas talvez um final apressado, apesar das (ou, então, não obstante as) 463 páginas. Mas aqui com regresso ao ponto de partida, sim, pois dá-se um reencontro com a noite, essa habitual frequentadora, saída das paredes do seu quarto, das noites da narradora, Alberti, e, ao que parece, fatal. Não se sabe bem. A noite parece simbolizar a morte, a ameaça permanente da morte que a visita e à qual ela vai resistindo como pode. E um dia quase ia cedendo. Mas sobreviveu.
O livro chama-se, sim, “Misericórdia”, mas nele tudo se encontra menos misericórdia, a não ser a filial compaixão (pelo menos, pelo destaque dado a sua Mãe na narrativa). Misericórdia disse eu quando acabei de ler este livro um tanto deprimente, que só não é totalmente triste porque as divagações da narradora em torno das personagens são literariamente ricas, a ponto de sermos tentados a ver na narradora uma identificação com a própria autora, sem distanciação, pois aquela, não se sabendo bem quem é e o que fazia na vida, tinha reflexões e fantasias de uma riqueza que só a autora, a filha, escritora, poderia ter. A Mãe é aqui uma clara projecção da filha, da imaginação da filha, ou seja, da autora. Não há diferença assinalável. Os seus diálogos sobre a literatura são um modo de a autora expor o que pensa da literatura: fazer amor com o universo. O problema: a Mãe é mais a filha do que a Mãe propriamente dita. Falta a construção da diferença, sobretudo no exercício da imaginação. A Mãe não podia escrever e parte durante a acção, logo, é a filha/autora que, entrando-lhe literariamente na identidade, se converte nela e se transforma ela própria em narradora. Falta, na minha opinião, uma identidade claramente traçada da personagem principal que possa suportar a narrativa. Só por dedução, a partir do que diz, se pode lá chegar, ainda que insuficientemente. O imperador Adriano todos sabemos quem era (não digo por acaso). A sua Mãe, não. E Alberti ainda menos.
7.
“Hotel Paraíso”, um nome pouco misericordioso porque indicia que quem lá vive está já a caminho do além e com consciência disso mesmo. Trágico. O fim, sem retorno. E esse é o território onde tudo acontece. Com pessoas, demasiadas pessoas, sempre a partir e rapidamente, uns a seguir aos outros. Com a narradora, que tentou, sem o conseguir, antecipar, numa dura luta entre o seu corpo e a sua alma, a própria partida, a ver, impotente, os desenlaces. Acamados ou semi-acamados e muitos imigrantes a tratarem deles. Um rodopio entre os corredores e os quartos do Hotel. Passos que se ouvem nos corredores, figuras que entram e saem dos quartos como se tudo se passasse quase na clandestinidade. Um jogo de sombras. A acção a decorrer numa permanente penumbra. Uns que se vão e outros que chegam. E episódios infantis e quase grotescos como animação. De velho se volta a menino, já se sabe. A sessão de fotografias que Alberti recusou perante um cruel fotógrafo que só registava o negativo, como já antes acontecera. Uma violência que Alberti, e bem, recusou. Um retrato impiedoso do que se passa nos lares. Isso é verdade. Em período de pré-Covid, que, chegado, haveria de acelerar as partidas, de acabar com o Hotel e… com o romance. O final dá-se em forma um tanto apressada e sem contexto que o prepare, a não ser a chegada do Covid. É um livro tristonho, próprio de uma narrativa sobre um lar de terceira idade, que procura pintar e ilustrar. Mais pintar do que descrever, a não ser pelo ambiente deprimente e deformado de um lar que mais parece um corredor da morte – Hotel Paraíso. Pelo meio, a autora vai exercitando a sua imaginação literária, com abundante riqueza de vocabulário, isso é verdade, confirmando o que já se vira, de forma muito mais intensa, em “A Costa dos Murmúrios”, mas sem grandes e profundas reflexões sobre a vida. Claro, pintar a vida num lar de terceira idade (que expressão estranha, esta; melhor em espanhol: los mayores) é já reflectir sobre a vida na sua etapa final. A vida é pintada na sua fase de decadência, a caminho do além, sobre personagens cujo perfil no essencial é pouco ou nada determinado. Identificam-se vagamente pelos episódios que acontecem e pelo modo como participam neles. A própria narradora tem esse perfil e mais parece identificar-se e esgotar-se nos exercícios criativos da autora, nos 78 fragmentos (o livro é uma composição de fragmentos referidos à vida no interior do lar). Não se apresenta ao leitor, a narradora. Surge-nos num posto de observação privilegiado, que condiciona toda a narrativa sem exibir substantivamente uma distanciação relativamente à autora, a não ser nalgumas diferenças que exibe relativamente a ela. Toda a narrativa evolui em nebulosa, sem grande clareza analítica ou aprofundamentos – são episódios, quase flashes, que se sucedem uns aos outros, mas não numa lógica progressiva. Procede por fragmentos, por episódios. O livro até poderia ter o título de “Memórias de Alberti” (imaginadas pela filha), recordando-nos o Imperador Adriano pela pena de Marguerite Yourcenar (ver pág.s 41 e 110). Mas a Yourcenar é diferente – lidos os seus livros aumenta a dimensão do nosso conhecimento. A sua é matéria que não se identifica com as migalhas que caem da mesa da história ou de um lar. É só ler a “Obra ao Negro”, o ambiente em que florescem o hermetismo, a alquimia, os rosacruzes. O que não se encontra aqui é um desenho rigoroso do perfil das personagens. Nem sequer do da narradora, a senhora Alberti. É um livro um pouco deprimente, onde tudo está sujeito a decadência, a desilusão, a queda anímica e física, a desistência, a morte, aos episódios menores de vidas em clausura que tudo, o mais trivial, agigantam. Mas essa foi a opção da escritora, pelos vistos a pedido de sua Mãe, que terá vivido num lar, digo eu. As personagens vão desaparecendo abruptamente, levadas pela noite que tanto atormenta Alberti, desde o início do livro até ao fim, mesmo ao fim. Algumas personagens internas ficam suspensas na narrativa, mas pode-se imaginar que a Covid as tenha levado, a todas, sem excepção (excepto os colaboradores).
8.
Creio que a autora tenha querido desenvolver exercícios de imaginação a partir de um lar com dezenas de internos, mais do que entrar a fundo na psicologia e nas angústias existenciais das personagens, densificando-as. Pelo contrário, permanece no natural agigantamento de questões supérfluas devido à clausura e sobre as quais viajou a sua imaginação literária. As questões revelam-se à medida da identidade das personagens, bem como à da sua própria circunstância – a vida num Lar com o lúgubre nome de “Hotel Paraíso”. Claro, há acenos a isso, através de exercícios de fantasia, mas para logo passar à frente.
Numa palavra, entra-se no livro e sai-se de lá tal como se entrou, somente um pouco mais deprimido e sem se ter retido em particular um personagem que nos atenha atraído. Mesmo a narradora, pois tudo é muito nebuloso, ficando até a sensação de que a autora se preocupa mais em divertir-se com as palavras do que em viajar com elas até ao fundo da alma humana. As palavras batem asas e voam para paragens oníricas. Compreendo. Estas personagens são menores, são migalhas do banquete da vida. Partindo de um ambiente fortemente realístico e existencialmente denso, o que, depois, acontece é uma dança de palavras (“a tristeza, com sua anca larga”, pág. 151) que obedece mais à música interior da autora do que à valsa da vida em circunstâncias de fronteira, ainda por cima em situação de perigo e de risco. Até me parece que a autora é vítima da sua própria fantasia – a sua força é também a sua fraqueza. Aqui, como já o fora em “A Costa dos Murmúrios”.
9.
Não sei se a narradora é a Mãe e a autora a filha e se o Hotel Paraíso é o lar em que a Mãe esteve a viver nos últimos anos de vida. Mas é plausível uma resposta afirmativa, até pelo que a autora diz na nota final (exterior à trama). Claro, o meu horizonte só pode, deve, ser o do livro.
Confesso que, mais uma vez, e isso já acontecera com “A Costa dos Murmúrios” (mas esse livro é muito melhor), terminei o romance (onde não há uma história de amor, mas tão-só uns aludidos fogachos sexuais da Dona Joaninha) com dificuldade, não só pela sua dimensão (463 páginas; para se lembrar que Baku é a capital do Azerbaijão, Dona Alberti leva 79 páginas, um excesso), como pela sua textura fragmentária, que, no essencial, evolui por episódios que valem por si e que não empurram o leitor para a frente. Claro, sempre no mesmo ambiente, com a mesma narradora e alguns outros personagens que povoam desde o início a narrativa (Lilimunde, Dona Joaninha, a Administradora Ana Noronha, por exemplo). Não digo que não haja matérias sérias em discussão: crítica violenta à televisão, uma conversa interessante sobre saber se se deve escrever sobre os que fazem História ou sobre os que vivem das migalhas daqueles (“eu não me sento à mesa dos que fazem a História”; “eu sou um cão da História” – pág.s. 113-117), o Brexit, até a Covid do Boris Johnson, uma alusão a Einstein. Ah, sim, mas, afinal, a filha autora também diz que faz amor com o universo (pág. 162), num estatuto que só pode ser bem superior ao de um cão que vive das migalhas da história ou que se põe à escuta por baixo da mesa dos que a fazem. Mas a verdade é que só fazem amor com o universo os grandes, os que são capazes de o emprenhar, ou os que se dissolvem nele, como os ascetas.
10.
Sabe-se que o Hotel Paraíso é perto do mar. E fica em Portugal. Nada mais se sabe. O edifício não é descrito e a paisagem em que se inscreve também não. O Centro é a narradora, embora não se saiba o que fazia na vida (sobre o seu mundo ver, por exemplo, a pág. 170), mas mesmo essa mais parece a voz da autora projectada na Mãe do que uma concreta personagem. Sim, acho que sim, embora a senhora Alberti se materialize no gosto pelas flores e cheiros, sobretudo ao da recorrente bergamota (pág.s 121-122; 132), o perfume da Lilimunde. Coisa concreta, portanto. A bergamota como projecção do olfacto e do gosto de Dona Alberti. A maior parte dos episódios é, no seu conteúdo, banal. Por exemplo, o das formigas. Os comportamentos das personagens são expostos sem grande preocupação de ir ao fundo com uma caracterização que não seja superficial – o que foram na vida (mas nem sequer a da personagem principal) ou umas características físicas, por exemplo, a cor dos lábios do senhor Sargento João Almeida ou o que haveria de ficar na eterna memória de Dona Alberti por este lhe ter escrito um banal bilhete a dizer que tinha tudo o que lhe servia no telemóvel e que mandasse sempre. Uma extraordinária história de amor (pág. 156) que atormentou a senhora, mas na qual é difícil entender a fixação da Dona Alberti e o pavor de perder o bilhete do sargento. Não sei, porque em situações de clausura forçada tudo se agiganta. Até um banal bilhete de cortesia. Mas, aqui, parece-me que são agigantamentos em demasia.
11.
Tudo isto são impressões. Não académicas. Muito centradas no que eu entendo ser a arte. No que são as minhas expectativas quando leio um romance, uma poesia, ouço uma peça musical ou vejo um bailado. Por exemplo, não gosto de bailados em que os bailarinos se arrojam pelo chão. A dança é levitação, leveza, rapidez, exactidão. Na literatura valorizo o conteúdo, a informação e não somente a beleza formal, o virtuosismo linguístico. É claro que a arte é beleza formal, talvez mesmo antes de ser comunicação sobre o essencial da natureza humana, mas o que distingue a grande literatura, o romance ou a poesia, é a viagem ao mais profundo e universal do ser humano, a densidade das personagens e a riqueza dos contextos em que se movem, em que ocorre a acção. Aqui, em “Misericórdia”, a densidade da narrativa é induzida pelo ambiente em que decorre a acção: “Hotel Paraíso” – hotel, aqui, paraíso, no além. Lugar de passagem e fronteira. Precisamente: “trapasso”.
12.
É minha convicção profunda que quando acabamos de ler um romance devemos sentir que ficámos mais ricos do que quando entrámos nele, sendo também certo que isso ganha em intensidade com a beleza da forma, a precisão da linguagem e a sua leveza. E nisto revejo-me na proposta do Italo Calvino das “Lições Americanas”: visibilidade, rapidez, leveza, multiplicidade, exactidão e consistência. São estas as categorias que gosto de reconhecer num romance ou numa poesia. Não falou, no livro a que me refiro, do valor da categoria consistência, que, todavia, estava prevista. Eu vejo neste valor precisamente a centralidade do valor cognitivo da narrativa e a densidade das personagens. Beleza formal, sim, imprescindível numa obra de arte, mas também relação densa com o real: consistência.
13.
Nas duas obras esta última característica está claramente subordinada à primeira, mas não sei se essa é uma característica idiossincrática da autora, porque só conheço estas suas duas obras.
14.
Esta reflexão é simplesmente uma consideração pessoal que não aspira a ser demonstrada numa tese de doutoramento ou perante referees encartados. É simplesmente uma expressão de liberdade na dialéctica e no intercâmbio culturais de quem também se arriscou a entrar, como produtor, em vários campos da arte (romance, poesia, pintura; esta última também aqui a exerci, propondo um perfil da autora) para além da sua própria área intelectual de conforto e profissional. Essa, naturalmente, muito mais vasta. JAS@10-2023

CAUSA PÚBLICA
Desafios à Esquerda
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 10-2023. Frase de Cícero no “De Re Publica”
FOI CRIADA UMA ASSOCIAÇÃO de reflexão política, de esquerda, designada como “Causa Pública”, presidida por Paulo Pedroso e que integra muitos protagonistas da política nacional, designadamente deputados, ex-deputados e ex-governantes. Há uns meses fora aprovado o seu Manifesto, onde se identificava: “A Causa Pública é uma associação de cidadãs e cidadãos empenhados na construção de novos caminhos para Portugal”, sendo os seus valores fundamentais “a defesa do bem-comum, a democracia, a igualdade e a sustentabilidade”. Noto, de imediato, um significativo esquecimento: o do valor liberdade. Mas, em duas páginas, também noto que não se esqueceram de se referir diferenciadamente, seis vezes, aos dois géneros. Por exemplo, assim: “As e os associados da Causa Pública”. Matéria de reflexão, logo para começar. Mas, na verdade, considero interessante e útil que se constitua uma associação de pensamento político estratégico e de esquerda, visto que o pensamento político anda, por aqui, muito a reboque (quase exclusivamente) do politicamente correcto e seus derivados. O que se espera, pois, é que esta associação não seja mais do mesmo. Disso já temos que chegue, até demais. Entretanto, estão lá alguns deputados do PS, como Pedro Delgado Alves e Isabel Moreira, e até seus ex-governantes, como Alexandra Leitão, o próprio Paulo Pedroso e o meu amigo José Reis, ou mesmo ex-deputados como Miguel Vale de Almeida ou Ana Drago, ex-deputada do BE. O Manifesto pouco ou nada diz, mas também não seria possível dizer muito em duas páginas. De qualquer modo, gostaria de fazer alguns comentários ao pouco que é dito, ou melhor, sobretudo acerca do que não é dito, até porque, lido criticamente nessa óptica, é possível avaliar de forma mais certeira esta iniciativa.
1.
Antes de mais, parece-me que entre os seus valores fundamentais deveria constar a liberdade. Mas não consta. Será lapso? Esquerda sem liberdade é o quê? Esquerda com liberdade é liberal? A verdade é que a liberdade e a igualdade são os dois valores essenciais da esquerda e o equilíbrio e harmonia entre eles sempre foi o que diferenciou a esquerda democrática do neoliberalismo e da ortodoxia marxista, do igualitarismo e da liberdade selvagem. Esta falha parece-me, pois, grave. Por isso, espero que seja simplesmente um lapso (mas não um lapsus calami, no sentido psicanalítico). Depois, essa insistência em contrariar a vetusta e sexista gramática, diferenciando repetidamente, ou mesmo obsessivamente, os dois géneros, parece-me ser um sinal pouco animador. No mínimo, parece-me ridícula a frase já referida: “As e os associados da Causa Pública” (“os associados” já inclui o masculino e o feminino, porque está lá por todos). E todos é todos, todos, todos, como se diz agora, depois da visita do Papa. Seis vezes, sim… mas falta lá o neutro.
2.
Depois, a ideia de que “o foco excessivo dos partidos nas suas dinâmicas internas” limita a produção de pensamento não me parece muito certeira, pela seguinte razão: tendo os partidos o monopólio da representação política nacional e, por consequência, sendo eles que fornecem os principais quadros para a gestão política do país, o foco sobre a sua vida interna deveria ser, não reduzido, mas intensificado, sobretudo em relação aos seus processos internos de selecção da classe dirigente, que são absolutamente decisivos para a boa gestão política de um país, precisamente da Causa (e da Coisa) Pública. Não é difícil perceber isto. O que não compreendo é que Paulo Pedroso venha, entretanto, anunciar que a associação não quer “interferir no xadrez político”. Mas, então, para que serve a associação se o que determina a Causa (e a Coisa) Pública é precisamente o “xadrez político”?
3.
Também constato que não há uma palavra sobre o mundo digital, que hoje se tornou decisivo em todas as frentes da vida na sociedade actual. E certamente que os subscritores do Manifesto leram o livro da Shoshana Zuboff sobre o chamado “Capitalismo da Vigilância”… Este tema deveria, pois, merecer uma atenção muito especial devido aos efeitos que o digital e a rede vieram produzir sobre a identidade do cidadão na “digital and network society” ou na “algorithmic society”, por exemplo, na sua relação com os processos eleitorais, atendendo às capacidades tecnológicas de determinação preditiva do comportamento eleitoral e ao novo Marketing 4.0, do senhor Philip Kotler. A relevância desta questão é enorme, pois trata-se do processo de acesso democrático ao poder e da sua própria legitimidade. Basta pensar no Brexit e na eleição do Senhor Trump. E no eficaz uso das TIC pela extrema-direita.
4.
E parece-me até um pouco perturbadora essa vontade “de ir além dos caminhos já conhecidos”. Não será necessário tanto, digo eu, pois a humanidade há séculos ou milénios que procura as melhores formas de autogoverno. Bastaria, mais prosaicamente, centrar-se num bem conhecido caminho, o da democracia representativa, e melhorá-lo, dando resposta à famosa crise da representação no quadro da democracia. Na verdade, e ao contrário do que vulgarmente se diz, a democracia representativa ainda é muito jovem, por duas razões: a) só depois da segunda guerra mundial ela ficou garantida na sua plenitude (com a expansão do sufrágio universal, embora ainda com a limitação do bipolarismo ideológico, político e económico que se instalou com a formação dos dois blocos; por exemplo, o bloqueamento da democracia italiana durante mais de quarenta anos a isso se deve – a famosa conventio ad excludendum); b) a democracia representativa é um sistema muito exigente e difícil de alcançar porque pressupõe a plena consciência dos indivíduos em todos os planos da vida social como condição para a assunção de uma plena responsabilidade logo no acto do voto (sobre isto veja o artigo de ontem de Pedro Norton, “Asfixia Democrática?”, no “Público”, p. 7). O princípio equivale ao do imperativo categórico kantiano: “age como se a máxima da tua vontade pudesse valer sempre e ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal”. Neste aspecto, não é preciso inventar, mas somente desenvolver o princípio no sentido de uma autêntica democracia deliberativa, investindo na qualificação e na intervenção de uma cidadania activa no processo político.
5.
Também não vi no manifesto uma menção relativa a uma questão absolutamente decisiva, mas hoje muito esquecida pela esquerda: quais as fronteiras da acção do Estado perante uma cidadania de múltiplas pertenças e com poderosos e quase ilimitados instrumentos de informação e de intervenção no espaço público? Um exemplo: é inaceitável a ideia, que se tem vindo a impor sobretudo em períodos de crise, de um Estado-Caritas substitutivo do Estado Social. A eficácia do Estado Social é hoje um problema a resolver politicamente, mas não através da prática esmoler. Depois, ligada precisamente à definição das fronteiras do Estado, está a política fiscal: quanto maiores forem as competências e a responsabilidade do Estado maior será a carga fiscal. A clarificação desta questão tem, pois, implicações directas na política fiscal, como se compreende. E ainda: quem deverá pagar impostos? Todos (ainda que alguns só simbolicamente) ou somente uma parte (em Portugal em 5 milhões e 400 mil agregados só 3 milhões pagam IRS)? Trata-se de questões centrais da política nacional que merecem uma reflexão analítica muito clara, em vez dos habituais fumos ideológicos e da retórica caritativa.
6.
Mas, e a propósito, também se torna necessário acabar com os discursos nebulosos da esquerda acerca da função do mercado e da regulação? E a ser feita, esta clarificação, ela deve ter consequências. Não se reduzir a um faz-de-conta, para boa consciência do progressismo regulador, como se vê em Portugal. Por exemplo, com o preço dos combustíveis, com os juros ou com os preços das telecomunicações, onde se verifica um descarado cartel. O problema do mercado cruza-se directamente com a determinação das fronteiras do Estado, sendo certo que o comando administrativo da sociedade ou o Estado mínimo sempre foram combatidos pela esquerda democrática. Pois bem, compete-lhe então esclarecer onde ficam as fronteiras da intervenção do Estado e as da intervenção do mercado, acabando de vez com a política-catavento. Em palavras simples, cumpre definir com rigor onde começa a responsabilidade individual e onde termina a responsabilidade da comunidade. E eu, a este propósito, pergunto sobre o que pensam os associados da “Causa Pública” da frase de John Kennedy, no “Inaugural Address”, em 20.01.1961: “Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country”.
7.
Na mesma linha está a questão da gestão da dívida pública. É aceitável que o Estado se ponha alegremente nas mãos dos credores internacionais (e dos bancos), a que se junta o domínio total das três famosas agências de rating (que detêm a quase totalidade do mercado de rating, e que são controladas pelos especuladores), “borrifando-se” literalmente para os recursos financeiros derivados da poupança nacional, como aconteceu recentemente com os Certificados de Aforro, ainda por cima por um governo do Partido Socialista? Percebe-se bem o problema pensando, por exemplo, nas imposições da Troika. E nas consequências da avaliação das agências. Mas percebe-se ainda melhor se pensarmos que 28% dos juros da poupança nacional revertem sempre a favor do Estado (imposto sobre capitais) e que eles são reintroduzidos na economia nacional, ao contrário do que acontece no caso dos credores internacionais (nem uma coisa nem a outra, designadamente porque estão isentos de imposto). E este é, a meu ver, um ponto muito elucidativo sobre a orientação política global de um governo e de um partido. Ser amigo do contribuinte que é, ao mesmo tempo, aforrador.
8.
Outra, ainda, é a da eficácia da máquina do Estado (que não seja só para cobrar impostos e taxas) sobre a qual os governos se têm mostrado completamente ausentes, desde que não seja para punir o cidadão. É só perguntar ao MAI quanto recebe por mês do seu Banco “privado”, a ANSR (no mês de Setembro do corrente ano, esta encaixou cerca de 7 milhões de euros de multas… para garantir a segurança rodoviária, sim, mas sobretudo a dos cofres do Estado). A eficiência do Estado é um pilar essencial da democracia representativa e dos direitos e responsabilidades da cidadania. Não pode é ser uma espécie de Estado sniper financeiro.
9.
Depois, a questão da mobilização da cidadania para além do quadro partidário, à semelhança do que acontece com as grandes plataformas digitais, como a MoveOn.Org ou a Meetup, por exemplo. Nos Estados Unidos, aquela primeira plataforma foi muito importante para a eleição de Barack Obama, para a defesa do Obamacare ou para os resultados apreciáveis de Bernie Sanders nas primárias democratas. Em Itália a plataforma Meetup deu origem ao MoVimento5Stelle. As insuficiências da democracia representativa e do sistemas de partido não só se resolvem “por dentro” como também se resolvem “por fora”, ou seja, promovendo canais de intervenção da cidadania fora do quadro tradicional da intermediação política e comunicacional. Esta associação bem poderia ter tido a pretensão de se constituir como uma plataforma de pensamento e acção política complementar ao sistema de partidos. Mas para isso não deveria inibir-se de “interferir no xadrez político”, tornando-se politicamente inconsequente. Pelo contrário, uma intervenção competente poderia ajudar os partidos a ultrapassar essas formas morbosas de endogamia e de fractura em relação à sociedade civil.
10.
E, já agora, também não teria sido descabido deixar uma palavra sobre a União Europeia e o seu futuro – por exemplo, acerca da manutenção da linha intergovernamental ou a sua constitucionalização -, hoje componente decisiva das próprias políticas nacionais dos Estado-Membros e tão importante como desejável reguladora da política internacional, cada vez mais influenciada por potências autoritárias e belicosas.
11.
Poderia continuar, mas não é o caso, para me ater a uma dimensão equivalente à do Manifesto. Na verdade, o Manifesto pouco ou nada acrescenta, a não ser a confirmação de genéricos e estereotípicos temas e da habitual linguagem politicamente correcta. Na verdade, vejo ali sinais de uma orientação que parece estar subordinada excessivamente a esse ambiente tóxico do politicamente correcto e seus derivados. A presença de certos personagens não dá lugar a dúvidas. Com todo o respeito, claro. Mas o que diz o PS? Já não digo António Costa, mas, por exemplo, Pedro Nuno Santos? Manter um prudente silêncio será a melhor política para fazer política? Não será tarefa inútil, e nem sequer difícil, ver com muita atenção o perfil dos personagens que subscrevem o Manifesto e que integram a associação “Causa Pública”. Essa verificação já a fiz, mas não quero pronunciar-me sobre eles. Fico-me pelas ideias e pelo não dito do Manifesto. Mas, adiante, que se faz tarde: venham daí boas propostas, que até pode ser que aqui se inicie o processo de um autêntico despertar da esquerda… JAS@10-2023
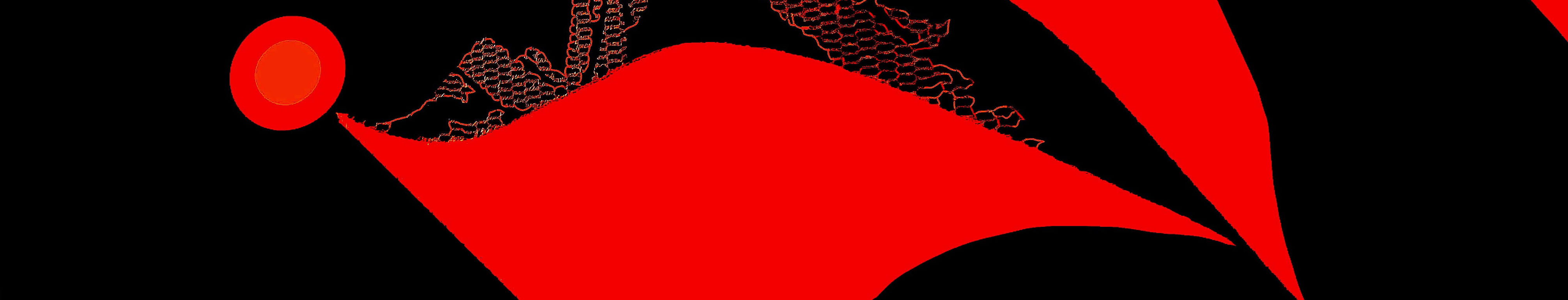
AFINAL, O QUE É O SOCIALISMO LIBERAL?
Por João de Almeida Santos

A RECENTE DECLARAÇÃO do Presidente da SEDES, Álvaro Beleza, na CNN-P, de que se filia no socialismo liberal, parece ter suscitado algumas perplexidades acerca desta doutrina, considerada até contraditória nos seus próprios termos – socialismo não rimaria com liberalismo; ou mesmo revelado desconhecimento relativamente à existência de uma tal doutrina ou orientação política. Decidi, por isso, publicar um pequeno ensaio sobre o Socialismo Liberal, de resto, retomando um capítulo do meu livro Paradoxos da Democracia (Santos, 1998: 65-68).
I.
“Não obstante a boa vontade e o talento que nela têm sido largamente investidos, a síntese de liberalismo e socialismo não conseguiu até agora realizar-se”, diz Perry Anderson, no seu ensaio sobre Norberto Bobbio (Anderson, Bobbio, Bosetti e Cerroni, 1989: 60). O socialismo liberal parece ser, pois, interessante para uma reflexão construtiva sobre a esquerda e a democracia, especialmente se considerarmos que esta última foi jogando sempre o seu destino entre liberalismo e socialismo, entre liberdade e igualdade, sobretudo nas suas versões mais radicais. Ouso até dizer que esta reflexão urge dada a clara crise que a social-democracia (ou o socialismo democrático) está a viver.
As razões para tal são abundantes e profundas. E notórias. A começar pela crise política e ideal que investiu o socialismo com a crise ou, pelo menos, as dificuldades do Estado Social e, sobretudo, a do socialismo de Estado. Ou, ainda, pela crise do modelo social e político fundado no industrialismo clássico sobre o qual se construiu essencialmente o pensamento socialista. Modelo inadequado funcionalmente às profundas mutações do sistema produtivo e das relações sociais provocadas pela emergência do pós-industrial e pela revolução da microelectrónica, a que se seguiu a actual revolução tecnológica que estamos a viver. Mas não só por estas razões faz sentido questionar o espaço ideal do socialismo liberal. Também o próprio neoliberalismo começou há muito a perder o seu fascínio e a sua tão apregoada eficácia económico-social, sendo evidentes os perniciosos efeitos económicos e sociais, por exemplo, da reaganomics ou do thatcherismo (veja-se Perry Anderson, 1995). De resto, um liberal como Ralf Dahrendorf sublinhara, há muito, a importância da questão social na perspectiva liberal. Outro liberal, Robert Dahl, escreveu mesmo um livro intitulado A Preface to Economic Democracy (1985). O livro A Theory of Justice, de Rawls, chegou mesmo a ser, por alguns, considerado como a “versão anglo-saxónica do liberal-socialismo”. Tudo isto não é pouco para justificar uma incursão pelo património ideal deste híbrido, ou “ircocervo”, de que se ocupa a polémica de Guido Calogero com Benedetto Croce, nos anos quarenta, em Itália. Liberal-socialismo ou socialismo liberal – a opção depende da orientação de origem, liberal o socialista.
II.
O conceito não é nem recente. De liberal-socialismo já falava Leonard Hobhouse, em 1911, no livro Liberalism, e de modo articulado e propositivo. O próprio liberal Croce, em Etica e Politica, chegou a afirmar que “bem se poderá, com a mais sincera e viva consciência liberal defender providências e ordenamentos que os teóricos da abstracta economia classificam como socialistas e, com paradoxo de expressão, falar mesmo (como recordo que se faz numa bela eulógia e apologia inglesa do liberalismo, a de Hobhouse) de um socialismo liberal” (Croce, 1973: 266). E, bem mais recentemente, Perry Anderson, num belo ensaio, The Affinities of Norberto Bobbio, de 1988, chega mesmo a encontrar a presença, no próprio filão clássico e no interior da obra de cada um dos seus expoentes, de uma passagem progressiva que conduziria do liberalismo estrito ao socialismo liberal: John Stuart Mill, Bertrand Russell (originariamente autodefinido “liberal ortodoxo”), J. A. Hobson e John Dewey (a “mente filosófica mais eminente” dos USA, como o define Anderson). O caso de Bobbio é complexo e de difícil definição. Certo, é que ele se assume como liberal, entendendo como liberalismo “a teoria que defende que os direitos de liberdade são a condição necessária (mesmo se não suficiente) de cada possível democracia, mesmo da socialista (se por acaso for possível”); e como liberal-socialista, e não só pelas razões históricas que o levaram a ligar-se com profundidade ao movimento liberal-socialista italiano liderado por Aldo Capitini e Guido Calogero e ao Partito d’Azione. Talvez também porque, como ele próprio afirmou, “pessoalmente considero o ideal socialista superior ao liberal”: “enquanto não se pode definir a igualdade através da liberdade, há pelo menos um caso em que se pode definir a liberdade através da igualdade”, isto é, “aquela condição em que todos os membros da sociedade se consideram livres porque têm poder igual”. Ou a igualdade perante a lei, que nos torna livres; ou, ainda, diria eu, seguindo a máxima de Cícero: “si aequa non est, ne libertas quidem est”.
III.
O liberal-socialismo pretendeu superar criativamente quer a tradição liberal quer a tradição socialista. Calogero dizia-o claramente, e com rigor morfolófico, na sua obra de 1945, Difesa del liberal-socialismo: “nem o liberalismo era substantivo, nem o socialismo era adjectivo, nem vice-versa, não havia díade de substantivo e adjectivo, mas um substantivo único… um só e novo conceito”. O primeiro Manifesto Liberal-Socialista, de 1940, declarava a indissociabilidade dos dois elementos: “não é possível ser seriamente liberal sem ser socialista, nem ser seriamente socialista sem ser liberal. Quem chegou a esta convicção e se persuadiu que a civilização procede tanto melhor quanto mais a consciência e as instituições do liberalismo trabalharem para inventar e para instaurar ordens sociais cada vez mais justas, e a consciência e as instituições do socialismo tornarem cada vez mais possível, intensa e difusa tal obra de liberdade, atingiu o plano do liberal-socialismo”. Durante o vinténio fascista italiano desenvolveu-se teoricamente uma área político-ideal bastante original quer em relação à tradição marxista e comunista quer em relação ao socialismo clássico. Intelectuais como Piero Gobetti ou Carlo Rosselli produziram obra original neste campo. O democratismo radical de Gobetti, tão em sintonia com as posições de Gramsci, viria a influenciar a criação de uma tendência bem mais curiosa do que o próprio liberal-socialismo: o liberal-comunismo, de Silvio Trentin e Augusto Monti, que aliava a ideia de Estado federativo anti-autoritário com a de uma forte socialização da propriedade. Rosselli, que, em 1928, escreveu um livro intitulado Socialismo Liberal, tentava, como diz Anderson, “expurgar o socialismo da sua herança marxista e da sua versão soviética e recuperava no seu interior as tradições da democracia liberal que ele considerava serem a síntese das conquistas fundamentais da civilização moderna” (1989: 29). Se o socialismo liberal de Rosselli estava mais perto da elaboração política de Calogero, de Gobetti aproximava-se talvez mais Capitini. No essencial, o liberal-socialismo traduzia precisamente esta oscilação de sensibilidades político-ideais, mas exprimia certamente uma inequívoca matriz liberal. Como disse lapidarmente Mario delle Piane: “o socialismo liberal de Rosselli (o qual, no fundo, entronca no revisionismo de Bernstein) é uma das heresias do liberalismo”. Heresia ou não, esta posição encontra-se claramente assumida no famoso livro de Eduard Bernstein, talvez o mais relevante e pioneiro intelectual e político que se situa nas origens do socialismo democrático. Falo da sua obra Os Pressupostos do Socialismo e as Tarefas da Social-Democracia, publicado pelo Editor Dietz, em 1899, em Stuttgart. Os partidos socialistas podem encontrar nele a sua grande inspiração, muito em particular depois do corte com o domínio do património marxista sobre a sua orientação ideal e política. E o que diz Bernstein? Vejamos algumas passagens deste livro a propósito do liberalismo, que é o que neste artigo me move: “Enfim, seria aconselhável uma certa moderação nas declarações de guerra ao ‘liberalismo’. De acordo: o grande movimento liberal da história moderna desenvolveu-se, antes de mais, a favor da burguesia capitalista; e os partidos que se definiam com o termo ‘liberal’ eram ou tornaram-se paulatinamente puros e simples guarda-costas do capitalismo. Entre estes partidos e a social-democracia não pode existir, naturalmente, senão antagonismo. Mas no que diz respeito ao liberalismo como movimento histórico universal, o socialismo é o seu herdeiro legítimo não só do ponto de vista cronológico, mas também do ponto de vista do seu conteúdo ideal”; ou “a democracia é somente a forma política do liberalismo” (“die Democratie ist nur die politische Form des Liberalismus”); ou ainda “na realidade, não existe ideia liberal que não pertença também ao conteúdo ideal do socialismo” (Bernstein, 1974: 191-192). Se dúvidas houvesse, bastaria o que diz Bernstein para que elas desaparecessem. Mas se não desaparecessem, conviria ir ler o Grundsatzprogrammdo Congresso de Bad Godesberg, de 1959, ou o de Berlim, de 1989, para ficar clara a adopção do princípio da liberdade como centro da orientação ideal do SPD e do iluminismo como uma das raízes históricas deste influente partido no universo da social-democracia europeia. O Iluminismo é, como se sabe, a expressão filosófica do liberalismo político. Mas convém também lembrar que o socialismo democrático e a social-democracia têm, de facto, mais afinidades com o liberalismo do que com o marxismo (na génese, a afinidade ou mesmo a identidade com este último era total, ou dominante) ou, naturalmente, com o romantismo.
IV.
Este movimento político-ideal (a que se juntava “Giustizia e Libertà”, fundado pelos irmãos Rosselli) viria a exprimir-se politicamente como Partito D’Azione, de curtíssima vida, esmagado pelos partidos políticos tradicionais. Bobbio participou na fundação de tal partido, precisamente enquanto elemento ligado ao liberal-socialismo. O rápido fim do Partito D’Azione não o levou, contudo, a pôr em causa as suas convicções liberal-progressistas; tão progressistas que acabariam por o tornar o grande e polémico interlocutor da mundividência teórica do comunismo italiano, talvez a mundividência hegemónica na Itália daqueles tempos (na filosofia, na teoria política e nas artes). E sempre e cada vez mais, apesar de o seu progressismo ser talvez mais de matriz liberal do que de matriz socialista ou, então, por o seu progressismo ser liberal-democrático, onde a democracia surge, e em Bobbio talvez seja mesmo assim, como a força polarizadora que relativiza e torna complexa a relação entre os elementos de extracção liberal e os de extracção socialista. Ou seja, para Bobbio a solução talvez esteja na convergência da tradição liberal e da tradição socialista na democracia representativa, bem mais subversiva do que a própria tradição socialista. A democracia representativa como síntese destas duas tradições.
V.
Poder-se-ia, então dizer que o socialismo liberal é aquele que melhor exprime e traduz a própria democracia, que integra ambas as tradições, ou seja, que combina de forma harmoniosa os princípios da liberdade e da igualdade. E se Bernstein tiver razão ao dizer que é indissolúvel a relação entre socialismo e democracia tudo fica dito, sobretudo quando ele também considera que a democracia é a forma política do liberalismo. Fica assim demonstrada a lógica do socialismo liberal ou até mesmo a ideia de que esta é a fórmula que melhor distingue o socialismo democrático do socialismo de Estado. Na verdade, não se compreende que socialistas considerem estranho este filão do socialismo liberal quando é ele que procura promover o que de melhor têm a tradição liberal e a tradição socialista, o que constitui a sua verdadeira marca distintiva. É verdade que os partidos liberais sempre se colocaram à direita e que há uma sua tendência, designada por neoliberalismo, que exprime de forma clara uma visão de direita. O que não se pode esquecer é que a carta que funda as nossa modernidade e o sistema representativo é a liberal “Declaração dos Direitos e do Homem e do Cidadão”, de 1789. E que foram os liberais que inauguraram a nossa modernidade política, derrubando o Antigo Regime. E, finalmente, que os partidos socialistas e sociais-democratas sempre procuraram harmonizar em igual medida os princípios da liberdade e da igualdade, como aspiração máxima da democracia representativa.
Não há, pois, razão alguma para considerar estranha esta “fórmula” do socialismo liberal, porque, como diz Norberto Bobbio, “O liberal-socialismo”, sendo somente uma fórmula(…), ela, todavia, “indica uma direcção” (1989: 82 – na resposta a Anderson). Nem mais.
REFERÊNCIAS
ANDERSON, Perry (1989). “Norberto Bobbio e il Socialismo Liberale”. In Anderson, Bobbio, Bosetti e Cerroni, Socialismo Liberale, Roma: L’Unità.
ANDERSON, Perry (1995): “Balanço do Neoliberalismo”. In Sader, Emir & Gentili, Pablo (orgs.) Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, pp. 9-23.
BERNSTEIN, Eduard (1899; 1974). I Pressuposti del Socialismo e i Compiti della Socialdemocrazia. Bari: Laterza.
CROCE, Benedetto (1973). Etica e Politica. Roma/Bari: Laterza.
SANTOS, João de Almeida (1988). Paradoxos da Democracia. Lisboa: Fenda.
JAS@09-2023

FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA (III)
Confissões de um Poeta
Por João de Almeida Santos

“Rubor”. JAS. 09-2023
OLHOS DE ÁGUIA
ELAS, AS MUSAS, fazem parte da identidade dos poetas? Talvez nem haja poetas sem musas, digo eu. Uma ligação indissolúvel. Estro, inspiração. Condenados a viver no mesmo lar. Que é imenso, tão vasto como o universo da fantasia. Estas musas, as que também a mim inspiram e com as quais vou convivendo no ondear da minha vida de poeta já têm fundas raízes no meu Jardim Encantado, lá na Montanha, no meu Parnaso. No meu lar. Aí o poeta tem olhos de águia, porque voa alto sobre o vale da vida. E quando atravessa um arco-íris, apoiado nos flancos montanhosos do vale, bem precisa deles, desses olhos, porque a sua sensibilidade se fragmenta em mil gotículas de água luminosas e em coloridas refracções, vendo o vale da vida a sete cores, lá do alto. São olhos de águia e de água. Da montanha e do mar. Ah, sim, quando atravessa os arcos-íris ele nunca resiste a sentar-se num deles para observar o que se passa lá em baixo, nesse vale. Vê tudo a cores em mil refracções. E ao pormenor, com esse olhos. Os olhos de águia.
REFRACÇÃO
Não há perigo de, um dia, as musas partirem de vez, cortando as raízes, porque elas regressam sempre com a chuva. No céu da fantasia há nuvens e chove lá, dizia o Dante Alighieri. Há azul, mas há também chuva. Na fantasia também há sempre muitos arcos-íris. Se não chove, pelo menos há milhões de gotículas no ar. E o poeta gosta de andar à chuva, de se molhar e de refrescar a alma, de a pôr em refracção com raios de sol, iluminando as palavras. Aquele lugar lá no alto, no topo de um arco-íris, é o melhor ponto de observação do vale da vida – a visão é caleidoscópica. E melhora a vida cá em baixo.
A POESIA É EXCESSO
Salvo-me porque me excedo, respondi um dia a quem me dizia que a poesia é excesso. O que me falta no real abunda-me na fantasia. Levito para me conceder o que me faltou. “Privação sofrida”. A fantasia puxa pela forma e obriga-me a formatar essas pulsões profundas que ameaçam fundir, liquefazer, a minha identidade. Porque ficaram lá nas profundezas da alma, não resolvidas, em ebulição. Mas eu preservo-a, a identidade e as suas deambulações pela vida vivida, criando. E a criação é excesso. Duas horas em poesia podem parecer uma eternidade ou um instante absoluto na dialéctica dos excessos de presença/ausência. Os fragmentos de memória afectiva são para mim como um rio que flui, com rápidos perigosos e aluviões que transbordam para as margens, e onde me atrevo a mergulhar para chegar à foz. Que é perigosa, por causa do choque ondulatório e do encontro de águas diferentes (doce e salgada). Felizmente, acabo por nunca lá chegar e por me ficar pelas margens do rio, levado pelos aluviões. É nas margens que eu crio. Aliás, o problema reside precisamente em nunca lá chegar… a essa desejada foz. Criar é transbordar para as margens da vida vivida.
MUSAS
Quando há perfumes no ar e há música, eu gosto de coreografar, não com o corpo, mas com a alma. Convoco o poeta e o pintor, vou com eles até ao jardim (tenho lá o tal imenso jasmim que me embriaga com aquele aroma acre e intenso) e dali partimos para uma coreografia de palavras e cores. Olhando para a montanha e invocando as musas. E elas vêm até mim, desafiando o estro. Às vezes, o pintor retrata-as, mas o poeta não se cansa de as cantar. São três (ou talvez quatro, não sei), como as Graças do Botticelli. E pousam na vasta ramagem do loureiro e do jasmim. Talvez por causa dos aromas e do significado destas plantas. Uma vez o loureiro “deu” uvas, imensas uvas, e tive de o cantar. Onde é que já se viu um loureiro dar uvas? Só mesmo o meu. Mas eu acho que foi obra de uma das musas. Talvez da Erato. Mas não tenho a certeza. O que sei é que por ali anda feitiço. Com essas uvas fiz vinho. E com ele oficio nos rituais de Domingo. Às vezes, quando pinto o jardim, parece-me ver umas misteriosas sombras, mas cativantes, que se assemelham às musas, mas, quando tento fixá-las, elas desaparecem. Sobra-me a poesia para as evocar e invocar. E, depois, inspirado num poema, dou-lhes forma. Reinvento-as. As musas são rápidas como o vento (são como as fadas) e é por isso que o poeta se queixa de tantas saudades sentir. Já estão a partir quase antes de chegarem. Neste caso, a rapidez delas cega-o a ele. E não as vê… mas pressente-as. E são silenciosas até doer, o que o leva a provar o “gosto amargo… de acerbo espinho” e a dar-lhes forma poética para resolver a sua saudade de “vago amante” (Almeida Garrett). Vinga-se delas, pintando-as, e não só com palavras.
BAILADO
Eu procuro sempre um bailado de palavras com ritmo próprio. Faz parte da minha poética esta coreografia musical. Com palavras. É sempre a última parte do meu processo criativo. E até sacrifico a semântica, se tiver de escolher. A sonoridade é intensamente sensorial e decisiva para a performatividade da poesia. Para a sua vitalidade. E para a sedução, a que o poeta sempre aspira. Mas é difícil. É um bailado a solo numa coreografia interior que se inspira em fragmentos da memória afectiva. Inatingível, a musa? Sim, como todas as musas. Só a ausência permite a recriação artística. “Maintenant tu es plus beau que toi-même, Gherardo” – dizia a Yourcenar/Michelangelo a um Gherardo ausente, em “O Tempo, Esse Grande Escultor”. E será mais intensa e bela se for sofrida. Levitação desejada, privação sofrida, dizia o Calvino, nas fabulosas “Lições Americanas”. Nas musas ganha intensidade a dialéctica entre a ausência e a presença. É neste intervalo que o poeta se situa.
A POESIA, A PERFEIÇÃO E O IMPOSSÍVEL
A resposta ao “até quando” te encontrarás, poeta, neste estado de privação é: sempre! Na temporalidade poética, digo, uma temporalidade superior não compatível com a circularidade efémera da rotina e do fungível quotidiano. Renúncia, dizia o Bernardo Soares. Mas é uma renúncia sofisticada, criativa, alimentada por fragmentos de memória, acarinhada por uma delicadeza extrema, como se fosse para seduzir a musa e trazê-la de volta. O que, sendo impossível, obriga o poeta a superar-se para transpor essa barreira da impossibilidade, procurando a perfeição. O poder arrebatador da perfeição. Só a perfeição pode resolver a impossibilidade. Porque nada é exterior à perfeição. Nela o impossível torna-se possível. A verdade é que em cada poema o poeta atinge a musa com a delicadeza e a subtileza das palavras que compõem a sua pauta poética. O Kant chamou a isto o “transcendental”: agir poeticamente como se a musa estivesse em frente e o poeta fosse um “diseur” em carne e osso para a seduzir fisicamente. Com o poder da palavra e a força da sonoridade poética, da música, da melodia, da toada. Até às lágrimas. Atinge-a assim. Só assim. O real pouco importa se ele já existir sob forma de registo em fragmentos de intensa memória afectiva. Os sentidos, depois, estão “representados” pela pintura que prolonga o poema e que é uma linguagem complementar do processo de sedução pela arte. A pintura como prótese da poesia, o que não acontece com a música, que lhe pertence, faz parte de si, lhe é interior. Verdadeiramente, não há impossíveis para o poeta que ouse atingir a perfeição. Tudo o que é poético é real, mas nem tudo o que é real é poético.
VIDA DE POETA CANSA
Eu creio que as paixões dos poetas são sempre labirínticas e jogadas entre a luz mais intensa e a sombra mais sombria. As musas são leves e rápidas como o vento, mas o poeta traz consigo o insustentável peso do viver agarrado às suas palavras e à sua melodia. Tem leveza e tem “gravitas”. O seu discurso tem densidade e não é isento de consequências, apesar de valer por si. E por isso talvez ele sofra de fadiga. E, também por isso, procure vitaminas poéticas para repor energia. Não é fácil descer constantemente às profundezas da memória e do tempo perdido para depois se elevar até ao azul celeste, voando sobre a linha do horizonte e espreitando o mundo da vida lá de cima com as lentes riscadas de uma vida vivida (nem sempre há arcos-íris de onde observar a vida em refracção de cores). É um esforço tremendo, este. E cansa, sim, mas também anima e liberta. Cansado, sim, mas ele tem sempre de levitar. E, sempre que pode, descansa sentado num arco-íris.
O POETA E O PECADO
Para o poeta nunca as suas aventuras são inúteis. E nunca padece de pudor. Ele explora-as, com fins poéticos, claro. Isto era o que o Nietzsche dizia, no aforismo 161 da obra “Para Além do Bem e do Mal”. E eu concordo. Talvez ele seja mesmo de paixão fácil, sim, mas nunca é leviano no sentir. Procura estar sempre no limbo, na fronteira, quase a cair nesse poço fundo da paixão… Sim, mas quando está a cair agarra-se às palavras e levita sobre o perigo, sobre o abismo. Nunca cai no poço. O poeta é um aventureiro interior, deixa-se logo ir ao primeiro jogo de sedução… Mas, depois, recua, resiste e renuncia. Não por pudor, mas para permanecer livre da circularidade efémera e redundante da circunstância. Como se o seu destino fosse viver em celibato num mundo de tentações e pleno de pecado. Sempre atraído pelo pecado. O poeta vive, sim, permanentemente em pecado… para depois se poder confessar (poeticamente) e se sentir absolvido. Paga o preço em poemas e redime-se. Sem pecado não há poesia. É preciso alguma coragem para viver assim. Em permanente pecado. Mas se não viver assim perde-se e cai na rotina, no supérfluo, no circunstancial. Nega-se. É assim, em geral, na arte, que não se entrega aos burocratas da vida, aos rotineiros, aos ritualistas da vida, que se perdem nas celebrações sociais. Aos que se deslumbram perante os espelhos que lhes põem diante. O poeta e o seu reverso, diz-me um amigo. Pois é. E isso vê-se nas contradições do seu próprio discurso. Estas contradições só podem subsistir porque acontecem no interior do discurso poético, mas espelhando as que, lá fora, devoram a alma dos amantes incondicionais.
ESCULPIR
Esse tempo, o da poesia, o dos seus fragmentos de memória, é, sim, o maior escultor. O tempo só conserva os fragmentos com densidade e intensidade existencial. Tinha razão a Yourcenar. Esculpir esses fragmentos é o destino do poeta, sempre em linha com o tempo, o seu tempo interior. O poeta é um aliado do tempo, esse escultor. Lamenta-se, esculpindo. É a sua fala. Cada golpe é dado em delicado sofrimento, palavra a palavra, como se estivesse a caminho de um êxtase redentor. Há mais fases? Não sei. Vai chovendo na fantasia e bem sei que não tenho o poder de produzir nuvens. Umas são mais carregadas do que as outras. Outras vezes desaparecem e nasce o azul inspirador. O poeta é súbdito da fantasia e esta move-se com o vento… como as nuvens.
O TEMPO DA POESIA
Fechar um processo com arte é como não o fechar. Cantar a despedida é como não se despedir. A arte abre, não fecha. Cada poema talvez seja apenas um lamento. Pronto a repetir-se. Lamenta-se, mas fica sempre por ali, à espera de nova oportunidade interior para se lamentar de novo. Um profissional do lamento. O revolucionário utópico lamenta-se do mundo que não consegue transformar e desenha utopias. O poeta lamenta-se da privação sofrida, levita e reconstrói o sentimento com palavras e sonoridade melódica e rítmica. A musa está ali para lhe lembrar que ele está em permanente dívida para com a vida, a quem deve um tributo. Não tivesse ele fracassado! Como poderia, pois, o poeta abandonar a musa que o inspira e o ajuda a pagar essa dívida? Seria como despedir-se de si próprio. O poeta bem sabe que o lamento não romperá o silêncio, mas também sabe que esse silêncio é o seu próprio alimento. No silêncio cresce o estro, no silêncio cresce o sentir, no silêncio cresce a vontade de comunicar poeticamente. O tempo resolve, dir-se-á. Mas a resolução poética é de outra índole. É outro tempo. Resolver poeticamente é sublimar, elevar. E a sublimação só acontece em estado de ausência, de perda, de silêncio. De despedida. Sim, por isso há sempre um recomeçar em cada despedida. Haverá sempre um novo sonho, mas não sabemos como será composto. Até porque as musas são imprevisíveis.
RUBOR
A figura branca (do quadro “Rubor”, aqui reproduzido) alude à neve que ainda subsiste quando Março já se anuncia sob a forma de flor, por exemplo, através das magnólias. Este rosto de flor/mulher, “a querer saltar da tela para se oferecer”, cromaticamente intenso e luminoso alude a uma musa que convoca o poeta-pintor a sair da gruta das sombras para a luz do céu, onde ficará encandeado e fascinado pelo seu olhar cintilante até que ela, rápida como o vento, regresse, num instante, ao Parnaso. Lembra a alegoria da caverna de Platão (há, no quadro, a entrada de uma gruta). É fugaz, como todos, este encontro e no regresso à gruta “sombria” da vida, carregando o peso da nostalgia e o insustentável peso do efémero, o poeta refugia-se na poesia para poder resolver esta perda, por levitação poética. A poesia, pela levitação, liberta-o dos grilhões que o prendem ao mundo sombrio da caverna e condu-lo de novo ao lugar do encontro, evocando e invocando a musa inspiradora. Um reencontro reparador, em ausência. O quadro representa o chamamento sedutor e a poesia, a que alude, o reencontro criativo, em ausência. Assim se completam, a pintura e o poema. No fim, quem fica feliz sou eu próprio, fiel guardião da casa onde habitam o poeta e o pintor.
ENCANTAMENTO
É encantamento, o que anima o poeta. Tem três musas (talvez quatro, sim). Mas elas são rápidas como o vento e o poeta vive o encantamento como raio que o fulmina e logo desaparece no ar. É a moira, o destino, o fado, o seu lado trágico. Vive em permanente contingência sujeito ao encantamento arrebatador, seu alimento. O que acontece presencialmente ou em diferido. É verdade que ele o experimentou directamente, o encantamento, que ficou aninhado lá no fundo da sua alma. Mas agora falta-lhe aquele olhar castigador, misterioso e físico que o submetia, o fazia estremecer. O estremecimento originário, que fez nascer o poeta. Um acontecimento que agora se manifesta através do silêncio e de uma ausência expressiva e sublinhada por um concreto gesto de vontade. Por isso, ele está sempre em perda (ou em dor), mesmo quando em maré-cheia, mais perto das musas. Das outras. É por isso que só lhe resta cantar. A sua vida é, sim, como as marés: maré-cheia, baixa-mar. Altas vagas a alternarem com mar calmo. Vive ao sabor das musas e dos ventos. Sem rotinas, mesmo quando o mar está calmo, porque as musas são exigentes, implacáveis e imprevisíveis. Quando o mar está calmo o poeta sente-se inquieto e fica em alerta. Ele sabe que está condenado a cantar… para ser feliz. Relativamente feliz, até porque sabe que tem de estar continuamente a conquistar a felicidade. A felicidade dá-lhe trabalho. Mas está condenado a ser (assim) feliz. A esperança convive nele paredes-meias com a desilusão e a dor. Entre uma e as outras só há o canto. E o canto repara a dor e anuncia uma nova esperança… Eterno retorno.
TRANSFIGURAÇÃO
Um dia escrevi um poema onde procurei aludir às interpretações demasiado literais da poesia levando o sujeito poético a reagir, voando sempre lá mais para cima, para o azul do céu. Há sempre quem esteja pronto a identificar o referente dos poemas, a identificar o sujeito poético (o actante) com o próprio poeta, a musa com alguém concreto e o estímulo real com o próprio poema. Já aconteceu e com consequências para o poeta ou, se quisermos, para o autor. É claro que o poeta engravida para dar à luz um poema, mas a gestação é solitária e segue o seu próprio percurso com os recursos de que dispõe. É o parteiro de si próprio. É por isso que estou sempre a citar o Pessoa e o poeta fingidor. Porque diz tudo acerca da poesia. Ainda por cima, como acontece neste caso, muitas vezes a musa é retratada também em pintura pelo poeta-pintor. Mas mesmo que nela haja traços de uma pessoa concreta o referente é a obra de arte e não essa pessoa. Ou seja, a arte descola do real e a ele regressa somente como transfiguração. Entre um momento e o outro há séculos de história da arte, de poesia ou de pintura. Séculos mediados pela sensibilidade e pela técnica do artista. A sua é uma leitura empenhada por dentro do sujeito poético e pelas suas motivações, tal como há muito se vem expondo nas suas narrativas poéticas. Sim, é verdade, a arte é devolução do real transfigurado. O virtuosismo é dança a solo, sem partner. No mínimo, requer-se um pas de deux e música para o executar. Mesmo quando convocado para um solo, a partner (a musa) também dança. Só que não se vê.
FANTASMAS NA CATEDRAL
Também creio que andam por aí fantasmas à solta, não tivesse o poeta sido visitado por uma musa (Eliot). Aliás, foi assim que ele nasceu. Fantasmas nas catedrais de palavras, onde o murmúrio é a linguagem. Sim, a poesia é murmúrio. Há fantasmas na catedral, pois há. Os poetas vão para lá suspirar de tão melancólica vida viverem. Protegem-se assim do ruído do mundo e inventam um tempo que é só seu. E criam cânticos com ecos de catedral. Os poetas vivem em catedrais porque nelas tudo se conjuga para a perfeita levitação, o som, a luz filtrada, a penumbra, o pleno e o vazio, o silêncio, a grandiosidade das colunas e das abóbadas. Poética religiosidade onde a invocação é à musa. Musa e fantasmas são por isso os habitantes da poética catedral. E ali está o poeta a cantar o seu trágico destino como oficiante do ritual em que se transformou a sua vida. É lá que ele constrói as suas pontes entre o desejo e o impossível.
A CASA DA INQUIETUDE
Apetece-me dizer que o poeta habita a Casa da Inquietude. Também lá vive o gémeo pintor. E ambos pintam a mesma inquietação, um, com palavras, o outro, com riscos e cores. Normalmente quem dá o primeiro passo é o poeta, o que tem a sensibilidade sempre à flor da pele porque a vida o castigou. Nasceu assim como poeta. Sísifo alado que carrega consigo um imenso fardo de palavras. Fardo? Talvez não porque elas são leves como as nuvens do céu. O que talvez não seja o caso do pintor – ser como Sísifo. Mas não sei, não quero ser injusto com ele, libertando-o do tormento criativo. O que sei é que, depois, o pintor alivia-o da dor com a pintura. Se com as palavras o poeta levita sobre o vale da vida, com riscos e cores o pintor ainda se eleva mais, criando um ambiente de luz e cor que aquece as palavras com que o poeta se “confessa”, se liberta, se redime. É um autêntico bailado. No fim, creio que a sinestesia dá origem à feliz melancolia ou à alegre nostalgia. O poeta fica pronto a recomeçar. Uma espécie de eterno retorno, já que vive irremediavelmente na Casa da Inquietude e de lá não pode sair, não pode mandar o passarinho embora porque seja feliz (e não é). Seria eutanásia poética. Quase um oxímoro. Porque sem dor não há poesia. A felicidade não consta dos anais da poesia. Bom, se constar será como que uma felicidade dorida. JAS@09-2023

FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO SOBRE A POESIA (II)
Por João de Almeida Santos
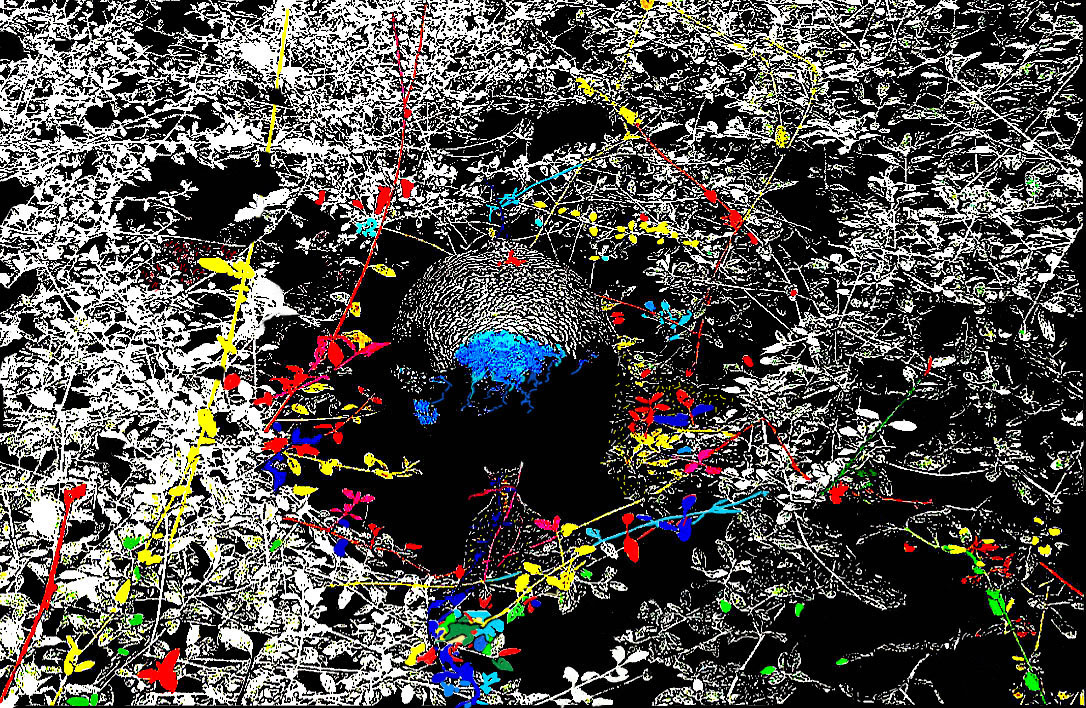
“A Neve e a Primavera”. JAS. 2022 (Impressão Giclée em papel de algodão – 100%; 310gr – e verniz Hahnemuehle, 68×93, Artglass AR70 em mold. de madeira)
1.
PALAVRAS BORDADAS… Alguém se referiu a um poema meu com estas palavras. Sim, a poesia é tarefa meticulosa parecida com os bordados. Os fios são palavras. O poeta, o bordador. E um bordado é sempre uma dádiva executada com carinho. Não é somente virtuosismo técnico. Não, é mais. É como a poesia, também ela uma dádiva, a nós próprios e aos outros. Uma acção verbal perante outrem. Como exigência interior. E como partilha. Palavras bordadas, cantadas para que os outros sentidos possam ouvi-las e quase tacteá-las nas vibrações… Sim, e para isso há “diseurs” e cantores que as fazem chegar aos nossos outros sentidos. Música, comunicação sensorial delicada e intensa. A Natália Correia dizia que a poesia também se oferecia ao paladar (e, por isso, também ao olfacto): a poesia é para comer. Um dia, alguém me disse que só gostava de poesia se outros a dissessem para si. Que precisava sempre de um “diseur” ou de uma “diseuse”. Som, sonoridade, mas sobretudo oferta, alguém que interpela através da poesia, que fala poesia em modo musical. Oferta, sim. Gostei do que ouvi. Arte total se, depois, for acompanhada pela pintura e pelo movimento. Dançar poesia talvez seja possível (ela tem música dentro, tem melodia e ritmo) e valha a pena. Dançar com a alma em palavras. “Ballon”, visto o processo de levitação que anima a poesia. Tal como a dança ela retira peso ao real. E até se poderia criar uma notação especial para a dança poética – definir com rigor determinados passos e movimentos para cada verso e cada estrofe, como acontece na dança clássica ou na moderna. Tal como se pode “ilustrar” (projectar ou pôr em diálogo) com pintura um poema (é o que faço todos os Domingos), também se pode dançar um poema, mesmo sem música ou, melhor, somente com um poema dito por quem sabe dizer poesia, dando forma musical à que ele já tem dentro de si. Ou dançá-lo com a alma, que é o que frequentemente acontece a quem sintoniza com um poema. Levitar. “Ballon”. Mas eu digo: dançá-lo mesmo, com passos de dança. Num pas de deux, por exemplo. Com a musa. Ah, como gostaria de ver um poema meu musicado, cantado e… dançado. Nem exigiria que fosse com a musa. O palco poderia ser o Jardim Encantado e a época aquela em que Perséfone regressa. Renascer com um poema. Talvez um dia isso venha a acontecer.
2.
Gosto, como o poeta, de Março. Anuncia beleza, cor, aromas, sol, vida que desponta e renasce, o regresso de Kore, sim. Março é uma fronteira aberta entre a neve e a primavera. Acontecem coisas em Março. Acontece aquela magnólia com farrapos brancos que parece testemunhar em diferido a neve que já se foi. O poeta fala delas e canta-as. Ouçamos a extraordinária Milva que, interpretando o poeta napolitano Salvatore di Giacomo (“Marzo”), canta aquele passarinho friorento que aguarda que o sol desponte e as violetas suspirem. Março é Catarina e todos os nomes que neste nome estão inscritos. Nomes de musas. Que, afinal, são mais do que nove, embora Erato esteja sempre à espreita. E é rico em contrastes, mas sobretudo na ternura do poeta-passarinho que os canta, dando-lhes um nome de mulher. Um nome por todos os nomes. A mulher e a natureza, tão parecidas em Março. Março é vida que regressa nesse eterno retorno da natureza e nos interpela, convidando-nos a renascer com ele, com ela. Proserpina, Perséfone ou Kore lá estão a insuflar de vida a natureza, incluída a humana, logo, a vida e a alma do poeta. Não há Hades que resista. Esse há-de voltar… lá para o Outono.
3.
Com Março também chega a cor que se acrescenta à palavra. Um diálogo, interpretado pelo poeta-pintor, entre a poesia e a pintura. O que ele pensa de ambas como expressões vividas do que lhe vai na alma, já em modo de levitação. Um poeta-pintor que se realiza mais na poesia (vai mais a fundo no “páthos”) do que na pintura e que vê a (sua) pintura como visualização, intensificação e extensão da (sua) poesia. Mesmo quando parte da pintura, ele vai à procura do poema que lhe ferve na alma. A matriz está na poesia, apesar da autonomia das linguagens. Ou, pelo menos, o seu é um processo de associação íntima e intensa de ambas. É claro que a cor que está inscrita num poema tem de ser visualizada com a mente e não com os olhos, estando as tonalidades associadas ao sentido profundo e global do poema. O pintor ajuda, ao propor uma tradução plástica do poema. Num poema melancólico a melancolia invade e coloniza as tonalidades. Numa pintura, o poeta-pintor procura dar vida à cor que o poema pede, como súplica, procurando libertá-la das amarras dessa súplica e levá-la ao azul do céu até à linha do horizonte, a perder de vista. Procura estilhaçar a dor através de um poderoso caleidoscópio. Um cromatismo que se desprende do poema e se autonomiza, a caminho, sim, das duas primaveras: a que esteja a chegar, em Março, e a que chegará quando, pela arte, ficar livre da prisão que o amarra à rugosidade e aspereza da vida quotidiana. À dor primordial, física, sofrida corporalmente. Estas duas artes completam-se e ajudam a transformar a dor em festa, com girândolas de cor.
4.
Na poesia e na pintura acontece uma dialéctica entre as duas faces expressivas da sensibilidade: uma, interior, a dos olhos da alma; a outra, exterior, solar, sensorial, luminosa. Uma, que sai de uma intensa pulsão interior e que se exprime através de um código linguístico estético-expressivo; outra, como ilustração luminosa e animada desse desejo irreprimível de cor revelado pelo poeta… num poema. Sim, o fundo é um desejo profundo de primavera e de luz. O poeta e a musa – como poderia ser de outro modo? O poeta fala sempre a alguém, interpela, dando, assim, sentido à sua voz. Mas, depois, é o exercício poético que universaliza esse discurso dirigido. E esse exercício ganha asas e liberta-se do referente, sem nunca o abandonar, o esquecer, o recalcar. Leva-o consigo no voo e espiritualiza-o, retirando-lhe peso: privação sofrida, levitação desejada. Uma inspiração remota que o poema renova, faz renascer, como se se tratasse de um ritual existencialmente imperativo, obrigatório. O poeta tem vida própria e também tem de se alimentar para que a poesia se renove. Os poetas são como os pássaros. Têm asas e o seu ambiente é o da leveza. E como é bom vê-los voar no céu luminoso e azul, vibrante… pintado pelo pintor nas suas fugas para o infinito através do olhar. Palavras coloridas.
5.
Concerto. Gosto da palavra porque alude a uma melodia interpretada por dois solistas: um poeta e um pintor, em consonância musical, semântica e cromática. Arrogo-me o direito de ser eu o compositor e o director de orquestra. Espero sempre que os acordes sejam conseguidos, em harmonia. Sim, são como fúchsias do meu jardim, brincos oferecidos à princesa, que é também musa dos cânticos poéticos. Oferecidos pelo pintor que nasceu do poeta “à la recherche de la couleur perdue”… encontrando-a assim, tão exuberante, luminosa e animada no regresso de Proserpina. Uma oferta generosa ao poeta que a suplicava, receoso que as primaveras não chegassem em toda a sua plenitude. Mas uma chegou e ele ficou, feliz, à espera das outras. Sim, do renascer luminoso da natureza e também de outras cores mais auspiciosas do que as cores tão cinzentas da rotina. Concerto: quando os dois solistas, poeta e pintor, se afinam sob a batuta do director de orquestra soa a liberdade e a azul infinito do céu. Pas de deux, no palco da vida. Com arte. Não há tristeza que resista.
6.
Precisamos de primaveras e de cor. Precisamos sempre. Cor por fora, mas sobretudo cor por dentro. E é verdade que o amor ilumina, tem uma força de tracção inacreditável. Mas não só. Também inspira e ajuda à descoberta de dimensões que julgamos não ter. É magia e encanto. E está para além do ser amado, transcendendo-o. O poder por ele desencadeado deixa de pertencer ao ser amado e, de certo modo, ao amante. Como uma força que nos possui e nos engravida, dando origem a novos seres. É por isso que eu acho que o amor é um privilégio, sobretudo para quem ama. Como na doutrina da predestinação: tocados pela graça. Mas muitos nascem e morrem sem saber o que é isso. Ficam em pecado, porque pecado é não amar. Outros mal se apercebem do que isso é – pelos livros é apenas uma compreensão mutilada do pathos. Logo, de certo modo inconsequente. “Primum vivere deinde philosophari”. Pronto, acho que é isto. Mas também acho que só a poesia o pode dizer em plenitude. E por um poeta atingido irremediavelmente por esta irresistível pulsão. A excepção virtuosa. Uma linguagem altamente performativa.
7.
A arte ajuda a superar as fases tristonhas e delicadas da vida. Para quem a faz e para quem dela usufrui. Não a sinto como missão, porque me liberta e me dá prazer, mas sei que, partilhando-a, de algum modo também partilho alguma (in)felicidade interior, em forma de beleza construída. A arte também é comunicação, partilha e encontro. E, por isso, sim, faz ricochete, tanto maior quanto mais profunda for a sua autenticidade. É como partilhar a “aura” de uma obra de arte. E há também conversão da dor, a tal que segundo o poeta, enobrece. Mas essa é dor de poeta. Uma dor especial. Entre a pulsão e o fingimento. Do “espírito dionisíaco” ao “espírito apolíneo”. Do conteúdo à forma. Também se pode chamar impossibilidade, algo que se tem à mão, mas que na realidade fica tão longe que nunca lá se há-de chegar e que, por isso, gera melancolia e saudades de um futuro que nunca chegará. Está ali, mas não lhe podes tocar. E, se chegar até ti, será somente sob forma poética. Por isso, o poeta se lança na sua aventura impossível e vai por aí adiante sem nunca parar, sabendo que é no caminhar (poético) que vai tocando ao de leve o que nunca atingirá completamente… Eu acho que amar também é dizer (que se ama). Os poemas são beijos. Que podem não chegar ao destino, porque dependem do vento e dos fantasmas. Mas, de certa forma, eles chegam sempre. Nem que seja como eco, como ressonância ou como reflexo de luz. Quando digo que a poesia é altamente performativa é isto mesmo que quero dizer.
8.
Fantasia. Que bom é sentir a chuva, fria, na fantasia. Fria, mas que aquece a alma. Nunca me resguardo, desde que, um dia, “ouvi” o Dante Alighieri dizer, no Purgatório, “poi piovve dentro a l’alta fantasia”. Só me “resguardo” com o chapéu poético. Mas isso não é resguardar-se. É expor-se ainda mais à chuva. Numa pintura que fiz para um poema, desenhei uma cascata a jorrar cor sobre um poema, entre a dor e a (vã) utopia. Chove abundantemente no poema, até ficar encharcado. Chove na alta fantasia. Dar vida e forma à voz de Dante inspirado nos versos sanguíneos do poeta nordestino Manuel Bandeira é desafio estimulante – a dor que cai gota a gota do coração (“Desencanto”):
“Eu faço versos como quem chora De desalento... de desencanto... Fecha o meu livro, se por agora Não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue. Volúpia ardente... Tristeza esparsa... remorso vão... Dói-me nas veias. Amargo e quente, Cai, gota a gota, do coração. E nestes versos de angústia rouca, Assim dos lábios a vida corre, Deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre."
“Como quem morre”, sim, mas para renascer através da transmigração poética. É a fantasia que torna sublime a dor, quando chovem lá dentro lágrimas em forma de palavras. Gota a gota, vindas do coração. Volúpia ardente. Sim, na cascata que pintei também há palavras que jorram sob a forma de gotas compactas como rios de cor sob um fundo vermelho, a cor da paixão. E do sangue. Por isso, “dói-me nas veias”.
Sim, há sempre marcas existenciais, recentes ou remotas, na poesia ou na pintura. “Dói-me”, sempre, “nas veias”. A conversão estética dessas marcas profundas dissimula-as, umas vezes mais, outras menos. Mas a dor permanece, como se vê no poeta Bandeira. É próprio da poesia, o tal fingimento, mas também procuro que esteja na minha pintura numa medida equivalente à da poesia: finge que é dor “a dor que deveras sentes”. Só que a cor absorve quase integralmente a dor. Pelo menos, parece. Esta, aqui, é como que uma dor residual. Não é como a do poeta, que sofre mais, muito mais. Mas a verdade é que em ambas as artes há levitação. E, por isso, libertação. Liberdade. Tenho navegado muito pelos rostos, que é arte muito difícil, porque durante muito tempo me habituei a escrever sobre eles, olhando para eles. É no rosto que se lê a alma. E, se houver dor (e há sempre), ela estará lá espelhada, como sinal. Mas nele, no rosto, há também mistério, além da dor (se houver). E este, o rosto, é uma poderosa fonte de amor. Porque é ele que atrai. O mistério. O rosto talvez seja a chave que abre as portas do amor. E da poesia. “E nestes versos de angústia rouca, /Assim dos lábios a vida corre, /Deixando um acre sabor na boca. /Eu faço versos como quem morre.”
9.
“Le malheur et la mélancolie sont des interprètes les plus éloquents de l’amour”. Esta frase do Balzac, se não erro, cito-a no meu romance “Via dei Portoghesi”. É do livro “La Femme de Trente Ans” (1842; Paris, Ed. Nilsson, 1930, pág. 44). E até poderia complementá-la com uma referência constante do “Sottisier” do Gustave Flaubert, atribuída aqui a Stendhal, nas suas “Promenades dans Rome”: “Para as artes são precisas pessoas um pouco melancólicas e infelizes”. Tudo bate certo. As categorias do amor plasmadas também na arte. A melancolia e a infelicidade (“le malheur intérieur”) como molas propulsoras de arte, de superação pelo belo, de cristalização, expiação, resgate… Por exemplo, infelicidade por amor falhado, como no caso do Stendhal com a Matilde Viscontini. Não pintei um rosto melancólico por acaso num quadro que se chama “Melancolia”. “Infelicidade interior”. Os sentimentos presentes na personagem feminina daquele meu romance: Paola Valenzi. A dialéctica entre encanto e desencanto. Também ao personagem masculino do romance, Gianni della Rovere, lhe doía nas veias. Amargo e quente – era assim que se sentia. Mas é este também o destino do poeta: vive entre o amargo da dor e o quente das palavras que o fazem levitar.
10.
A exaltação nasce do impossível. Como um contraponto. A poesia como partitura onde a palavra é a outra face do silêncio e da ausência. Do impossível. Num diálogo implícito e teatral. Com autor e encenador. Onde os personagens sobem ao palco por exclusiva vontade do encenador. À procura de autor e de enredo. De um novo enredo. Mais belo. E onde a plateia é universal. É uma peça com evocação e invocação do ausente silencioso. Chamamento. A arte alimenta-se disso. Interpela. Torna-se ela mesma superação do impossível. Torna acessível e universal a impossibilidade. Torna verosímil, plausível e possível o impossível, na medida em que faz dele o tema central da narrativa. Melhor: não há impossíveis quando visitamos ou vivemos o real com a arte. Porque na arte há vida e também há partilha. A arte é intensamente inclusiva. E, sim, a “sorte” acontece quando somos escolhidos como inspiração para o voo da fantasia. E é possível escolher o impossível como matéria da arte. É tarefa hercúlea subir essa montanha abissal da impossibilidade e, no fim, sentir-se como se a tivéssemos atingido em cheio. Há sempre uma razão. Um contacto, ainda que tangencial, mas interiormente sentido, que dá vida à fantasia. A estimula. Ou a arte como contraponto do impossível numa sinfonia de palavras. A poesia é como uma rua onde há encontros e desencontros, sol e sombra, luz e escuridão, frio e calor, onde corro ou simplesmente passeio, onde compro coisas ou simplesmente olho para as montras…
11.
“O tempo corre sempre contra nós (…)” – disse alguém. A vida é uma luta contra o tempo, que é implacável, inexorável. Num certo poema, a alusão do poeta era à eternidade desejada num encontro de afectos e também aí o poeta respondia ao tempo que escasseava construindo futuro… num poema. Procurava subtrair-se à tenaz do tempo. Agarrava com palavras o tempo que lhe fugia por entre os dedos das mãos. Mas é verdade, em geral, o que alguém dizia: responde-se ao tempo que escasseia e foge, construindo futuros intemporais. Era também o que dizia o filósofo: “impotente e encerrado na melancolia sento-me ao estirador e desenho futuro e utopias. Faço a revolução quando me sinto impotente perante um real que se mostra indisponível e indiferente à minha vontade e ao meu desejo”. Há quem procure o tempo perdido revolvendo o passado (e não o encontrará, esse tempo esvaído) e há quem acrescente futuro ao tempo passado que construiu com as suas mãos. Constrói-se passado no presente a olhar para o futuro e, assim, no futuro pode-se recomeçar a partir do passado que já é património. Sem isto não haverá capacidade de construir futuros porque o futuro não se constrói sobre o vazio, tal como as utopias… a não ser como ponte entre as margens do vazio. Não há excesso de tempo, diz o poeta. E é verdade. O tempo é mais rápido do que nós e, às vezes, até nos atropela. Às vezes? Eu acho que nos atropela sempre. É a velocidade do tempo que o torna escasso. Mas a poesia consegue agarrá-lo, fixá-lo e projectá-lo para um plano liberto dos riscos da velocidade e da cegueira que ele produz. De facto, o tempo da poesia é outro. É o tempo da fantasia como exercício da vontade animada de desejo, de beleza e de eternidade. E de partilha universal. É a festa das palavras quando o poeta sente o “desencanto”… então, desprende-se, levita e dá asas ao desejo – chove-lhe na fantasia. JAS@09-2023

O BEIJO
Por João de Almeida Santos

“O Beijo”. JAS. 09-2023
PENSEI E VOLTEI A PENSAR se deveria escrever sobre esta polémica mundial desencadeada por um beijo dado publicamente, perante as câmaras de televisão de todo o mundo, no final do campeonato mundial de futebol feminino, pelo Presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, a uma importante jogadora da selecção espanhola, Jenni Hermoso. Na verdade, há uma gigantesca desproporção entre o acto, o beijo, e a importância que lhe está a ser atribuída, mas a polémica tornou-se planetária e, por isso, vale a pena fazer algumas observações sobre o assunto, sem embarcar na conversa do “politicamente correcto” ou sucumbir à “espiral do silêncio”. Até porque o assunto se inscreve na esfera da conhecida ideologia gender, no wokismo e na lógica do movimento #MeToo. Para não dizer nas lutas internas da selecção. Talvez seja mesmo um beijo contaminado por um ambiente externo um pouco tóxico. Só assim se compreende que a extraordinária vitória da selecção espanhola tenha ficado encoberta pela guerra do beijo. Quase um oxímoro.
I.
A primeira observação é esta: um beijo é, em si, por definição, um gesto de ternura ou carinho, se entendido independentemente das circunstâncias em que aconteça, ou seja, sem as tomar em consideração. Mas, claro, pode ser violência em dois sentidos: física, quando houver coacção física e acontecer contra a vontade e a resistência explícitas de quem, neste caso, o sofre (é esta a palavra); simbólica, se, não havendo coacção, acontecer sem implícito ou explícito consentimento de quem o recebe. Neste segundo caso, o beijo pode acontecer em ambiente de normal convivência, podendo até ser traduzido pela expressão “um beijo roubado”. Sem aviso, inesperado. Acontecendo, pode dar lugar a agrado ou desagrado, mas não ser considerado ofensa por não haver intenção sexual. Ser simplesmente manifestação (imprudente ou não) de terna ou carinhosa cumplicidade. Numa situação de pacífica e amistosa convivência. Mas sendo considerado ofensa, embora considerado sem intenção, isso pode levar a um pedido de desculpa, que será ou não aceite. E o caso pode ficar por ali com implicações, positivas ou negativas, entre as pessoas envolvidas. O beijo (roubado) também pode acontecer em ambiente festivo, emotivo, de expressão de júbilo colectivo, onde a emoção se sobreponha à fria racionalidade dos gestos formais, tendo como significado simplesmente a expressão de alegria, de reconhecimento, de partilha, de forma mais ou menos intensa, espontânea, sem manifesta expressão de desejo sexual e muito menos de violência de qualquer tipo. Tudo isto pode acontecer sem drama. Trata-se, afinal, de um beijo em circunstâncias especiais. Pode-se acrescentar aqui a questão do respeito, a manter em qualquer circunstância.
O que não se pode é olhar para a relação homem-mulher, nem sequer já como pecaminosa ou concupiscente, mas como portadora de tendencial imposição de poder masculino gerada automaticamente, “por defeito”, pelo sistema, como já vi escrito por uma deputada do PS, radical-feminista, ou por um articulista profissional: “libertou instintos masculinos vindos de séculos de poder sobre os corpos das mulheres” (Daniel Oliveira, no “Expresso”). No caso em apreciação, o homem, doravante, terá o seu destino marcado, o dedo eternamente apontado, e em riste, pelo radical-feminismo como o inominável “abusador” que, movido pela euforia da vitória feminina, deu livre curso aos seus mais básicos e historicamente arreigados instintos de abuso sexual sobre a vítima de sempre: a mulher. Com um sabor especial: tratava-se de uma mulher vitoriosa. Numa relação, pois, que, afinal, continua a estar historicamente contaminada, desde tempos imemoriais, por uma tendencial pulsão de abuso masculinio de poder. Hoje e aqui, nas actuais sociedades democráticas dos países desenvolvidos… e à vista de todos. Um despudorado, mas irreprimível abuso de natureza instintiva que urge combater com todas as armas que houver à mão, diz-se. Vigiar o beijo de todos os ângulos possíveis (até a intenção de o dar) para que não seja desfigurado e se transforme em símbolo máximo de violência, de abuso e de dominação. Haverá sempre o perigo de um olhar mais intenso anunciar a possibilidade de um beijo não consentido…
II.
No caso do beijo de Rubiales a Jenni Hermoso, parece-me que ele poderia muito bem ser considerado, sim, como um gesto intenso de júbilo numa situação de grande emotividade, de grande euforia pela vitória num campeonato mundial. E até poderia ser considerado como “beijo roubado”, sem a gravidade que lhe foi atribuída. Vendo a coisa de outro modo, é claríssimo que não houve violência física, mas provavelmente também não houve sequer violência simbólica, porque não é natural nem lógico que naquela especial situação tenha havido premeditação, intenção de abuso de poder ou sexual, tendo o acto decorrido numa série de manifestações públicas espontâneas entre os vencedores no palco celebrativo. A não ser que a pulsão de poder (sexual), historicamente contaminada, se tenha apoderado do homem e o tenha coagido a beijar (instintivamente), como parece sugerir o articulista. Admito que a euforia da vitória (mas não o instinto) tenha levado Rubiales a um excesso (roubar um beijo publicamente a Jenni) que deveria ter sido evitado, até porque a presença da Rainha no palco deveria ter levado a uma certa contenção. Mais formalidade e menos emotividade pulsional. Sim. Posso admitir que tenha acontecido algum excesso de intimidade publicamente manifestada, a resolver de imediato com um pedido público de desculpa, se o autor se tivesse apercebido de ter causado incómodo à jogadora Jenni. Mas, observando o que aconteceu, ainda por cima em ambiente público, de festa e de júbilo pela vitória, acho sinceramente desajustado que esse gesto tenha sido interpretado como violência de género (se se tratasse de uma presidente e o caso acontecesse nos mesmos termos seria assim interpretado?). Numa situação destas, a rapidez da ocorrência e a alta emotividade com que as manifestações (em público, sublinho) ocorreram nem sequer parece ser normal um pedido explícito de consentimento: “desculpa, Jenni, estou tão feliz que gostaria de te dar um beijo de júbilo e de reconhecimento pelo teu papel no campeonato…”. Para mim, o excesso reside, sim, nas interpretações feitas pelo feminismo radical e pelo puritanismo pretensamente progressista a um gesto que visivelmente não exprime violência ou ofensa, pelo menos intencionais, quando o que realmente exprime é júbilo, alegria, emoção e até reconhecimento pelo papel de Jenni Hermoso na vitória. E até digo mais: a ter razão o articulista, ou seja, a ter sido a força do instinto, historicamente determinado e condicionado, a explicar o acto, então ainda deveria haver mais compreensão pelo carácter não consciente do gesto.
III.
A verdade é que este beijo não foi dado às escondidas, na penumbra, numa rua escura, num quarto de hotel, num gabinete, mas resultou de um ambiente de festa pública, nada parecendo ter de ofensa sexual, de abuso intencional e, atrevo-me a dizer, sequer de falta de respeito. E, claro, também não me atrevo a considerar que tenha sido o histórico instinto masculino a apoderar-se de Rubiales para se materializar como exercício de poder e abuso. Deveria haver maior formalidade? Sim. Deveria. Mas daí a motivar uma guerra aberta e uma implacável cruzada puritana vai uma distância enorme. A questão, no meu entendimento, deve ser centrada no significado do acto e não no excesso, perfeitamente compreensível (mesmo que não aceite) depois de uma vitória mundial. No excesso vêem o mal, porque um beijo é uma manifestação de carinho, não podendo, numa circunstância destas, ser tomado por agressão. Foi o que eu vi. E vi todas as imagens que circularam. O Presidente da Federação agride uma jogadora depois desta ter ganho um campeonato mundial… Isto faz algum sentido? Rubiales tropeçou, de tão feliz estar pela vitória? Sim, tropeçou, até se pode admitir. Mas fazer uma guerra por isso parece ser totalmente desajustado. A não ser para desencadear um vasto processo de ajustes de contas no interior da Federação: a demissão do treinador Jorge Vilda, que venceu o mundial, é a confirmação de que é disso mesmo que se trata. E não só: também serviu de pasto aos apóstolos da ideologia de género, que encontraram no famoso beijo um belo pretexto para propagandear o seu radicalismo num sector de impacto mundial.
A verdade é que o beijo desencadeou uma guerra sem quartel e foi aproveitado pelos radicais do wokismo, pelos identitários e pelos puritanos de fachada progressista de vários matizes para imporem uma vez mais a sua doutrina e julgarem a história da masculinidade até às suas origens. O dogmatismo treslê. Mas aos radicais que se dizem de esquerda aconselharia a lerem os “Manuscritos de 1844”, de Karl Marx, para verem o que ele diz acerca da relação homem-mulher, ou mulher-homem, se preferirem, remetendo a questão do poder para outra esfera bem mais profunda, ampla e transversal. Marx, sobre a relação homem-mulher, era muito mais clarividente do que estes progressistas de fachada do século XXI.
IV.
O que me preocupa em tudo isto é a situação a que chegámos, não como diz uma jornalista militante da causa, com um claro perfil de “Inquisidora-Geral”, a este “beijo roubado”, mas sim ao aproveitamento dos fanáticos da “luta de classes”, da luta pelo poder em que se inscreve, para eles, o processo de libertação das mulheres e de luta pela igualdade. Este radicalismo cobre as fracturas essenciais que continuam a verificar-se nas sociedades contemporâneas e que têm a ver com as promessas não cumpridas da democracia, com a relação do poder político e económico-financeiro com a cidadania em geral, com o poder voraz dos oligopólios sobre os consumidores (homens e mulheres), com as guerras injustas e devastadoras, com os dramáticos fenómenos migratórios dos que procuram sair da miséria, com a situação de miséria em que se encontram a viver povos inteiros. Estas, sim, são fracturas gravíssimas que acabam por ser ofuscadas pelos holofotes centrados nestas outras lutas que, sendo legítimas, afinal se inscrevem em sociedades onde os direitos estão amplamente consagrados, ainda que não integralmente cumpridos. Basta pensar no modo como as mulheres são tratadas, por exemplo, no Afeganistão dos talibãs. Aí, sim, a mulher inscreve-se, e de forma extremamente radical, na mais geral dominação absoluta de um povo pela subordinação violenta a uma moral retrógrada e a um dogmatismo religioso que tudo submete, servindo-se da ameaça e da violência física. Não, aquilo a que estamos a assistir é simplesmente deplorável pelo seu lado mais oportunista para desenvolver jogos de poder, para defender posições corporativas e de poder servindo-se de um caso que não deveria passar de mero reparo, seguindo em frente com os festejos pela excelente vitória da selecção feminina espanhola no mundial de futebol. O mais grave é que uma multidão de comentadores já embarcou no barco da guerra. E para ver na atitude de Rubiales a libertação do instinto masculino marcado pelo secular, ou milenar, domínio sobre o corpo das mulheres é preciso não só muita imaginação hermenêutica, como também uma evidente cegueira idiossincrática perante o facto observado. Ver nele um inominável “abusador” que, carregando o peso de séculos de pecado e de usurpação de direitos, encontra o seu momento de apoteose perante as câmaras de televisão de todo o mundo e dá, por irreprimível instinto, o beijo fatal, símbolo do domínio e do demónio masculino sobre as mulheres até que chegue o arcanjo feminista e o trespasse (ao símbolo) com a sua lança protectora e salvífica – é pouco menos do que delírio ideológico.
V.
Este processo representa um excesso, um puritanismo escabroso e perigoso que se está a expandir em mancha de óleo e que um dia se converterá em policiamento não só do pensamento, mas até da sensibilidade e da livre expressão das emoções. Em totalitarismo. Já há por aí muitos exemplos disto. E está a banalizar-se. Este é só mais um deles, mas com uma inaudita amplitude vista a área em que aconteceu – a do desporto-rei. Chegados aqui, o wokismo, o radical-feminismo e o puritanismo de fachada progressista têm mais um palco universal ao seu dispor para continuar a sua intrépida luta até à conquista do poder, à inversão total do sistema que “por defeito” está programado para a imposição do poder masculino sobre as mulheres. Ou como um “beijo roubado” pode levar a uma revolução mundial. Que sensação de liberdade e de beleza é rever a foto do famoso “Baiser de l’Hôtel de Ville”! Mesmo não se sabendo se foi roubado ou programado. Ou, então, a beleza contida na expressão “beijo roubado”, hoje já em grave perigo de ser banida do léxico politicamente correcto, a ser considerada como expressão de violência porque se trata de um beijo não previamente consentido… precisamente porque “roubado”. Mas, sinceramente, é a expressão que eu prefiro para qualificar o beijo entre o senhor Rubiales e a senhora Jenni Hermoso. Por uma simples razão: é mais bonito ler este beijo assim, sobretudo depois de ver o riso e a alegria expansiva de Jenni e das suas companheiras no autocarro. Que Aphrodite lhes perdoe. JAS@09-2023.
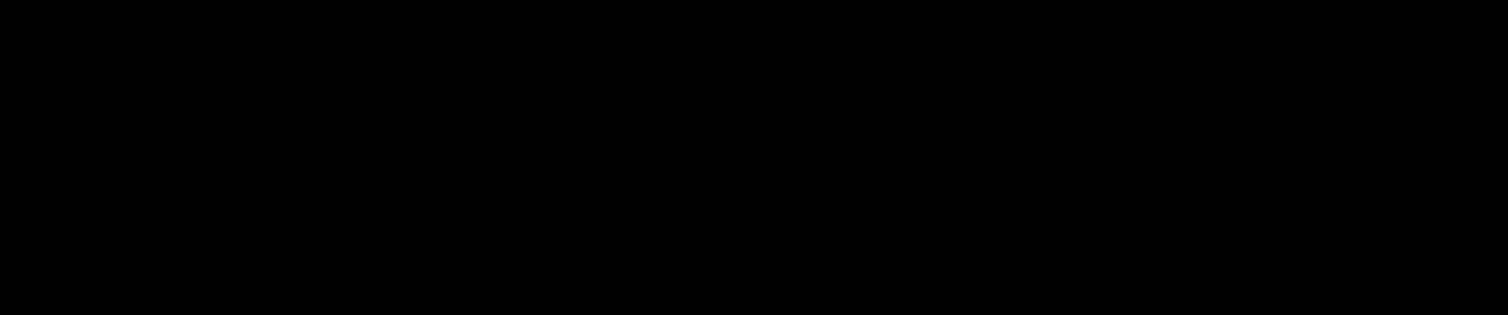
A AFRONTA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 08-2023
TENHO VISTO por aí posições e comentários políticos considerando a declaração do líder do Grupo Parlamentar do PS acerca do veto do PR ao diploma sobre a habitação – a de que a maioria parlamentar o devolverá tal como está – como uma afronta ao Presidente e, portanto, aos portugueses. E até já vi considerar esta posição (por exemplo, Marques Mendes) como uma “declaração de guerra” ao Presidente. Nada menos: guerra.
Esta mesma ideia de afronta também já fora propagandeada quando o PM, instado pelo PR, se recusou a demitir o Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Temos, pois, em circulação, uma nova categoria política: a da afronta. Uma categoria (moral) somente válida para o governo ou a maioria parlamentar, não para o PR. Não, o PR nunca afronta, exerce simplesmente as suas competências e a sua magistratura de influência. Muito bem. Mas, se o governo ou a maioria exercerem as suas, então temos afronta. Ou mesmo uma declaração de guerra. Não é, pois, uma categoria qualquer, esta, a da afronta. É mais, muito mais do que uma categoria política. É a captura moral da análise política. O que diz o dicionário da Porto Editora? “Injúria lançada em rosto; ultraje; desprezo; violência”. Nada menos. O Governo ou a maioria parlamentar, ao exercerem simplesmente as suas competências, cometem violência, ultraje, desprezo em relação ao PR e aos portugueses. Pelo contrário, este, ao exercer as suas competências, não ultraja, não despreza, não violenta ninguém. Um raciocínio em linha com essa subtil e estranha redução da representação política à figura presidencial, como se o órgão legislativo não fosse ele próprio (até pela sua diversidade e riqueza, em especial quando constituído através de sistemas eleitorais proporcionais, como é o caso) a mais genuína e ampla instância de representação política, aquela que verdadeiramente dá a qualificação de representativa à democracia.
I
É claro que o uso desta categoria moral é inadequado se aplicada, como tantos vêm fazendo, à política, ainda por cima quando referida ao regular exercício de competências por parte dos órgãos de soberania. E se a categoria for utilizada sistematicamente, como vem sendo, isso representa um claro abuso de linguagem, uma evidente distorção do significado de um acto político, mas, sobretudo, uma evidente e tendenciosa tomada de posição a favor de um órgão (o PR, o afrontado) e contra o outro (o Governo e a maioria parlamentar, os afrontadores). Tratando-se de maioria absoluta, a afronta ganha densidade: afronta absoluta.
No caso da demissão do ministro: a competência de propor a demissão de um ministro é do PM. Assim sendo, não há afronta. Haveria, sim, desrespeito pelo próprio cargo se o titular abdicasse de exercer as funções que lhe estão cometidas constitucionalmente. No caso da lei da habitação: o Presidente tem poder de veto, sim, mas também o parlamento tem a prerrogativa constitucional de reenviar o diploma intacto, implicando, nos termos constitucionais, que o PR o promulgue (e não está aqui em causa o mérito ou demérito do diploma, que analisarei noutra ocasião). Este dispositivo constitucional dá, assim, primazia, e bem, ao poder decisional do Parlamento. O que, neste caso, há, pois, que evidenciar é o seguinte: não compete ao PR entrar no mérito político de uma decisão do Parlamento se esta não apresentar problemas evidentes de constitucionalidade ou puser em causa o equilíbrio do sistema político. A avaliação do mérito político das decisões do governo ou da maioria parlamentar cabe à oposição e à cidadania, não ao Presidente. O Presidente em nenhum caso, excepto quando esteja em causa o regular funcionamento das instituições, a constitucionalidade ou o sistema político (por exemplo, a separação de poderes), deve assumir-se seja como opositor seja como promotor político das acções e decisões do Governo ou do Parlamento. O instrumento da promulgação não pode ser transformado em arma política de arremesso, de combate aos actos do governo e da maioria parlamentar. Se o fizer distorce o sistema político, onde o papel do PR é sobretudo o de moderador, não parte activa da dialéctica política. Sendo parte, deixa de poder ser moderador. Mas, no caso em apreço, a palavra afronta, a ser utilizada (e não deve), talvez pudesse ser aplicada, não ao Governo, mas ao Presidente, por exceder claramente as suas competências no modo como as vem exercendo. E, todavia, na minha opinião, nem aqui a palavra afronta deve servir para identificar um acto político, seja do PR, do PM ou do Parlamento. Por uma simples razão: as relações entre o PR, o Governo e o Parlamento não são de natureza moral e, por isso, o acto deveria ser qualificado de outro modo: governo rejeita pressão do PR para demitir o ministro; Assembleia discorda do veto do Presidente e reapresenta integralmente o mesmo diploma para promulgação. Normal dialéctica interinstitucional. Não há, pois, fundamento para a condenação moral de qualquer uma das partes no legítimo exercício das suas funções. Isso só acontece nas ditaduras, onde a moral é invocada para a proscrição política e cívica.
II.
Na verdade, a utilização dessa categoria converte a dialéctica política e institucional numa relação moral. A minha convicção é a de que o Presidente, esse sim, tem vindo a extravasar claramente aquelas que são as suas funções institucionais com as suas permanentes injunções (positivas e negativas) em matéria política (sobre o mérito das decisões políticas de outros órgãos de soberania), seja para defender o governo seja para o criticar publicamente, chegando mesmo a substituir-se à oposição ou ao próprio governo, tornando-se um autêntico porta-voz. Por isso, mais parece que estamos perante um novo tipo de populismo, o logopopulismo, sob a forma dominante de telepopulismo – exercício do poder, em nome do povo, através do uso permanente e público da palavra, directo ou por via electrónica (televisiva). A regularidade e a frequência deste exercício presidencial dá ideia de que, embora numa acepção diferente dos restantes populismos, é intencional: ser intérprete explícito do “Volksgeist”, consciência política permanente do sentimento popular, sua voz, vox populi. Parece tratar-se, pois, de uma orientação conscientemente assumida ou, pelo menos, como irresistível pulsão e idiossincrasia pessoal, mas politicamente enquadrada, até pelas características do cargo. E, até certo ponto, tratar-se-ia de uma posição interessante e bastante original, não fosse ela interferir com a dialéctica política entre os principais agentes do sistema – os partidos e os grupos parlamentares. E é aqui que bate o ponto. O logopopulismo do Presidente não é realmente compatível com a democracia parlamentar que temos. Porque a distorce, alterando-lhe a matriz.
III.
Populismos há muitos. Até há o plutopopulismo de Donald Trump. Mas este é novo: um exercício do poder através da palavra presidencial, em nome do povo, sobretudo por via electrónica (televisão, não Twitter), que, contrariamente à generalidade dos populismos, não procura substituir-se, no plano executivo, aos outros poderes, mas tão-só condicioná-los suavemente, através do exercício público permanente do poder da palavra e da própria imagem presidencial (note-se que MRS se refere frequentemente a si próprio, enquanto Presidente, na terceira pessoa). Um populismo soft, bem à medida dos brandos costumes dos portugueses. Tudo, mas mesmo tudo, é por ele descodificado, permanentemente, em público, em linguagem simples e com suporte de imagem, devolvendo, deste modo, a política ao povo, através da sua figura e do seu carisma, e partilhando-a com as instâncias de intermediação (executivo e legislativo). O que encontra uma justificação reforçada quando se trate de maiorias absolutas, como é o caso. Uma virtuosa partilha do poder entre o povo (através do Presidente) e os órgãos de intermediação política. Este exercício tem directos efeitos sobre a opinião pública, por várias razões: 1) o prestígio do cargo presidencial; 2) a presença pública permanente através do púlpito televisivo, em prime time; 3) a plena sintonia com a idiossincrasia mediática (que vê o PR como um dos seus), que se assume tendencialmente (e erradamente) como saudável e legítimo contra-poder; 4) o conforto da oposição política que vê a iniciativa presidencial como reforço argumentativo e de prestígio dela própria, no processo de limitação do poder da maioria absoluta (como se a regra comum não seja a de os governos serem suportados por maiorias absolutas, de um partido ou em coligação). Algo a merecer estudo, não se desse o caso de esta reiterada prática acabar por fragilizar a autoridade dos outros órgãos de soberania (os órgãos de intermediação), num sistema tão delicado como é o da democracia representativa de dominante parlamentar. E é aqui que, no meu entendimento, reside o principal problema. O risco é o de cairmos numa espécie presidencialismo mitigado (interpretado através do logopopulismo), onde nem o presidente (o povo sublimado) tem os instrumentos executivos necessários à acção política nem o executivo e o legislativo conseguem preservar a necessária legitimidade, autonomia, autoridade e estabilidade, sujeitos que estão a uma sistemática e disruptiva intrusão política por parte de um órgão de soberania com o valor simbólico da Presidência (precisamente, o povo sublimado). Quem acaba por pagar um alto preço será a própria democracia representativa e a própria autoridade do Estado. O que é particularmente grave num período em que se vive uma grave crise de representação.
IV.
É para mim evidente que este logopopulismo alimenta um clima de desafeição da opinião pública em relação à dialéctica política do sistema, desviando para a Presidência a sua atenção/afeição e a sua cumplicidade (crítica), em desfavor das instâncias de intermediação, que se tornam ainda mais fungíveis. Prova disso é precisamente esta tendência de desvio da lógica política para a esfera moral: têm sido insistentes e reiteradas as leituras políticas centradas na afronta (ou mesmo como “declaração de guerra”) como categoria central das relações institucionais sobretudo entre o executivo e a Presidência. Afrontar o Presidente é afrontar o povo, é este o sentido que daqui resulta. Uma condenação moral, sem apelo nem agravo. Um desvio que agrava ainda mais a situação, provocando, isso sim, um crescente desgaste de um sistema que já não goza de boa saúde. Este populismo soft à portuguesa, parecendo dar voz à soberania confiscada do povo, o que faz, como, aliás, todos os populismos, é minar os alicerces da democracia parlamentar, designadamente a autoridade dos principais órgãos de soberania, ainda que de forma aparentemente suave ou doce e até original. O que é muito estranho por ser interpretado por alguém que se doutorou com uma tese sobre direito constitucional. E não creio que o problema possa ser resolvido somente com a alteração constitucional do figurino presidencial, designadamente com a eleição do Presidente por um colégio eleitoral. Do que se trata é mesmo de uma concepção de política que, de certo modo, põe em causa a matriz do sistema político. Mas, ao que parece, esta é uma tendência que tem vindo a tomar conta da agenda política, dos identitários aos populistas.

QUINZE FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO
Sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos
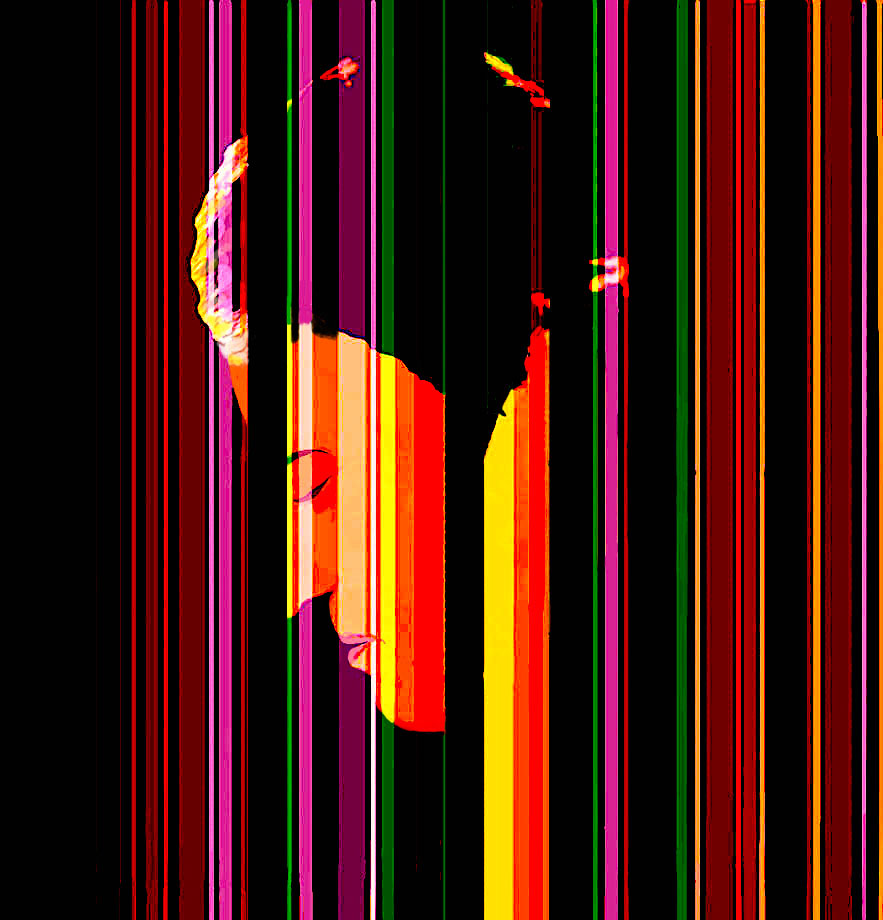
“O Poeta”. JAS. 08-2023
NOTA PRÉVIA
Retomo e reescrevo, numa série de textos que irei publicar, e de que este é o primeiro, as respostas mais significativas que dei aos meus leitores digitais de poesia. Estes textos valem por si, não necessitando de apoio nem de referentes, pois foram reescritos precisamente com este fim de compreensão autónoma. Publicarei, sim, aqueles comentários que considero mais relevantes e necessários para que se compreenda melhor as minhas respostas em próxima publicação (que acontecerá ainda este ano): o meu “Poesia II” (pelas Edições ACA).
I.
UM POEMA É UM OÁSIS ou um sonho no deserto. O sonho, que é sempre incerto e codificado, convertido em obra de arte, também ela codificada na sua linguagem e segundo as suas regras. Um sonho que resgata outro sonho. Duplo resgate: da vida vivida e do sonho sonhado. O poema dá-lhes voz. “La vida es sueño”, dizia o Calderón de la Barca. E o outro poeta dizia que o sonho comanda a vida. A vida é sonho e o sonho comanda a vida. Um círculo virtuoso num mundo de sinais. E é bom sonhar de olhos abertos, quando há alguma areia no caminho. E há sempre areia. Impossível não haver. Sonhar é criar oásis no caminho algo desértico e arenoso da vida. É ser livre. É beber numa fonte de água fresca depois de uma dura caminhada. É pelo sonho que o mundo pula e avança (tem razão o poeta), embora seja verdade que, como diz o Bernardo Soares, no “Livro do Desassossego”, “o que há de mais reles nos sonhos é que todos os têm”. Mas estes, os que fazem avançar o mundo, não se têm a dormir – são sonhos a olhos abertos e que vêem para além do circunstante, vão ao fundo da existência, antecipam e constroem futuro. Não, não são sonhos banais ao alcance de um qualquer adormecido da vida.
II.
Sonho redentor do poeta: aquele que comanda a vida e com o qual se confunde. Sim, se o sonho é o oásis onde se redime e onde encontra a feiticeira, a sua feiticeira, as palavras são o veículo que o conduz na travessia do deserto arenoso até ao oásis poético. Na travessia há sempre essa melancolia que não o larga, mesmo que o veículo poético o leve a essas regiões sobrenaturais onde se conforta e se aninha. A melancolia anda sempre colada às palavras, não desaparece quando elas são ditas. A poesia é como o divã do psicanalista e, como nele, ela precisa de interpretação, de descodificação. Ele, o paciente poético, acredita no sonho, sem ser sonâmbulo (embora às vezes pareça), e, graças ao poder palavra, até o identifica com a vida ao sonhar de olhos abertos, mesmo quando os fecha para que a alma veja melhor. É com a alma que o poeta vê. Então, chove-lhe na alta fantasia e molha-se, mas, em tempo de seca existencial e de areia, a chuva faz germinar a sensibilidade e nascer o canto. “La vida es sueño”.
III.
A poesia é um “pulsar de alma”. Pulsação anímica, o batimento poético, quando as palavras correm nas veias. E quando o sonho teima em não acontecer, o poeta inventa-o. Sonha com palavras, cantando, levado pela inspiração. Levado pela musa. Se te sonhar, canto-te. E se o sonho teimar em não despontar, nasce o poema onírico. Sonho induzido. O que não pode acontecer ao poeta é ficar num doloroso vazio. Onde o silêncio é só silêncio. Mudo. Não, ele existe para converter o vazio em pleno, a ausência em presença, a perda em descoberta, o silêncio em melodia, o peso em leveza. É esta a beleza da poesia.
IV.
Todos os sonhos têm um fim… até ao próximo. Até os sonhos inventados como poemas. Privilégio dos poetas que fazem dos poemas sonhos e dos sonhos poemas. E chove-lhes na fantasia, como dizia o Dante Alighieri. Chove-lhes na alma, germinam poemas e renova-se a vida. A primavera poética, depois do inverno da alma. Os poetas olham de frente a dor, a perda, a melancolia e metabolizam, digerem os sentimentos, transformando-os em linfa. Em arte. É assim que nasce a poesia. Um estremecimento, a dor como propulsão e, depois, a levitação num território habitado por musas e fantasmas. Os poetas levitam nele, já sem obstáculos, embora sujeitos a poços de ar e a repentinas perdas de altitude. Lá no alto procedem à transfiguração dos sentimentos em palavras com sonoridade e toada melódicas. As palavras têm asas. Mas só quando o processo criativo atinge a velocidade de cruzeiro a levitação se pode aproximar do sublime, esse destino inatingível. É então que o poeta se sente como se atingisse o Nirvana. Mas sem deixar de sentir a dor, só que a sente e a vive transfigurada e poeticamente metabolizada. Por exemplo, como feliz melancolia. Em toda esta viagem há sempre um risco: os versos serem bebidos pelos fantasmas durante o percurso (Kafka). É que os fantasmas alimentam-se deles para sobreviverem. Riscos, como tudo na vida. Mas desconfio que os poetas enviam mensagens ou mesmo beijos com o vento para que os fantasmas os bebam… Não sei. Mas que exista uma enorme cumplicidade entre os fantasmas e os poetas disso não tenho dúvidas. Os fantasmas animam a relação difícil e delicada entre o poeta e a musa. A musa visita-o e os fantasmas aparecem… Eliot dixit. E eu confirmo.
V.
No “fio da navalha” é onde está permanentemente o poeta. E a navalha faz sangrar. Está-lhe na natureza. Melhor: está-lhe no sangue. Se não fizer sangrar, nega-se como navalha. Mas aqui é um sangrar fininho, lento, que só a poesia pode estancar… por momentos. É este estado que mantém o poeta ligado à vida (através da dor e do sangue). Como se fosse o prolongamento (na memória viva) de um “estado de facto” realmente vivido. O poeta sangra-se e obriga o organismo a reagir. Os poetas não têm pudor do que viveram, exploram-no, com fins poéticos. Exploram, sim, para sobreviverem. Isto dizia o Nietzsche. E bem. É legítimo? Sim, é. É imoral? Não propriamente, porque é desejo de redenção ou mesmo de sobrevivência e, assim, acabam por se expor, arriscam e conservam a dor sob forma de arte. E reavivam-na. E dói. Dói mesmo. Se não doer não sai poema que valha. Nem as palavras se ajeitam. As palavras precisam de dor para se sentirem vivas. E sangram sempre um pouco, mas assim o corpo e a alma regeneram-se. É coisa homeostática.
VI.
No altar poético às vezes está uma magnólia branca para ser celebrada, apesar de no palco do Jardim Encantado haver outra, a magnólia cor-de-rosa/lilás. A branca sobrevive como pintura e poesia, depois de as pétalas brancas se terem despedido… com Março. Canto a uma magnólia, poderia ser o título de um poema que a cante. O “Reencontro” é sempre em Março, mês fatal, tal o fascínio desta magnólia, com aqueles farrapos brancos sobre a nudez dos seus ramos. Só depois chegam as folhas. Vão-se os farrapos brancos e chega a folhagem verde. Mistérios de Março. A neve que dá lugar ao verde da primavera? Acho mesmo que sim – por que razão haveriam estes farrapos brancos (como os da neve) de aparecer ali, em meados de Março, para logo desaparecerem e darem lugar ao verde da sua folhagem? Viagem do tempo que se anuncia numa magnólia. Toda uma filosofia, a narrativa desta magnólia. Tinha mesmo de a cantar com versos e com pintura. Há uma musa que fala através dela? Não ouso perguntar ao poeta. Nem ele responderia. Melhor, diria: está lá tudo, no poema, e nem eu sei falar de outro modo. Sou mudo em prosa e isso também me provoca uma prosaica surdez. Perguntas, mas eu não ouço. É a alma que ouve, mas ela é surda para certas perguntas.
VII.
O poeta voa sempre lá para o alto da montanha – a levitação é o seu destino -, levado por uma magnólia voadora. Descola sempre da sua pista preferida, que é o Jardim Encantado. E aí regressa sempre. Lá no alto, respira fundo e vê o mundo com maior nitidez, apesar de nunca conseguir vislumbrar a musa, que se mantém oculta e silenciosa. O ar é mais rarefeito e a distância é grande. Por isso, a sua fala é sempre interior. Só comunica com a alma. “Telegrafia sem fios”, lá em cima, dir-se-ia antigamente. Por artes mágicas (vai lá ao fundo da memória) ele recria a musa, interpela-a e torna-a mais bela do que ela é ou era. “Muse, maintenant tu es plus belle que toi-même”. É assim que a vê, com a alma e com grande nitidez. O reino do intangível. A aura. Recriei de ti o que mais ninguém conseguirá ver, porque só os olhos da alma o podem enxergar. Desnudei-te com um olhar de alma para te eternizar. É, pois, uma apropriação não abusiva, legítima, livre, bela. Mas é uma apropriação. A única forma de posse possível, e até legítima, como dizem o Pessoa e a Yourcenar. A que atinge a alma, a recria e a devolve mais bela e mais rica. E universal. Para fruição dos amantes de poesia. De todos. O poeta entrega a musa à eternidade. E, assim, não a perde.
VIII.
A poesia é metabolização e viagem para a Primavera e seus aromas, suas cores, seu céu azul. Isto só acontece porque houve inverno, frio, chuva, nevoeiro e neve. É um veículo que nos transporta mais alto, para além das nuvens, mas sem sairmos donde estamos, sem fuga ou salvação. É mover-se sem sair do lugar onde nos encontramos. É uma espécie de libertação sem deixar de estar prisioneiro. É pintar o real com cores mais intensas do que as que ele tem. É libertá-lo da sua inevitável transitoriedade. Aquele pôr-do-sol termina no fim do dia, mas as palavras que o descreveram continuam e mantêm-no presente. Até é possível oferecer um pôr-do-sol. O poeta é useiro e vezeiro nisso. E o pintor também.
IX.
Os poetas habitam a Casa da Inquietude. E os italianos traduzem desassossego por “inquietudine”. E bem. Também lá vive o gémeo pintor. De forma diferente, mas vive. E ambos pintam a mesma inquietação: um, com palavras, o outro, com riscos e cores. Normalmente quem dá o primeiro passo é o poeta, o que tem a sensibilidade sempre à flor da pele porque a vida o castigou. Experimentou esse estremecimento criativo. Abalo telúrico. Nasceu assim como poeta. Sob o signo do estremecimento e da dor. O que, em parte, não foi o caso do pintor. Se com as palavras o poeta levita sobre o vale da vida, o pintor, com riscos e cores, constrói-lhe pontes de arcos-íris, criando um ambiente de luz e cor que tempera as palavras com que o poeta levita, se “confessa”, se liberta, se redime. É um autêntico bailado. “Pas de deux”. No fim, creio que a sinestesia dá origem a uma feliz melancolia ou a uma alegre nostalgia. O poeta fica pronto para recomeçar. Mas é como Sísifo, a tarefa nunca acaba, porque a moinha permanece. Uma espécie de eterno retorno, já que vive irremediavelmente na Casa da Inquietude e de lá não pode sair, não pode mandar o passarinho embora da janela porque seja feliz. Porque não é. Se mandasse, seria eutanásia poética. Sem dor não há poesia. E a dor não passa e a poesia já é um modo de vida. Os poetas não se reformam. E a felicidade não consta dos anais da poesia. No Jardim Encantado haverá sempre passarinhos. Eles ajudam a suportar melhor a dor. São amigos dos poetas.
X.
“Corpo transformado”- pela luz e pela fantasia. É essa a beleza da poesia. Esculpir corpos e almas com palavras. Mas a beleza é ainda maior quando se projecta numa pintura, criando-se um duplo reflexo cintilante. Talvez o poeta, ao falar, num poema, de “catedral de palavras” (o poema que motivou esta reflexão chamava-se “Teu Corpo numa Catedral de Palavras”; a pintura chamava-se “Luz”), estivesse a pensar na Mesquita de Córdova, nesse magnífico colunado, nesses espaços vazios iluminados pela penumbra, quando ouviu o silêncio da musa, induzido por esse corpo atravessado por raios de luz (na pintura: um corpo nu, de mulher), e a cantou. O pintor lembrara-se de uma obra do Man Ray, de 1931, inspirando-se nela. O silêncio que se desprende dele, desse corpo, pode ser pleno e vazio, ao mesmo tempo. Silêncio-ausência e silêncio-linguagem. Como uma Catedral. Vazia fisicamente e plena espiritualmente. Uma dialéctica superior. Essa luz que incide sobre o corpo nu também pode ser feita de palavras que dão voz ao seu silêncio. É essa voz do silêncio que o poeta ouve e canta. Corpo em catedral de palavras. Poeta-Arquitecto que constrói uma catedral para esse corpo silencioso. Sim, é um hino à pulsão de vida, ao Eros. O pano de fundo é o espaço interior de uma catedral e o eco do silêncio que atinge a alma do poeta. O poema é uma resposta a este eco. O vazio que gera o pleno. É esse o destino da poesia, gerar o pleno através do vazio.
XI.
No vazio do silêncio se constroem os sonhos de um poeta. O vazio que, assim, se torna pleno. A ideia de catedral está para simbolizar isto mesmo. A Mesquita de Córdova, que nos deslumbra, física e mentalmente, é uma inspiração. Também nela, no seu interior, sentimos esta presença do vazio e do pleno, em simultâneo (Yourcernar). Uma espiritualidade intensa que se desprende do sofisticado colunado em penumbra. Este corpo é atravessado por raios de luz que também podem ser palavras, versos de um poema que lhe dão vida e o espiritualizam. Sim, é verdade. A pintura é o modo de dar o máximo de fisicidade e até de vericidade ou referencialidade ao poema. Creio ter conseguido o que sempre vou perseguindo: a sinestesia. Silêncio, palavras, corpo nu, catedral – o pleno e o vazio.
XII.
Esse raio de luz que dá origem a tantos outros gera uma penumbra difusa no interior da qual é possível dar vida e transfigurar essas sombras que nos visitam durante uma vida. A poesia nasce dessas sombras que assumem a forma de melancolia, uma espécie de tristeza sem concreto objecto e mais leve. Melhor: onde o referente já não tem a intensidade que antes possuía. Já só é penumbra, “sfumato”. Por força do tempo e da persistente catarse poética. Cristalização. Espiritualização quase indiferente à rugosidade do corpo real que fez estremecer o poeta. Isso acontece nas catedrais (a luz é filtrada pelos vitrais). Penumbra.
XIII.
Por ali andam fantasmas à solta, não tivesse o poeta sido visitado pela musa. Fantasmas nas catedrais de palavras, onde o murmúrio é a linguagem. Um poema é sempre um murmúrio. Há fantasmas na catedral, pois há. Os poetas vão para lá suspirar de tão melancólica vida viverem. Protegem-se assim do ruído do mundo e inventam um tempo que é só seu. E criam cânticos com ecos de catedral. A poesia propaga-se como eco. Os poetas vivem em catedrais porque nelas tudo se conjuga para a perfeita levitação, o som, a luz filtrada, a penumbra, o vazio, o silêncio, a grandiosidade das colunas e das abóbadas… o pleno. Poética religiosidade onde a invocação é à musa. Musa e fantasmas são por isso os habitantes da poética catedral. E ali está o poeta a cantar o seu trágico destino como oficiante do ritual em que se transformou a sua vida. É lá que ele constrói as suas pontes entre o desejo e o impossível, sobre um imenso espaço vazio. Felizmente que há arcos-íris sobre o vale da vida por onde o poeta pode caminhar…
XIV.
Maravilhas da rede, diz o poeta a um Amigo que o interpelou a propósito de um poema: tu, aí, no meio do vasto oceano a receberes esta poética mensagem, este sonho poeticamente induzido, e a devolveres o teu agrado pelo sonho e pela pintura. As tuas palavras trazem, como gotículas invisíveis, a frescura oceânica que refresca o poema e acalma os calores que a musa sempre provoca no poeta . “Flâneur” oceânico, condição mais bela do que a humana errância nesse mar ondulante da multidão que vagueia sob o olhar distraído do “flâneur” citadino (diria o Baudelaire). Sinto aqui essa frescura do areal desse mar onde sempre repouso o meu inquieto olhar. Mas não ouso atravessá-lo, tal como a poesia (não) atravessa a vida.
XV.
“A poesia arrasa as fronteiras do real” – gosto desta formulação proposta por um Amigo. Mas não creio que seja convertível, porque ela precisa da ausência que provoca dor, vazio. E é resposta a este vazio. E tem poder sedutor? Tem. Mas só perante almas sensíveis e num plano superior ao da fria rotina do dia-a-dia. Ela exige uma saída da rotina que invade e ocupa a alma. “Ausgang”, diriam o Kant ou o Foucault (“O que são as Luzes?”). Porque de certo modo a rotina é um estado de menoridade e de preconceito. Sublima, sim. E é por isso que ela pode arrasar as fronteiras do real. Mas não sai de si. Não é convertível. Arrasa as fronteiras porque cria uma ponte sobre o vazio. Mas não sai de si, porque não pode, sob pena de se anular por efeito de desilusão e da contingência do real. Sim, o poema é o voo do desejo impossível no horizonte infinito. Mas se me perguntarem se esse desejo existe, respondo que sim, que existe ou existiu. E continua a existir, mas transfigurado, poeticamente transfigurado. Não me canso de repetir a Yourcenar/Michelangelo: “Gherardo, maintenant tu es plus beau que toi-même”. O que ficou foi o mais belo dele, de Gherardo, ainda por cima tocado pelas divinas mãos de Michelangelo. Tocado pelo sublime. Também a musa, tocada pelas mãos do poeta, agora é mais bela do que ela própria. Só que não sabe.
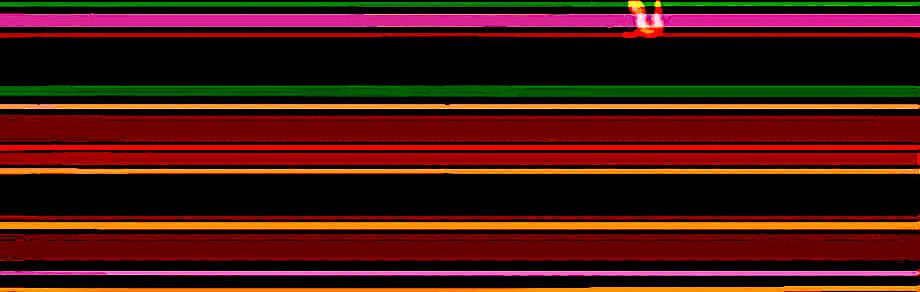
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 08-2023
SIM, TODOS FALAM DELA, DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA). A propósito e a despropósito. Mas o facto é que já todos a usam, embora muitos, a maior parte, não saibam. As tecnologias já a incorporam. Sobre ela há, como sempre, optimistas e pessimistas. Estes, são os que alertam para os perigos da inteligência artificial. Sobretudo, agora, que o perverso algoritmo nos estuda, nos desenha o perfil e nos comanda a partir da e na rede. Agora, que nos vigia e nos vende ao marketing 4.0 e às grandes companhias para nos transformarem em compradores involuntários, porque sabem quem somos, o que fazemos e do que gostamos. Porque conhecem os nossos perfis individuais, fornecidos pelas grandes plataformas digitais e criados a partir da nossa vida na rede. Um serviço que vai dos produtos industriais à política. Alguns até já falam, a propósito da troca de direitos por serviços e vantagens tecnológicas, de “mercantilização da cidadania”. E outros, também a propósito, falam de “engenheiros do caos” e de “política quântica”. Uma realidade que está ao alcance de todos, os que, de um modo ou de outro, armados de smartphone, já a frequentam, misturando o velho mundo com o novo mundo digital ao alcance de um clique. Há deslumbramento, mas também já há queixas. Por exemplo, a de perda de privacidade.
1.
É verdade. Mas o que é curioso é que são os que estão permanentemente a exibir-se nas redes sociais, publicando o que comem, o que bebem, o que vestem, onde vão, onde estão, com quem andam, o que fazem e o que não fazem, que se queixam, clamando pela protecção da privacidade violada e exigindo medidas duras contra o “capitalismo da vigilância”. Depois, há os que falam, entusiastas, da chamada arte robótica produzida pela IA, esquecendo o papel do sentimento na arte (veja-se o último livro de António Damásio, publicado recentemente em Portugal), designadamente do sentimento de perda, de melancolia, de paixão, de dor. Alguns, instalando-se nuns riscos feitos por uns bonecos movidos a pilhas, e a que chamam robots, não dão atenção à porcaria estética que daí pode resultar, mas tão-só à importantíssima e robótica assinatura, a única coisa que interessa: coisa feita por “robot” vale por si, não importa a qualidade do produto (ou até a qualidade dos bonecos desenhadores). A coisa nem é tão estranha como parece, depois de um tal Maurizio Cattelan ter colocado, com adesivo, uma banana numa parede, chamando-lhe obra de arte e recebendo por isso 107 mil euros. E, tão importante como isso, seguido logo pela crítica, inclusivamente portuguesa, a confirmar que o importante, o que conta, é a assinatura. Se para uns “l’important c’est la rose”, para outros, sim, o importante é a assinatura. Não importa de quê ou em quê. Mas, na verdade, o que resulta desta posição é uma transferência do valor da obra de arte para o autor, transformando a autoria em autoridade. Mas autoridade baseada em quê? Numa banana colada numa parede ou numa sanita feita em ouro de 18 quilates? Se o que vale é a assinatura, trate-se de uma banana, de uma sanita de ouro ou de uns riscos feitos ao calha por uns bonecos que se movem no interior de uma caixa, então, no limite, até se poderia prescindir da própria obra de arte. Bastaria, para tal, simplesmente uma assinatura numa folha em branco. Como o filme do outro, “Branca de Neve”, só que em vez de ser o negro do ecrã seria o branco. “Tive uma branca”, dirá alguém depois de visitar uma exposição de assinaturas. Nada. Uma exposição de nada. Fossem, ao menos, as assinaturas bonitas. Mas nem a forma da assinatura conta. Esta questão também se põe para a chamada arte robótica, onde o que nela vale é a autoria, é o processo de execução e não o produto final. A coisa vale logo pela adopção do próprio nome. Arte robótica, mesmo que não se trate sequer de robots, mas simplesmente de uns coisos alimentados a pilhas. Como no outro caso da avaliação da obra, a banana, somente pela assinatura. Ou até pelo material de que a obra é feita: a sanita de ouro de 18 quilates (“America”) da autoria de Maurizio Cattelan, entretanto roubada do Palácio Bleinheim, não certamente pela beleza, mas pelo valor do material, cerca de 5,5 milões de euros. A coisa não é muito nova desde que o Duchamp, em 1917, apresentou como obra de arte um mictório, um urinol, um “vespasiano”, como se diz em Roma. Coisas de escatologia. Como o livro da outra, que está cheio de narrativas fecais.
O nome do artista, seja ele humano ou robot, é que decide do valor e até do significado da obra. A aura transmigrou da obra para a singularidade irrepetível do autor. E a autoria transformou-se em autoridade. A autoridade do nome, conhecido e reconhecido, é o selo de reconhecimento do que quer que seja. Ou até do que quer que não seja. Levando isto à suas consequências, seríamos levados a concluir por mais uma transmigração: da arte para a publicidade. Não interessa o produto, mas a marca, a autoridade reconhecida da marca. Sim, vivemos no mundo do branding e isso é que conta. O mesmo vale para os autores, que são, afinal, marcas. A obra de arte reconhecida como pertencendo à comunidade da marca. United Colors of Benetton (veja o meu Homo Zappiens – Santos, 2019: 100-114). Se for um desconhecido a produzir essa obra, apontam-lhe o dedo e dizem: este gajo é tonto. A marca é sinal de garantia, de qualidade e de sentido. E a publicidade faz a marca.
2.
Mas regressemos à IA.
“GPT-4 is more creative and collaborative than ever before. It can generate, edit, and iterate with users on creative and technical writing tasks, such as composing songs, writing screenplays, or learning a user’s writing style”.
A IA faz música, escreve guiões, aprende estilos de escrita dos utilizadores, edita e desenvolve tarefas de escrita técnica e criativa, interagindo com os usuários. Estamos, pois, no plano sofisticado da inteligência e da criatividade. Algo verdadeiramente novo. Sim, mas daí a mudar o paradigma vai uma longa distância. Deixou a tecnologia de ser um meio, um instrumento do ser humano para passar a substituir-se-lhe e a ser ele a ditar os próprios fins? Não creio.
Mas o debate sobre o papel da tecnologia na história já é antigo. Houve sempre quem defendesse a centralidade da tecnologia na história e a fizesse mesmo depender dela. Por exemplo, em campo marxista, Bukhárine, o mais sofisticado dos marxistas ortodoxos, que Lukács, outro marxista, viria a criticar por ele atribuir à “tecnologia uma posição demasiado determinante”. O mesmo vale para a posição crítica de Gramsci, também em relação a Bukhárine, em relação ao papel da tecnologia na história (Santos, 1986: 40-55). A verdade é que a tecnologia, mesmo na era do algoritmo, da inteligência artificial, é resultado da obra humana e está subordinada à finalidade humana, por mais sofisticada que aquela seja. Marx, sobre a sociedade industrial emergente em Inglaterra, colocou o problema no plano da contradição entre a crescente e concentrada propriedade privada dos meios de produção e a crescente e alargada socialização do trabalho. Não era na tecnologia que residia a contradição que haveria de mover a história, mas a apropriação privada dos resultados do trabalho socializado. Mas não há dúvida de que a tecnologia é muito importante e pode ser progressiva ou regressiva. Exemplo: a energia atómica – a da bomba ou a que nos fornece energia. Os fins são postos pelo homem. E o mesmo vale para a arte. E numa escala de muito maior intensidade. Quem viu o filme de Stanley Kubrick, “2002 – Odisseia no Espaço” teve nele uma amostra deste tema, com o que aconteceu com a rebelião do supercomputador Hal e com o triunfo dos humanos, ao conseguirem desligá-lo, revelando-se, todavia, neste final, uma sua qualidade emergente que nos deve pôr a pensar e de sobreaviso: o sentimento (medo) que acabou por se revelar quando Hal já estava a sentir os efeitos da sua morte, por desconexão. Mas também o filme “AI – Inteligência Artificial”, de Spielberg, é um filme sobre robots e sentimentos: David, o robot, decide morrer com a amada mãe. Mas são filmes feitos por seres humanos que se projectam nas máquinas como antes se projectavam nos deuses, pondo neles as suas próprias qualidades, positivas e negativas.
3.
É, pois, um pouco estranho que um artista possa identificar-se com uma arte que não seja sua, nem por si assinada, reduzindo-se a simples capataz da fábrica robótica de arte, vivendo disso, enquanto artista, ou seja, vivendo do trabalho artístico dos chamados “robots”, os novos “gorilas amaestrados” da arte. Sim, claro, ele é o proprietário dos meios de produção estética. Então, é proprietário, não artista. Este (aparente) retirar-se do processo, entregando-o a uns bonecos movidos a pilhas, significa que retira a essa arte aquilo que o Nietzsche chamava “espírito apolíneo”, o sentimento, a libido, a emoção, o instinto, a perda, o fracasso, a nostalgia, a melancolia, tudo aquilo que move o ser humano a procurar uma resposta superior para o desajustamento existencial sofrido nas circunstâncias de vida. Se visitarmos as vidas dos maiores poetas e pintores de sempre é isso que encontraremos. Emil Cioran propunha uma poética do fracasso, coisa que os robots não conhecem. Não foi o Hal que atribuiu o erro, não a ele, mas aos humanos? É claro que a tecnologia tem hoje um papel fantástico na arte, na música ou na pintura, por exemplo. É cada vez mais frequente grandes pintores trabalharem com o IPad. Por exemplo, David Hockney. E muito mais na música, que pode ser gerada por computador ou pelo já mencionado GPT-4. Outra coisa é retirar-se do processo deixando que sejam as máquinas a conceber e a executar a obra de arte. Arte não humana. Mas talvez isso seja um oxímoro. Talvez seja mesmo a negação da própria ideia de arte quer no sentido etimológico quer no sentido histórico. A questão pode pôr-se, por exemplo, em relação à poesia. Um robot que faz poesia. Sim, faz, mas recorrendo à base de dados e recombinando poesia já existente. Faltar-lhe-á sempre o húmus onde a poesia germina, nasce, e que é sempre do foro humano. A poesia não é simples artifício, um exercício simplesmente retórico cuja eficácia dependa da beleza das suas formas. Não, ela responde a imperativos existenciais do poeta. Imperativos que não existem numa máquina por mais sofisticada que ela seja. A não ser que comecem a aparecer por aí outros Hal ou outros David. E aí o caso muda de figura.
4.
Mas é verdade que a inteligência artificial hoje já constitui uma gigantesca frente de atenção social. O ChaGPT ao alcance de analfabetos que se transferem para esta realidade e que julgam já estar a viver no século XXII. Escrevem textos como os outros produzem obras de arte. A lógica é a mesma. Só falta, uns e outros, assumirem-se também como intelectuais, escritores, artistas e produzirem arte por “outsourcing”. O ChatGPT faz e eles exibem as obras como se fossem eles os autores, dizendo que a parte da execução é não humana, escrita não humana. A IA liberta-nos de tudo, até de pensar e de fazer. Estes são os integrados. Mas há também os apocalípticos, que vêem na IA a catástrofe, o fim do mundo e uma nova escravatura onde os senhores serão as máquinas. Uma nova dialéctica senhor-escravo. Pelo caminho já vão detetando um progressivo domínio do algoritmo na chamada “sociedade algorítmica”, o que determina, desenha e controla comportamentos. Chamam-lhe “capitalismo da vigilância” e nele só vêm o negativo, a exploração, o domínio e a manipulação. São os novos apocalíticos, os sucessores dos que viam nas tecnologias uma ameaça mortal para o mundo humano. Aconteceu com a industrialização, aconteceu com a televisão e acontece agora com a inteligência artificial.
Qualquer destas reacções são negativas, embora ambas chamem a atenção para aspectos que há que ponderar. Arte não humana? Sim, mas não é para levar muito a sério. Arte com uma importante componente digital e de novas tecnologias? Sim. E é para levar a sério. Integrados? Sim, mas é preciso dizer-lhes que têm de aprender muito, até a usar as novas tecnologias, a controlar o seu uso e a posicionar-se em relação a elas. Apocalípticos? Sim, muito do que dizem é real e é necessário proceder a um “constitucionalismo digital” que estabeleça fronteiras ao uso das tecnologias digitais pelas grandes plataformas. Mas também é preciso dizer aos queixosos digitais que não podem lamentar-se de as plataformas digitais tomarem conhecimento e desenharem perfis com base no que eles exibem permanentemente e sem qualquer pudor nas redes sociais. Exibicionismo digital nas redes sociais e que tem um preço.
5.
Posto isto, que viva o progresso científico e tecnológico e que se reconheça que a tecnologia se verifica hoje numa esfera altamente sofisticada como é a da inteligência, do tratamento e do processamento de dados a um nível que nunca se viu. A rede e as TIC talvez representem a mais extraordinária revolução tecnológica que se verificou na história da humanidade. Mas do que se trata é de tecnologia ao serviço do homem. Como todas as tecnologias, também esta pode ser utilizada para fins bons ou para fins maus. Pelos humanos. E é preciso lembrar que as TIC nasceram como tecnologias da libertação, mas que, depois, tiveram um desenvolvimento que, sim, poderá ter aspectos negativos ao transformar aqueles que eram os clientes originários em pura matéria-prima que, depois de trabalhada, é vendida às grandes companhias que colocam produtos nos mercados mundiais e até às forças políticas que aspiram a governar os respectivos países. Já há exemplos disso, como se sabe.
A questão que agora se põe, e que o filme de Kubrick suscita, é se as máquinas poderão um dia ser elas a pôr-se os fins, eventualmente por exigências existenciais, prescindindo da vontade dos humanos. E aí, sim, teríamos o apocalipse e a confirmação dos receios dos apocalípticos numa dimensão que, nos anos ’60, nunca Umberto Eco poderia prever. Sim, então, poderia haver arte não humana e o mundo seria mesmo outro – um mundo não humano, sim, mas onde os robots não aceitariam trabalhar em “outsourcing”. Até lá não me parece.
Referências
SANTOS, J. A. (1986). O Princípio da Hegemonia em Gramsci. Lisboa: Vega.
SANTOS, J. A. (2019). Homo Zappiens. O Feitiço da Televisão. 2.ª Ed. Lisboa: Parsifal.

APRENDIZES DE FEITICEIRO
O que eles ainda não entenderam
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 08-2023
SINTO, CADA VEZ COM MAIS INTENSIDADE, que os protagonistas, no activo, da política de centro-esquerda e de centro-direita, lá fora e entre nós, parece não terem ainda entendido que ela, a política da era do algoritmo e dos “engenheiros do caos”, está cada vez mais capturada por duas perigosas tendências que ameaçam promover um desvio que pouco ou nada tem a ver com o que de melhor a democracia representativa nos deu até hoje. Chamo-lhes “aprendizes de feiticeiro” (que me perdoem, pois o que digo não é por puro gosto de malhar neles) pela auto-satisfação que se lhes nota no rosto quando fazem pungentes declarações públicas ou sentidas profissões de fé, enfeitiçados por um poder que, no fundo, não controlam realmente. Chegaram lá montados no veículo partidário, cada vez mais ultraligeiro (uma boa parte proveniente das juventudes partidárias), que, infelizmente, já pouco mais transporta do que simples kits de sobrevivência política e pessoal e o sonho de uma rápida carreira de sucesso no aparelho de Estado. Muitos sem vida fora da bolha partidária, mas com o feitiço do poder ao alcance das suas mãos. Chegados lá, os aprendizes de feiticeiro podem, então, exibir toda a sua frescura, coadjuvados pelos jornalistas de serviço. Que me desculpem, mas a política, no seu sentido mais nobre, está a milhas disto.
TRAJECTOS
Mas quais são essas duas tendências? São a da direita radical populista e a da esquerda identitária dos novos direitos. Estas duas tendências atraem-se mortalmente e arrastam consigo a franciscana pobreza ideológica do centro-esquerda e do centro-direita. Pobreza em afinidades electivas: uns, por amor à tradição e à defesa do statu quo, outros, atraídos pelo desejo irreprimível de mascarar a indigência ideológica com os insinuantes derivados da ideologia dos novos direitos. Ouvem, ambos, deliciados, as novas sereias, sem que ninguém lhes tape os ouvidos para que não sejam seduzidos e arrastados para a ilha promissora do novo apostolado civilizacional ou para o insidioso e perigoso alto mar dos interesses e da regressão civilizacional. E, assim, na prática, acabam por ocupar a vida numa longa correria, a gerir interesses, orçamentos de Estado e expectativas, mas, sobretudo, as próprias carreiras, num afã que não deixa espaço para a compreensão do que está em curso de mudança e em grande velocidade perante os seus distraídos e venais olhos. Pensar demais atrapalha e nem há tempo para isso. Ocupam-se, pois, da carreira e fazem política por inércia. Os mais maldosos dizem que vai para a política quem não sabe fazer mais nada. Talvez seja exagerado, reconheço, mas colhe uma parte da verdade. Depois, como na trajectória partidária até há sempre algum património ideal que vem do passado (do tempo em que os animais falavam), isso basta-lhes, desde que, digo à esquerda, o apostolado civilizacional dos novos direitos lhes permita completar, sem grande dispêndio de energia intelectual, esse património ideal, dando-lhes, deste modo, ares de progressismo e de modernidade ou mesmo de pós-modernidade. E também aparente gravitas, derivada da nova moralidade. Assim, podem instalar-se despreocupadamente na tecnogestão do poder, na governance, no management, para os quais, muitas vezes, e devido aos manhosos processos de selecção da classe dirigente, muitos nem sequer podem exibir competência técnica ou até mesmo evidenciar alguma preocupação com as normas básicas da ética pública. Os casos de promiscuidade financeira que vão acontecendo dão conta disso. A competência que poderiam exibir esgota-se, como se sabe, na gestão interna das próprias carreiras e nos alinhamentos com os ventos que sopram na direcção do poder interno, ou seja, daquele que os pode levar à administração pública, às grandes empresas públicas ou até a cargos governativos. E é isto, para não falar dos que, chegados ao Parlamento, o único fito das suas vidas passa a ser o de nunca mais de lá saírem, garantindo a sobrevivência através de umas escapatórias até ao espaço mediático em busca de notoriedade, seguro de permanência nos cargos. E se for preciso dizer umas “verdades” disruptivas até dizem. Assim, terão mais audiência e mais peso na opinião pública. Logo, também na política. Que me desculpem os que não se enquadram nesta moldura, e são muitos, mas ela é realista. E se o digo é porque o sinto, não porque o tenha lido num qualquer livro certificado por um qualquer referee. Mas, adiante, que se faz tarde e que o desabafo está consignado, pelo menos para memória futura.
O PANORAMA POLÍTICO
De certo modo, o panorama político global não é complexo e pode muito bem ser, de facto, descrito de forma simples, dizendo que, enquanto estamos perante duas tendências que se confrontam abertamente, à (extrema-)direita e à (extrema-)esquerda, em claro antagonismo, as forças que aspiram a governar democraticamente a actual complexidade encontram-se em graves dificuldades não só doutrinárias e de competência (note-se que até os processos de conquista do consenso passaram a ser entregues a agências especializadas de comunicação, de marketing e de estudos de opinião, substituindo as competências partidárias), mas também em relação à própria ideia de política, sobre o que ela é e para que serve. E já nem sequer é suficiente dizer que, apesar de tudo, elas ainda se mantêm no poder, somando, em conjunto, valores que se encontram claramente acima dos 50% do eleitorado, bastando, para tal, dar o exemplo de Portugal, da Espanha ou do Reino Unido. Na verdade, são cada vez menos, pois o que se vê são as forças dos extremos do leque ideológico, em particular a direita radical e populista (mas, à esquerda, o Syrisa, que foi de Tsypras, já governou e, em França, é, na oposição, o partido de Mélenchon que conta, e não o partido socialista), a governarem alguns países (por exemplo, a Polónia, a Hungria e a Itália) e a crescerem significativamente noutros tantos – na Alemanha, o Alternative fuer Deutschland já é o segundo partido com mais de 20% em duas sondagens recentes (YouGov e Insa, com cerca de 20% e 21%, respectivamente, contra 19% do SPD, em ambas) e, na Suécia, os “Democratas Suecos” já exibem cerca de 20% do eleitorado (nas últimas eleições de 2022). Isto para não falar da França, de Espanha ou de Portugal, onde a direita radical apresenta resultados muito significativos, temendo-se que, nas próximas eleições presidenciais, o Rassemblement National de Jordan Bardella veja eleita Marine Le Pen, hoje à frente nas sondagens para as presidenciais. O efeito Giorgia Meloni poderá vir a sentir-se rapidamente também em França. A mesma Meloni que, ao contrário do que acontece em Portugal em relação à banca, acaba de impor uma taxa de 40% sobre os lucros extraordinários da banca, quando eles tenham ultrapassado em 2022 mais do que 5% em relação a 2021 e do que 10 % em 2023 em relação a 2021 (em causa, se bem entendi, os lucros extraordinários, nestes termos, são calculados com base na diferença entre o que os bancos cobram em juros e os que pagam aos depositantes).
Sendo a linha de combate da direita radical e populista no essencial representada, por um lado, pela imigração(com abundantes e seguros resultados eleitorais) e, por outro, por esta esquerda identitária dos novos direitos, a dialéctica política parece estar a deslocar-se para aqui, com resultados verdadeiramente preocupantes. Sem dúvida, mas eles não são apenas explicáveis pela competência política e pelo poder de atracção destas forças. Além destas duas razões, existe uma terceira e essa está centrada na desorientação e na incapacidade de os clássicos partidos da alternância alterarem profundamente o seu modelo de acção e a sua própria identidade política, mostrando estar à altura dos tempos e dos desafios. Em Portugal, o centro-esquerda e o centro-direita ainda representará cerca de 60% (baseio-me nas sondagens actuais), mas outros partidos, em particular o CHEGA, estão em tendência de subida e ameaçam cada vez mais a lógica da alternância bipartidária. E creio que o fenómeno não é tão passageiro como alguns apregoam.
A MUDANÇA NECESSÁRIA
A verdade é que a política hoje não está a ser entendida pelas forças do centro-esquerda e do centro-direita como uma realidade dinâmica que já escapa ao modelo tradicional e que deve ser assumida como realidade que se situa entre a necessária autonomia soberana e funcional dos Estados-Nação, com especial valorização da constituency originária dos cidadãos/contribuintes/consumidores, e o mais vasto horizonte dos poderes executivos transnacionais ou multinacionais, ou seja, as grandes plataformas financeiras e as grandes plataformas digitais. Elas também deveriam ajustar o seu discurso e a sua organização às profundas mudanças que vêm acontecendo na sociedade civil, e em especial na identidade e nas expectativas da cidadania, confrontando-se produtivamente com outras grandes organizações da sociedade civil que funcionam por causas, ou seja, com os movimentos-plataforma digitais (ou mesmo não digitais), e, em geral, com as novas dinâmicas que estão a emergir no plano da sociedade civil. Na verdade, as sociedades contemporâneas já são designadas como “sociedades digitais e em rede” ou mesmo “sociedades algorítmicas”, tal o poder das novas tecnologias digitais, mas também, por um lado, pela nova centralidade que o indivíduo singular nelas ocupa e, por outro, pelo poder que as grandes plataformas podem exercer directa e individualmente sobre ele. Positiva e negativamente. Depois, não é possível continuar a iludir a relação entre o velho conceito de “sentimento de pertença” e a realidade da informação que hoje chega aos cidadãos através de uma enorme variedade de plataformas de comunicação, alterando profundamente a natureza do vínculo com os próprios militantes, simpatizantes e eleitores e reduzindo drasticamente o papel da pertença ideológica e/ou organizacional na decisão político-eleitoral e na própria militância. Mas, por isso mesmo, eles não podem continuar a adoptar critérios de selecção da “classe dirigente” através de fórmulas organicistas que só servem para alimentar a lógica endogâmica que tem alimentado a crise da representação e o seu afastamento da sociedade civil. Este é um aspecto importante porquanto ele exprime a tendência (que já referi) da militância activa a preservar a sua esfera de influência interna, obstaculizando a entrada de “estranhos”, com vista à futura ocupação de cargos no aparelho de Estado. Sendo partidos que sobrevivem cada vez mais da sua regular relação com o Estado (através do financiamento e de cargos para os dirigentes), eles deveriam integrar no seu ideário uma clara concepção do funcionamento, da natureza e das funções do Estado moderno, até tendo em atenção que aqueles que o irão dirigir terão a responsabilidade de gerir orçamentos de Estado que provêm dos impostos cobrados à cidadania. Assunto, pois, de uma enorme delicadeza e responsabilidade. Uma responsabilidade que nunca poderá prescindir da competência técnica e política, de uma robusta ética pública e de uma claríssima ideia acerca do que é o Estado. Não é possível manter a actual indefinição acerca do papel do Estado na sociedade, funcionando simplesmente por inércia, eventualmente pondo leis sobre leis, de forma aleatória e ao sabor de agendas que muitas vezes nem sequer controlam, e descurando a eficácia da máquina pública (que não seja na cobrança de impostos) na implementação das políticas, mas sobretudo sem definir com rigor as suas próprias fronteiras de intervenção. Tal como, com Bismarck, o Estado (as funções do Estado) mudou em relação ao clássico Estado liberal, hoje o Estado tem de ser repensado globalmente à luz da nova configuração da sociedade civil, da nova identidade da cidadania e dos efeitos internos da globalização (financeira, comunicacional e migratória).
TRÊS EXEMPLOS
Três exemplos, em Portugal, de uma visão que, na minha opinião, revela uma certa imprecisão acerca das funções do Estado:
1) O da questão da habitação em Portugal é bastante significativo: não se vê uma clara definição do pilar central de onde deva decorrer o essencial da resolução do problema, continuando a esquerda a insistir fortemente na sua (impossível) resolução através da oferta de habitação pelo Estado (que, reconheço, também é parte da solução) em vez de promover políticas que promovam uma robusta expansão do mercado privado de habitação, o único que pode mesmo resolver o problema, quer em relação aos preços do arrendamento quer em relação ao preço da habitação para venda. Aos dois travões que, na minha opinião, impedem esta solução, ou seja, por um lado, a incapacidade de abdicar de uma parte considerável de impostos para favorecer a colocação em mercado das habitações em condições de atractividade financeira e, por outro, um resistente preconceito sobre a própria ideia de mercado, junta-se ainda uma indefinição grosseira sobre as próprias funções do Estado, muitas vezes subordinadas a uma retórica puramente demagógica, mas irresponsável. Isso vê-se bem na confusão instalada entre o direito à propriedade privada e o direito à habitação, vinda até, pasme-se, de doutorados em direito e anteriores governantes. É um mero exemplo de sobredeterminação da nebulosa ideológica num sector social extremamente relevante e delicado.
2) Mas também poderia aqui acrescentar algo que já referi mais detalhadamente noutro artigo, “Confissões de um Aforrador”, e que, no meu entendimento, ilustra (https://joaodealmeidasantos.com/2023/06/06/artigo-105/ ) muito bem toda uma concepção de política, pela importância que nela têm as finanças públicas: a composição da dívida pública e a promoção da poupança nacional. Não sei mesmo se este tema está bem presente na cabeça de alguns governantes e dirigentes partidários do centro-esquerda, mas esta é uma questão-chave que identifica muito bem e de forma cabal uma orientação política de fundo – prioridade aos investidores internacionais e à banca em detrimento daqueles que, sendo aforradores, são, afinal, os efectivos contribuintes (em impostos directos), a classe média, com um incompreensível desincentivo à própria poupança. Prioridade, portanto, à nova constituency dos credores financeiros internacionais em detrimento da constituency originária dos cidadão/contribuintes. A recente decisão do ministro das finanças em relação aos Certificados de Aforro é, pois, no meu entendimento, uma clara demonstração de uma opção política errada por parte de um governo de inspiração socialista. Uma decisão que, sendo contrária à doutrina, até é esteticamente feia. Que pode ser lida quase como um castigo aos cidadãos aforradores/contribuintes. Peço desculpa, mas é assim que a vejo.
3) Mas poderia ainda acrescentar um outro tema extremamente relevante e delicado para a cidadania: a da relação dos cidadãos/consumidores com os oligopólios que dominam o essencial da economia do país (telecomunicações, cadeias de distribuição de bens alimentares, banca, o sector da energia, da electricidade aos combustíveis, sistema mediático). Ou seja, está aqui em causa a atenção muito especial que o Estado deve dar a esta relação, sendo certo que, singularmente, os cidadãos têm um poder muito reduzido de impedir o funcionamento incorrecto desta relação. Exemplo: o cartel das gasolineiras; o cartel dos bancos em relação aos juros praticados; o domínio total, a montante, das cadeias de distribuição (três ou quatro) sobre os fornecedores e os consumidores, etc., etc., a “circulação circular” (Bourdieu) da informação, com doses pornográficas de tabloidismo em todos os seus géneros, pelo cartel televisivo, sem que se veja intervenção dessa inutilidade chamada ERC. Isto e muito mais.
O que vejo nestes três casos? No primeiro, uma evidente confusão relativamente à solução por preconceito ideológico (em largo espectro, relativamente ao mercado, ao direito à habitação e ao conceito de propriedade), mas também por comodidade fiscal. No segundo, uma clara inversão daquele que deveria ser o valor fundamental do partido socialista: o cidadão/contribuinte/consumidor, em especial o que paga impostos (directos) e alimenta o Estado, sobre os credores internacionais. No terceiro, alheamento relativamente a uma interacção que é decisiva na sociedade contemporânea: a protecção do cidadão consumidor (e dos fornecedores, a montante) perante os oligopólios que dominam, em cartel, a economia do país.
FINALMENTE
São aspectos extremamente relevantes que não podem deixar de merecer a atenção constante das formações políticas que aspiram à suprema responsabilidade de gerir o Estado. Em particular das que se reivindicam de esquerda. Mas, como disse, isso implica um diagóstico de fundo sobre a política, sobre o papel dos partidos políticos, sobre as funções e as fronteiras do Estado, sobre a gestão das finanças públicas e dos impostos, sobre os direitos e os deveres da cidadania, sobre a dinâmica da sociedade civil no plano político. Mas implica também um claro reconhecimento das forças políticas em movimento no terreno, o que elas representam e a respectiva dialéctica política. E implica ainda que estas formações estejam em condições de se apresentar como alternativas a essas forças radicais e a si próprias, ao modelo que vêm seguindo, invertendo o declive político que se está a verificar no sentido dos extremos, fazendo o que devem, depois de uma séria reflexão sobre o seu papel na sociedade moderna. Mas não é isso que se vê. E ao ler o Manifesto do novo think tank que aí vem, também nesta área, confirmo o que tenho vindo a dizer, pois o que nele encontramos são banalidades de esquerda que pouco ou nada significam. Aliás, muitos dos que têm contribuído para a confusão ideológica instalada já lá estão, firmes, para continuar a barafunda. Fica-se com a sensação de que o que temos perante nós é, dentro e fora da bolha, uma vasta fileira de “aprendizes de feiticeiro” com os quais não iremos muito longe. Nem sequer a Madrid, incapazes que são de programarem um simples TGV que nos ligue à Europa (pelo menos através da capital espanhola). Não se trata propriamente de inovar ou de criar algo de novo, de inventar um mundo novo e mais justo, mas sim de se adaptar e responder a um mundo que já mudou. JAS@08-2023

O DESTINO DA DEMOCRACIA
Segundo o Arquitecto Saraiva
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 08-2023
LI, na passada Sexta-Feira, o artigo de José António Saraiva (JAS), “As Democracias têm os dias contados?” (Sol, 28.07.2023, pág. 4), que, ao contrário do que é habitual, desta vez me mereceu uma atenta reflexão. E também reconheço que há crise. Disso parece ninguém ter dúvidas. Mas que seja o fim, isso não me parece. De “Fim da História” foi o Fukuyama que falou, para dizer que as democracias representativas são os regimes mais perfeitos (comparados com os outros), onde o princípio é o do reconhecimento, não o da submissão. E que venha aí outra coisa equivalente, mas diferente, não me parece, até porque as democracias são muito jovens. Na prática, quase poderíamos dizer que elas só se consolidaram depois da segunda guerra mundial, há menos de oitenta anos, portanto. O que historicamente é muito pouco. Tempo de infância, diria. É verdade, a democracia só se verifica quando há sufrágio universal, o que não acontecia quando foi inventado o sistema representativo, porque os regimes eram censitários, pouquíssimos cidadãos podendo votar (os chamados “cidadãos activos”) e ainda menos chegar ao poder. E o sufrágio universal só se foi implantando lentamente ao longo do século XX, verificando-se na Europa da primeira metade do séc. XX uma situação histórica excepcional, com duas guerras mundiais e com cerca de vinte anos de ditaduras por essa Europa fora. E se a democracia é jovem ela também é difícil, delicada e animada pela utopia do cidadão plenamente autodeterminado, o que deve agir de acordo com o imperativo categórico kantiano: “age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre, e ao mesmo tempo, como princípio de uma legislação universal” (Crítica da Razão Prática, Cap. I, §7). Os princípios do conhecimento, da liberdade e da responsabilidade a comandarem a decisão política. Um longo caminho que a democracia representativa ainda tem pela frente, mesmo que por entre os inevitáveis “corsi e ricorsi” da história, de que falava Giambattista Vico. Sim, a democracia representativa é um regime frágil e difícil, sim, mas melhor do que todos os outros.
1.
Qual é a tese de JAS? Esta: as democracias foram inventadas (com a revolução liberal) num período histórico para condições que hoje já não se verificam, de todo. E enumera-as exaustivamente. E é verdade, essas condições já não se verificam (pelo menos em parte). Mas nesta descrição tão exaustiva ele esquece a condição fundamental que motivou o aparecimento, não da democracia, como ele diz, mas do sistema representativo (o que é diferente): a enorme dimensão dos Estados-Nação, que tornava impossível as democracias de assembleia, mesmo com uma cidadania reduzida, devido às condições legais para usufruir dela (veja por exemplo o art. 7, secção II, Cap. I do Título III, da Constituição francesa de 1791). Se virmos a Enciclopédia de Diderot e D’Alembert verificamos que, aí, o conceito de democracia ainda é, de facto, algo confuso, entre a democracia directa e a representativa. Foi, portanto, necessário avançar para a representação política, para o sistema representativo como o conhecemos hoje. E esta condição mantém-se. Em dificuldades, é certo, pois há muito que se fala de crise da representação.
A hipótese de JAS centra-se nesta mudança radical em relação às condições que estiveram associadas ao nascimento do sistema representativo – as que hoje lhe estão associadas ainda não existiam naquele tempo. E isso faz toda a diferença. Claro que faz. Por isso, o sistema representativo evoluiu, com o sufrágio universal, para a democracia representativa e esta também tem de evoluir. Para uma democracia pós-representativa? Para uma pós-democracia? Para uma “democracia iliberal”? Ou, como eu defendo, para uma democracia deliberativa, que mantém integralmente a matriz da democracia representativa, mas expandindo-a, legitimando-a e qualificando-a.
2.
Qual é, então, o seu diagnóstico e a cura que propõe? Feito o diagnóstico, tratar-se-á, então, de promover uma correcção no rumo (uma reinvenção da democracia, diz) que as democracias têm levado, através de : 1) acréscimo da autoridade do Estado; 2) diminuição da conflitualidade no seio do poder; 3) maior capacidade de decisão; 4) menos conflito interpartidário e menor instabilidade política (mas é preciso não esquecer que a democracia é o regime onde o conflito, não violento, claro, é necessário). Em síntese, sistemas mais “musculados”, executivo mais forte, legislativo mais fraco e reintrodução do bipolarismo partidário por blocos em alternância (o rotativismo, aquele que alguém caracterizou com a famosa fórmula: “ora agora comes tu – ora agora como eu – comes tu mais eu”), precisamente aquele mesmo que as transformações actuais estão a esboroar.
Ou seja: o que ele propõe como solução para se adequar a essa mudança radical que se verificou nas condições que estiveram na origem do sistema representativo (mas a que ele chama democracia) é remédio que se arrisca a fragilizá-la ainda mais. Entre o diagnóstico e a proposta de solução verifica-se, pois, um grande desfasamento. E diz mais: se o remédio não for tomado virão aí modelos autocráticos, de que já são sinal os vários populismos de direita que grassam por essa Europa fora.
Sim, o que JAS está a propor como solução é precisamente aquilo que já se está a verificar, mas de modo mais radical, nas chamadas “democracia iliberais”, de que os senhores Viktor Orbán e Jaroslaw Kaczynski são grandes paladinos e executores.
3.
Ora acontece que o que mudou, e que ele refere minuciosamente, ou seja, as novas condições agora associadas às democracias de hoje (jornais, telefone, telégrafo, TV, internet, redes sociais, migrações, comboios, automóveis, aviões, economia global, como ele diz) parece exigir exactamente o contrário do que ele oferece como solução: não decisionismo e enfraquecimento da representação (“os debates parlamentares são coisa do passado)“, mas expansão e enriquecimento da esfera da deliberação (no espaço público deliberativo) para voltar a aproximar a cidadania dos representantes e dos sistemas de partidos e para aumentar a transparência e a própria qualidade da decisão (precisamente através do reforço da sua componente deliberativa). Porque a verdade é que a questão da autoridade do Estado deve identificar-se não com autoritarismo decisionista e com redução do papel da representação política (a que é suposto dar voz ao povo soberano), mas com “auctoritas”, com legitimidade renovada, virtuosa e reconhecida, com transparência e qualidade das decisões, ou seja, boas decisões e socialmente justas. Sem esquecer a famosa definição de democracia de Lincoln no famoso discurso de Gettysburg, em 1863: “government of the people, by the people, for the people”.
4.
Vendo bem, a solução de JAS tem mais de “democracia iliberal” do que de democracia deliberativa, a única que poderá restaurar a representação, a legitimidade e a qualidade e transparência da decisão. O que parece é que o que JAS tem para oferecer como cura da democracia é o seu próprio definhamento programado (sobretudo se for executado pela direita radical). O que ele propõe até já tem nomes que circulam nos ambientes da teoria política: maioritarismo extremo ou autoritarismo maioritário (Thierry Chopin, Nadia Urbinati). Ou então aquele outro nome que ao tempo foi usado para designar o sistema de poder de Bettino Craxi, o decisionismo, que bem sabemos como acabou. Mas se o destino for esse não serão precisos os remédios de JAS porque já há quem os esteja a tomar sistematicamente e de forma intensiva: os dois principais activistas do Grupo de Visegrad, Viktor e Jaroslaw. Na verdade, como se sabe, os populistas de direita souberam adaptar-se ao sistema representativo, mudando-lhe os seus equilíbrios internos (o sistema de checks and balances), precisamente no sentido proposto por JAS e ainda reforçando-o. Por exemplo, acrescentando-lhe também o controlo do poder judicial pelo executivo. Muito obrigado, Senhor Arquitecto, mas, a ver pelas amostras, não creio que os seus remédios augurem alguma coisa de bom. JdAS@08-2023

MAIORIA PARLAMENTAR: É ESTA A REGRA
As Legislativas em Espanha
Por João de Almeida Santos
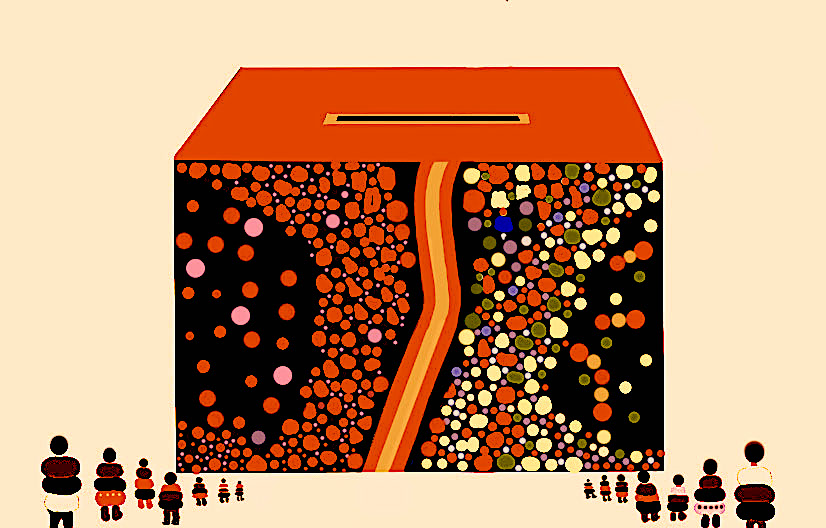
“O Voto”. JAS. 07-2023
O QUE ACONTECEU no passado Domingo, em Espanha, ninguém o previa. A média das sondagens dava, há muito, uma diferença média de cerca de 6/7 pontos em relação ao PSOE. Já era praticamente uma certeza científica. Tudo convergia para o triunfo do PP e do VOX e a consequente formação de um governo de direita. Um exemplo: entre 15.07 e 17.07, em 15 resultados de tracking efectuado por várias empresas verificava-se uma diferença média de cerca de 7,5%; ou, em 10 resultados, entre 29.06 e 04.07, uma diferença média de 7%, entre PP e PSOE. A diferença nas previsões também continuava a ser substancial no próprio dia das eleições, 23 de Julho. Mas, à prova dos factos, o que se verificou foi uma curta diferença de 1,35%, mais 330.870 votos e mais 14 deputados para o PP. Pedro Sánchez resistiu quando já era dado como o grande perdedor. Perdeu, sim, mas, como se ouve por aí, foi uma derrota com sabor a vitória. Perdeu, sim, depois de cinco anos de governo, mas o adversário não conseguiu, à partida, condições para formar governo. Nem o VOX nem uma ou duas outras pequenas formações (de Navarra e das Canárias, embora, ao que parece, também estes últimos não aceitarão o VOX no governo) lhe bastarão para atingir os 176 deputados necessários, ficando-se, no máximo, pelos 170/171 (136 do PP, 33 do VOX e 1 ou 2 dos outros dois pequenos partidos). A eventual aliança com partidos das nacionalidades que há muito aspiram à autodeterminação parece ser impossível, por ser contraditória. Aliás, uma das razões do excelente resultado do PSOE na Catalunha, com 19 deputados, mas certamente também no país Basco, foi precisamente o desejo de evitar o perigo de formação de um governo do PP com o VOX. Resta, pois, a Alberto Núñes Feijóo a carta do Partido Nacionalista Basco (EAJ-PNV), de Andoni Ortuzar, apesar da recusa deste partido em participar num governo com o VOX, sem o qual, todavia, o PP não terá os votos para uma maioria, o que torna muito problemática esta possibilidade. Com efeito, disse o presidente do PNV, Ortuzar, nos primeiros dias de Julho, que “se ha normalizado” que VOX “pueda entrar a governar” pelo que ao presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, “ya no le va a costar votos” pactuar com o partido de Santiago Abascal “y, por tanto, lo hará”. Além disso, informou que o PNV não entrará “de ninguna manera” na “ecuación PP-Vox” para “hacer un viaje al passado” (El Español. Crónica Vasca – https://cronicavasca.elespanol.com/politica/20230704/el-pnv-pp-responde-es-pedro-sanchez/776422384_0.html). Na passada Segunda-Feira, dia 24.07, “El País” noticiava que “El PNV se niega a negociar la investidura de Feijóo”. Esta situação de ruptura entre o PNV e o VOX, mas também com Coalición Canaria, que se recusa a apoiar uma “investidura fantasma” de Feijóo, tornará difícil ou mesmo impossível a formação de um governo liderado pelo PP. Veremos.
1.
Além do excelente resultado na Catalunha, onde é de longe o maior partido, o PSOE também é o maior partido no país Basco, situação a que não será indiferente a percepção de que este partido interpreta a relação do poder central com as autonomias de forma mais flexível e tolerante do que o faria um governo PP/VOX. O que aconteceu em 2010 com o Estatuto de Autonomia da Catalunha e o papel que o PP teve nisso não estará certamente esquecido. Mas a verdade é que o PP teve um excelente aumento de deputados em relação a 2019, com 136 deputados (+47, beneficiando dos mandatos que o VOX perdeu e dos que foram de Ciudadanos, o que corresponde a um total de 19+10), tendo, todavia, ficado longe, muito longe, a 40 deputados, da maioria suficiente para governar sozinho. O VOX caiu, perdendo um grande número de deputados, 19 dos 52 que tinha, e o SUMAR afirmou-se como a nova força eleitoral à esquerda do PSOE, com 31 deputados. Perdeu quatro mandatos e não se sabe se internamente tudo se manterá tranquilo e estável. Se houver a formação de um governo do PSOE a tendência para estabilidade manter-se-á.
Em síntese, o que parecia já estar determinado não se verificou, podendo mesmo acontecer que seja o PSOE a formar governo com o SUMAR e os partidos da Catalunha (com a abstenção de Junts per Catalunya, o partido do fugitivo Puigdemont) e do País Basco.
2.
Na Espanha o peso da história dramática e traumática da guerra civil e da longa ditadura de Francisco Franco é ainda considerável na memória dos espanhóis e, naturalmente, na política. Alberto Núñes Feijóo sabia-o e por isso tentou sempre distanciar-se do VOX, o que na declaração final de Santiago Abascal ficou bastante claro ao imputar o fracasso (na chegada ao poder) ao PP e a Feijóo. Foi este o sentido essencial da sua declaração depois de conhecidos os resultados eleitorais: a desmobilização dos eleitores de direita por via da posição e do discurso do líder do PP. Na verdade, o que parece ter sido importante para a resistência do PSOE e para a obtenção de uma maioria alternativa foi precisamente o movimento de resistência à formação de um governo PP/VOX. O PSOE subiu em relação a 2019 (passou de 120 para 122 mandatos) e o conjunto das forças políticas alternativas ao bloco de direita superou este em votos e em mandatos. Disse-o claramente Sánchez no curto discurso que fez aos apoiantes da varanda da sede do PSOE. Estavam em causa valores importantes que os eleitores quiseram salvaguardar: as conquistas civilizacionais entretanto conseguidas, o não agudizar das tensões com as regiões que mostram tendências independentistas, a memória dos anos trágicos da guerra civil, uma governação que teve um desempenho razoável perante a pandemia, a guerra da Ucrânia e os seus efeitos sobre a economia espanhola e, em especial, sobre a inflação e, finalmente, o receio de reforço de uma frente política europeia defensora de um papel minimalista da União Europeia na vida e no futuro dos seus Estados Membros. O PP inverteu a situação anterior, mas não de forma suficiente, no essencial captando eleitores que lhe tinham sido subtraídos pelo Ciudadanos e pelo VOX.
3.
Mais uma vez aconteceu as sondagens terem ficado longe da realidade, o que nunca ajuda o processo político. Por um lado, enganando-se (para cima), favorecem a promoção da lógica do “carro ganhador” ou da “espiral do silêncio” (Noelle-Neumann); por outro, e em sentido inverso, servem para desmobilizar, ao darem por ganha, à partida, a competição. Estes resultados vieram reforçar a ideia de que o combate tem sempre de ser travado até ao fim, de que quem decide é o voto expresso e não as projecções demoscópicas. Podem influenciar, mas no fim o que conta é o voto real. Neste caso, isto foi muito claro e visível na última semana, precisamente a que já não permitia a publicação de sondagens: uma forte mobilização do eleitorado do PSOE, num crescendo que quem seguiu de perto a campanha eleitoral pôde claramente constatar.
4.
Em Espanha poderá repetir-se o que já se verificou em Portugal, em 2015, com o PS. Um reforço daquela fórmula que Rubalcaba identificou como “Governo Frankenstein”. Uma geringonça à espanhola, agora ainda mais reforçada. Mas a verdade é que os governos resultam das maiorias parlamentares e não da vitória deste ou daquele partido, ao contrário do que, num tweet politicamente analfabético, de 24.07.2023, diz um antigo candidato à liderança do PSD e hoje seu Vice-Presidente, Miguel Pinto Luz. Vejamos o que diz: “Aqui, como em Espanha, a esquerda especializou-se em desvalorizar e passar por cima dos resultados das eleições quando lhe convém. Especializou-se em não respeitar a vontade expressa nos votos dos eleitores. No fundo, a não respeitar o funcionamento da democracia. E essa atitude não podemos deixar de lamentar e condenar”. Mas não está só, MPL, pois também Luís Montenegro terá dito o mesmo sobre as eleições de Domingo, em Espanha. A verdade é que sistema não funciona assim e o seu funcionamento não é matéria de opinião. São as maiorias que determinam a formação dos governos. O arranque do processo de reconstituição institucional da democracia representativa de natureza parlamentar, como a nossa ou a espanhola, começa na eleição do órgão legislativo (na origem, começa com a eleição de uma constituinte), de cuja maioria sairá o governo. Não estamos num regime presidencialista e, por isso, é a partir do Parlamento (no caso espanhol, do “Congreso de los Diputados”, art. 99 da Constituição) que se gera o governo. Até pode ser minoritário (como, por exemplo, no primeiro governo Guterres), mas tem de ser a maioria parlamentar a permiti-lo. O resto é pura iliteracia política ou expressão de um desejo de acordo com as circunstâncias. Ora, se Feijóo, que certamente será indigitado pelo Rei (art. 99, n.º 1, da Constituição: “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”), fracassar, o que é mais que provável, a tarefa de Sánchez não será fácil, tendo de se entender nas negociações com protagonistas que lhe pedirão (falo sobretudo de Junts per Catalunya) aquilo que ele não lhes poderá dar, ou seja, o que a constituição não permite. Tem, todavia, um argumento forte: se se mostrarem inflexíveis nas negociações haverá novas eleições, que ninguém sabe como irão terminar. Ou como uma vitória clara do PSOE ou da dupla PP/VOX, perdendo estes protagonistas a possibilidade de obterem ganhos resultantes de negociações. E não seria a primeira vez.
5.
Há, todavia, um aspecto que é necessário sublinhar: o PSOE ganhou as eleições às sondagens, mas perdeu-as para o PP, com 31,7% e 7.760.970 votos, depois de cinco anos de governo. E este não é facto que possa ser subalternizado, ainda que Sánchez possa vir a formar governo. E que governará liderando uma ampla frente com interesses muito diferentes e com visões muito afastadas ou até contraditórias entre si. O líder do PSOE preferiu falar de frente alternativa e de progresso civilizacional. Mas não pode esquecer que lá dentro estarão forças que querem avançar na história às arrecuas, colocando a independência da Catalunha no centro do seu projecto. Já aqui escrevi um longo ensaio sobre este assunto (https://joaodealmeidasantos.com/2018/01/17/manifiesto-por-la-unidad-de-espana-ensayo/), desenhando um quadro geral crítico de toda a questão da autodeterminação protagonizada por estas forças da Catalunha, que, note-se, saíram destas eleições muito enfraquecidas perante um PSOE reforçado. Mas também há que reconhecer que a liderança de Sánchez (embora tomando algumas medidas que motivaram uma grande polémica) descrispou o ambiente criado à volta da autodeterminação e, de certo modo, ajudou a que o PSOE se tornasse o partido que, sozinho, tem mais deputados (19) do que os outros juntos (ERC e Junts per Catalunya), sendo, todavia, certo que o receio de que um governo PP/VOX viesse a agudizar a situação na Catalunha teve uma influência talvez determinante para uma vitória desta dimensão. Não nos podemos esquecer que foi o PP o principal responsável pela agudização da luta dos catalães pela autodeterminação na sequência do chumbo da Lei da Autonomia da Catalunha pelo Tribunal Constitucional, lei que tinha sido aprovada pelas Cortes, mas cuja constitucionalidade fora posta em causa precisamente pelo PP de Rajoy, tendo-a remetido a este Tribunal Superior.
6.
E, para terminar, deixem-me que o diga: esta não é uma questão menor para a democracia espanhola. Um governo do PSOE é sem dúvida mais adequado para uma boa solução da questão das autonomias do que partidos autoritários que pretendem resolver à força aquilo que só pode ser resolvido pela negociação e pelo consenso, o terreno próprio da democracia. Mas a minha posição sobre a questão da autodeterminação está claramente formulada no ensaio que acima menciono. JAS@07-2023

A INVESTIGAÇÃO AO PSD II
Por João de Almeida Santos

“Avenida Parlamento”. JAS. 07-2023
PUBLIQUEI na passada Sexta-Feira, aqui, um longo artigo sobre o assunto e tenho seguido a discussão a propósito desta investigação, que mobilizou um exército de operacionais, sobre assessores ou técnicos do grupo parlamentar (GP) do PSD para averiguar se também desempenhavam (2018-2021) funções neste partido, o que, de resto, acontecia (e acontece) com todos os partidos, e desde sempre. A questão não surgiu publicamente com esta formulação, mas, sim, como se tivesse havido desvio de fundos. Erradamente, pois, na verdade, não houve – nem desvio, nem aumento de fundos públicos para este fim, porque os fundos são atribuídos ao partido e aos grupos parlamentares unicamente em função do número de votos obtidos e do número de deputados conseguidos em eleições. Mas também se constata que já são generalizadas as dúvidas sobre a agora chamada zona cinzenta, sobretudo depois de referida pelo PR (enquanto doutorado sobre o assunto e talvez enquanto ex-presidente deste partido), que subsistiria entre partidos e grupos parlamentares. Dúvida em parte legítima, apesar de, no meu entendimento, não haver, de facto, zona cinzenta alguma. Por uma razão muito clara: formalmente, há uma separação estrutural entre o Parlamento e os partidos com representação parlamentar na exacta medida em que são realidades que pertencem a esferas diferentes – uma é pública, a outra é privada. Uma é expressão de uma parte da sociedade, a outra exprime institucionalmente toda a sociedade. Contraprova: os partidos não mantêm qualquer poder sobre os deputados que propuseram, o que decorre do seu próprio estatuto. Eles são titulares de mandato não imperativo e de soberania, não podendo os partidos que os propuseram revogar-lhes o mandato. Por duas razões: por um lado, porque quem confere o mandato são os eleitores, não os partidos; e, por outro, a soberania está num patamar superior ao da sociedade civil, ao da esfera privada, a que pertencem os partidos. Uma vez eleitos, usando a linguagem do parto, é como se o cordão umbilical fosse cortado. É por isso que não há qualquer zona cinzenta entre estes dois patamares. E, todavia, tal como os filhos, mesmo quando são maiores (juridicamente autónomos), não deixam de manter uma relação privilegiada, permanente e desejável com os pais, com a família (traduzível, por exemplo, no direito linear à herança), também os deputados mantêm uma relação privilegiada com os partidos de onde provêm (traduzível, por exemplo, no facto de, pela sua acção, serem os partidos a responder perante os eleitores). Tudo isto é claríssimo e não é matéria susceptível de ser contestada.
1.
Mas por que razão existe esta relação privilegiada? Em primeiro lugar, porque, por determinação constitucional, são os partidos que estão na génese do mandato que lhes é conferido (monopólio de propositura); em segundo lugar, devido a uma qualidade emergente dos partidos derivada do funcionamento global do sistema político democrático. Vejamos melhor. Sendo a democracia representativa, como a nossa, e todas as outras de inspiração liberal, ou seja, não orgânicas, uma “democracia de partidos”, onde estes detêm o monopólio de propositura de candidaturas ao Parlamento, este facto introduz uma importante variável que deriva do funcionamento global do sistema e que acaba por sobredeterminar as relações entre aquelas duas esferas (parlamentar e partidária), como se se tratasse de dois subsistemas (diferentes) no interior de um sistema mais vasto. E é verdade que, uma vez eleito, o deputado não depende de quem o propôs (do partido), mas também é verdade que não depende de quem o elegeu (os eleitores e o círculo eleitoral), porque não tem “vínculo de mandato”. Lembro o que está escrito numa das constituições fundadoras do sistema representativo, a constituição francesa de 1791: “Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat” (art. 7, Secção, III, Título III; itálico meu). Não há vínculo de mandato, logo há mandato não imperativo. Os deputados são formalmente livres. Nem os partidos nem os eleitores lhes podem revogar os mandatos. Eles não representam o partido nem o círculo eleitoral por onde são eleitos, mas sim a Nação. Sim, mas há também uma sobredeterminação das relações entre o Parlamento e os eleitores derivada do funcionamento global do sistema: a função política de mediação entre o deputado e a sociedade civil é desempenhada, em termos constitucionais, pelo partido político. E porquê? Porque são os partidos políticos que: 1) vão regularmente a sufrágio, apresentando-se a votos perante a sociedade civil (na forma de eleitorado); 2) prestam-lhe contas pelo trabalho desenvolvido pelos deputados eleitos nas suas listas, durante a legislatura; 3) são por ela julgados, através do voto, pelas prestações dos representantes que emanam deles; 4) e, como consequência, vêem, ou não, assim, renovados, reduzidos ou reforçados, os seus mandatos. Ou seja, no actual modelo os partidos desempenham esta função central, decisiva e insubstituível de recondução da acção do parlamento à apreciação dos eleitores, recaindo sobre eles, partidos, essa responsabilidade. O Parlamento desempenha as suas superiores funções institucionais autónoma e livremente, mas, depois, quem presta contas perante os eleitores são os partidos políticos e quem vai a votos é, na pessoa do candidato a deputado, a sua proposta política, os seus programas e a própria liderança. É esta centralidade funcional que ocupa no sistema que exige que haja pontos de contacto permanentes e interacções obrigatórias com o Parlamento. A separação entre o poder legislativo e a sociedade civil é assim resolvida por uma função do sistema desempenhada pelos partidos políticos, ainda que eles próprios pertençam à sociedade civil. Ou seja, na verdade, não havia zona cinzenta, antes, nem há, depois. Tudo claro. Neste contexto, como é possível considerar ilegal e ilegítimo que assessores parlamentares partilhem e desempenhem funções técnicas especializadas com e nos partidos de referência por livre decisão dos GP, determinada por lei?
2.
Os partidos não participam na tradução política dos seus próprios programas pelos deputados que são por eles propostos? Então, quando os partidos vão a votos exibem o quê? Programas, deliberações, decisões, leis em que não participaram? São avaliados por acções ou omissões de que não seriam co-responsáveis? Teoricamente até se pode dar o caso de que quem vai a votos já não ser quem exerceu essas funções. Quem será então responsabilizado? O partido. A quem será confiado o novo mandato? Será sempre ao partido, que é a organização que permanece em face das naturais mudanças de candidatos. Dir-se-á: paga pelas más escolhas que fez nas candidaturas. Ora acontece que o mandato, como é natural, exprime, de várias formas, uma determinada visão da sociedade que é, naturalmente, a do partido que propõe, sendo também claro que a avaliação da sua acção recairá integral e exclusivamente sobre esse mesmo partido. Não é, pois, natural que a sua acção seja regular e coerentemente articulada, trabalhada e consensualizada com o partido de referência? É óbvio que sim. Anormal seria isto não se verificar. Trata-se de um trabalho no qual intervêm os assessores e os técnicos do GP (é para isso que são contratados nas áreas da governação: economia, finanças, ambiente, justiça, comunicação, etc., etc.), em número condicionado pela dimensão do GP, que é o único critério que determina a entidade do financiamento e das subvenções. Aquilo que o senhor procurador ou a senhora procuradora titular do processo acham é que os GP não podem pôr os seus técnicos e assessores a desenvolver trabalho com os partidos de referência, devendo, pois, estes, duplicar recursos, que, de resto, provêm, ambos, de fundos públicos? Bem pelo contrário. Do que se trata é de partilha de funções, não da partilha de fundos, que não se alteram, por essa razão. E note-se que nada disto fere a autonomia do Parlamento, porque é sempre ele o responsável pela decisão final, conservando-se, assim, a natureza do mandato como não imperativo, ainda que no processo de formação e construção das deliberações o partido de referência tenha, por direito próprio, e até por dever, intervindo. Na verdade, tecnicamente, esta relação necessária entre partido e Grupo Parlamentar resulta dessa sobredeterminação pelo sistema, atendendo ao papel central que os partidos desempenham no funcionamento de todo o sistema político, onde têm como missão fundamental reconduzir a acção do parlamento à vontade e ao julgamento do povo soberano (e não dos magistrados), em eleições.
3.
Não refiro os muitos diplomas legais, designadamente sobre financiamento e subvenções, que regulam e respondem ao reconhecimento do papel essencial dos partidos no funcionamento do sistema democrático e não refiro também o papel que lhes é reconhecido pela Constituição da República – porque já o fiz no artigo anterior. O que aqui quero sublinhar é que o poder judicial deve, também ele, respeitar a separação de poderes que exige para si, e ainda mais perante um poder que lhe é hierarquicamente superior, não podendo interferir numa esfera que a própria lei deixa à livre decisão dos Grupos Parlamentares, financiando-os, permitindo-lhes livre escolha de colaboradores e de decisão sobre o tempo, o modo e o lugar de exercício da colaboração, mas também, como disse, determinando, em termos constitucionais, que pelo resultado final da acção política dos GP quem responderá e pagará o respectivo preço serão precisamente os partidos. De resto, nem do ponto de vista formal se entrevê qualquer ilícito porque todos os colaboradores estão nomeados pelo GP e são remunerados pelo Parlamento, não se verificando, portanto, desvio de fundos. Andar a investigar, e com a “ferocidade” com que isso foi feito, como e onde estes colaboradores desempenham ou desempenharam a função de partilha de competências parece-me, isso sim, ilegítimo e até ilegal, sendo também uma grosseira violação do princípio da separação de poderes, além de configurar excesso de zelo e até devassa ilegítima da vida partidária, se não quisermos ir mais longe e acrescentarmos que se trata de inaceitável protagonismo dos magistrados ou até, como já disse no anterior artigo, de lawfare. De qualquer modo, este caso não pode deixar de ter consequências, tendo os mais altos responsáveis políticos e judiciais o dever de agir, não só pedindo explicações aos titulares do processo, mas também mudando os procedimentos que permitiram a devassa e o conjunto de abusos, e foram muitos, que se verificaram neste caso. Ora aqui está uma matéria que bem justificaria uma aprofundada reflexão por parte do próximo Conselho de Estado, o órgão que com maior autoridade institucional se pode pronunciar sobre esta matéria.
4.
Estamos a falar de trabalho político de dois organismos fundamentais do sistema político democrático, os grupos parlamentares e os partidos. Estamos a falar da única entidade que se submete regularmente à livre avaliação e escolha da cidadania. Por isso, uma injunção com estas características é muito grave e prejudica o próprio funcionamento da vida democrática, por um lado, coarctando a liberdade que o exercício de uma alta função, como a de deputado, exige, e, por outro, menorizando e aviltando, perante a opinião pública, a função que os partidos políticos desempenham no sistema democrático. É também absolutamente necessário acabar de vez com os festivais das prisões preventivas para investigar, com a reiterada violação do segredo de justiça e o espectáculo do pelourinho electrónico alimentado por estas práticas. São já muitos e conhecidos os episódios de lawfare. Esperemos que este não seja um caso desses. JAS@07-2023
![]()
LAWFARE, EXCESSO DE ZELO OU PURO ARBÍTRIO?
A Investigação ao PSD
João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 07-2023
FUI VERDADEIRAMENTE SURPREENDIDO, “ma non troppo”, pela incursão dos magistrados judiciais nas sedes do PSD e nas casas dos seus dirigentes à procura de um estranho ilícito. Baseio-me no que li na imprensa, porque não conheço os autos. Mas, na verdade, o que me interessa é o essencial. A legitimidade desta acção judicial, na qual o que parece estar em causa é a alegada remuneração de funcionários do PSD pela Assembleia da República. Logo à primeira vista, isto parece ser improvável: nunca a Assembleia da República remuneraria alguém que não integrasse o quadro de pessoal da própria Assembleia. As pessoas remuneradas, e aqui em causa, para o serem teriam de ter o estatuto formal de colaboradores do Grupo Parlamentar (GP), técnico ou de assessoria. Só assim a AR poderia processar os vencimentos. E julgo que foi isto mesmo que se passou, sendo a questão levantada pelo facto de alguns destes colaboradores alegadamente prestarem serviço junto do partido. É isto ilegal?
O QUE DIZ A LEI
Vejamos. Em primeiro lugar, os GP escolhem e nomeiam livremente os seus colaboradores de acordo com a Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da AR e têm o poder de decidir quando, onde e como estes exercem as suas funções, incluindo a possibilidade de o fazerem à distância (Art. 46). Assim sendo, nada impede que os GP decidam que um ou mais assessores exerçam as suas funções na própria sede do partido de referência, adoptando uma figura parecida com a dos “oficiais de ligação”, mediadores entre o GP e o partido de referência. E isto em várias frentes da actividade parlamentar. Ficam, pois, ao serviço da articulação entre o GP e o partido de referência. Que estranheza há nisto?
Há que lembrar, embora tendo sempre em conta a separação entre o público e o privado (mesmo no caso dos partidos políticos), o que diz art. 114 da Constituição da República Portuguesa: “Os partidos políticos participam nos órgãos baseados no sufrágio universal e directo, de acordo com a sua representatividade eleitoral” (n.º 1) e “gozam, designadamente, do direito de serem informados regular e diretamente pelo Governo sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público” (n.º 3). A Constituição diz “os partidos”, certamente através da sua representação parlamentar, que adoptará as formas mais expeditas, directas e regulares de o fazerem. Mas note-se que diz “os partidos”, não representação parlamentar. A própria lei (alterada, creio que é a Lei 55/2010, de 24.12), relativa a subvenções públicas aos grupos parlamentares, aos deputados únicos, não inscritos ou independentes, fala de “actividade política e partidária em que participem” (nº8 do art. 5). Há aqui um claro ponto de contacto entre GP e partidos expresso em lei. A ela se referiu ontem o próprio PR. Ou seja, os partidos políticos, sendo associações privadas, perseguem fins públicos, têm a exclusividade de propositura das candidaturas ao Parlamento e, como se viu, estão reconhecidos formal e constitucionalmente como sujeitos políticos dotados de importantes (e muitas) prerrogativas institucionais, incluindo subvenções, para efeitos de actividade partidária, dos seus grupos parlamentares. Os assessores dos GP são enquadráveis nesta lógica inscrita na própria lei e na CRP. Dentre as funções políticas relevantes dos partidos políticos está a de relacionamento privilegiado com os seus Grupos Parlamentares e com o próprio governo. Curiosamente, no extracto de carta de denúncia que o “Público” publica (ontem, 13.07.2023, p. 13) pode ler-se que “vários funcionários da sede nacional do PSD (…) estão nomeados simultaneamente para funções permanentes no partido e no grupo parlamentar. Tal significa que não podem estar nos dois locais simultaneamente”. Precisamente, dupla função, “oficiais de ligação”, sendo que a presença física, ou não, depende da livre decisão do Grupo Parlamentar. No meu entendimento trata-se de uma situação perfeitamente regular. O denunciante provavelmente nem conhecia a lei.
O ARTIGO 16 DO REGIMENTO DA AR
O que impede, pois, um Grupo Parlamentar de accionar os seus próprios meios humanos para promover e aperfeiçoar a sua ligação ao partido de referência se a própria CRP atribui aos partidos uma relevância institucional directa que não se verifica com nenhuma outra associação privada e a lei prevê o financiamento da actividade partidária desenvolvida pelos seus grupos parlamentares? Nada, é a minha convicção profunda. Bem pelo contrário, a criação de um fosso, de uma rígida separação entre o GP e o seu partido de referência só produziria danos ao próprio funcionamento do sistema político democrático.
Mais. Como se sabe, a Assembleia da República não tem, nem nunca teve, estruturas nem recursos humanos disponíveis que possam dar apoio local, como previsto pelo n.º 2 do art. 16 do seu Regimento (1/2020, de 31.08), ao trabalho dos deputados nos respectivos círculos eleitorais. Na verdade, nunca esta, que é uma competência do PAR, foi exercida, ou seja: “promover o desenvolvimento de ferramentas que visem o contacto direto ou indireto dos Deputados com os seus eleitores, nomeadamente a criação de formas de atendimento aos eleitores, a funcionar nos respetivos círculos eleitorais”. Nada. Quem apoia, então, os deputados no seu trabalho político junto dos seus eleitores? Está claro de ver que são os partidos políticos, através das suas estruturas locais ou regionais, suprindo deste modo uma grave falha do Parlamento. Só esta razão, mas também a escassez de espaço na AR é invocada, basta para justificar que os GP destaquem alguns seus colaboradores (dos que a lei prevê) junto dos partidos com este objectivo, embora, como disse, essas funções sejam exercidas também num mais vasto espectro. De resto, parece-me muito sensata e razoável a explicação do Bloco de Esquerda sobre o assunto (veja a transcrição no DN de 13.07, pág. 4), embora não tanto a de Rui Rio, ao afirmar que essa é prática de todos os partidos, porque a prática não encontra legitimidade no número dos que a adoptam ou no tempo durante o qual acontece, mas na sua inscrição nos fundamentos que acima referi e nos que também o BE invoca.
ANTI-POLÍTICA?
Por isso, parece-me estranha e injustificada esta gigantesca operação, com 100 operacionais no terreno, junto do PSD (que não é, nem nunca foi, o meu partido de referência), com ampla cobertura mediática, maltratando mais uma vez o segredo de justiça e exibindo já o temível pelourinho electrónico, pronto para a execução pública do castigo.
O que eu vejo nisto é uma verdadeira operação contra a política, de desqualificação dos partidos e dos seus dirigentes e, finalmente, um ataque à própria democracia. E veria nisto autêntico lawfare se a operação não acabasse por envolver todo o sistema político. Mas a ser lawfare, e acho mesmo que é, então será para a promoção da anti-política, resultando a operação naquilo que todos já conhecemos bem demais: a promoção do populismo radical através da promoção, a qualquer custo, do descrédito de todo o sistema político e da própria democracia. O que eu espero é que desta vez não venha a ser exibido o já tão enjoativo slogan “à política o que é da política e à justiça o que é da justiça”. É que, desta vez, ou mais uma vez, é a justiça que está a entrar despudoramente numa zona muito sensível e perigosa da política, num terreno que envolve todas as forças políticas e, por conseguinte, a própria democracia. Mas nada disto é novo.
LAWFARE
Afinal, o que é o lawfare? A palavra é hoje usada para designar o uso extrajudicial do direito para fins de combate ao inimigo, seja em que frente de batalha for. O neologismo deriva da contracção de “law”, direito, com “warfare”, guerra, como se lê no livro Lawfare, da autoria dos advogados do Presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, Valeska Zanin Martins e Rafael Valim (Coimbra, Almedina, 2020, p. 29). O Lawfare é usado pelos Estados, pelos aparelhos do Estado ou sabe-se lá por quem para anular os inimigos ou vergar os alvos escolhidos. Antes de conhecer este conceito, bem consciente da prática que se generalizava, muitas vezes designei o uso do direito para fins exteriores à justiça como arma branca da política, na convicção de que, hoje, o uso das forças armadas e das forças de segurança é, com vantagem, substituível pelo uso “bélico” do direito para derrubar governos, instalar regimes, liquidar inimigos políticos. Esta possibilidade foi tornada possível pelo crescimento do poder judicial no interior dos sistemas democráticos e na geometria dos poderes. Para este crescimento ou mesmo para a conquista da centralidade do poder judicial no sistema social já, há muito, Alain Minc tinha chamado a atenção em dois livros: L’Ivresse Démocratique (Paris, Gallimard, 1995) e, sobretudo, Au Nom de la Loi (Paris, Gallimard, 1998; e Mem Martins, Inquérito, 2000). Uma curta citação, a propósito. Falando do populismo e da sua execração à representação nacional ou a todas as formas de mediação política, Minc conclui: “todos corrompidos” é “o seu grito de união; e para se desfazerem da ‘ralé parlamentar’, um método: a delação; um instrumento: a pressão mediática; um recurso: o juiz”. Deste modo, “astros dos meios de comunicação (…), os juízes podem tornar-se, sem o quererem ou sem o pensarem, o braço secular do populismo” (Minc, 2000: 47-48). Mais claro do que isto é impossível.
AS ORIGENS
Este poder da justiça foi acompanhado pelo crescimento do establishment mediático, em particular a partir dos anos ’90, tendo-se estabelecido entre ambos uma aliança estratégica que viria a reforçar o seu poder. A leitura destes dois livros dar-nos-á um quadro bastante completo e analítico deste poder emergente que resulta da referida “santa aliança”. São conhecidos os casos mais radicais, mas o que mais marcou a cena internacional e a própria tessitura da narrativa, pelo seu pioneirismo e pelos efeitos que teve sobre todo o sistema político italiano, foi o caso de Tangentopoli, com Antonio di Pietro como protagonista, que ficaria famoso não só por desmantelar o sistema de poder existente em Itália até ao início dos anos ’90 (a Primeira República), mas também por ter exposto ao vexame televisivo os inúmeros protagonistas da política italiana sujeitos a processo. Cito, a este propósito, de novo, Minc: “A Itália ofereceu-se, assim, há menos de cinco anos uma revolução certeira. Com a sua ‘guilhotina seca’ que baniu as antigas elites. Com o seu herói revolucionário, o juiz Di Pietro. Com o Palácio de Justiça de Milão transformado numa espécie de Convenção. Com as cadeias de televisão como se fossem clubes de sans culotes” (Minc, 2000: 47). Cenas de humilhação indecorosas que nada tinham a ver com o direito a processos justos. Sabemos como acabou: da Italia dei Valori, de Di Pietro, o partido regenerador que fundou, à saída de sendeiro deste justiceiro, mais tarde dedicado à agricultura. Sabemos também o que se lhe seguiu: cerca de duas décadas de protagonismo político de Berlusconi e a queda de Itália no ranking dos países desenvolvidos em competitividade, transparência e liberdade de imprensa (veja-se o meu Media e Poder, Lisboa, Vega, 2012, p. 220, nota 120). Depois, foi o caso de Baltazar Garzón, erradicado compulsivamente do sistema judicial por sentença do Supremo Tribunal. Também nos USA ficou famosa a perseguição do magistrado republicano Kenneth Starr ao Presidente Bill Clinton com vista à sua destituição por impeachment no famoso caso Lewinsky. O Presidente teria mentido ao Congresso acerca de relações sexuais com a senhora Lewinsky e por isso deveria ser destituído. E o caso de Eva Joly, que viria a abraçar a carreira política sobretudo com Europa Ecologia (com Cohn-Bendit), tornando-se eurodeputada e apresentando-se, mais tarde, como candidata à Presidência da República francesa, em 2012, obtendo 2,31% de votos. O direito ao serviço da política para a resgatar da má vida. Ou o Estado, através das suas instituições, que se serve do direito para atingir determinados fins. O caso do justiceiro Moro, protagonista central da Vaza Jato (a referência à Lava Jato, pelo Intercept Brasil, que denunciou publicamente as manobras de bastidor do juiz), é ainda mais radical – de juiz a poderoso Ministro de Bolsonaro, em pouco tempo demissionário destas funções, e agora senador.
LAWFARE NO BRASIL E NOS USA
O tema do lawfare é actualíssimo, num tempo em que Donald Trump foi, inutilmente, tentando, através do direito, ganhar o que afinal perdeu nas urnas, numa tentativa frustrada de usurpação política da justiça; ou no Brasil, onde o sistema judicial brasileiro promoveu um longo processo de desmantelamento do poder do PT, através do processo Lava Jato, da inacreditável destituição da Presidente Dilma Rousseff, mediante impeachment, e do impedimento da candidatura de Lula nas presidenciais de 2018, através de não demonstrada acusação e de inúmeros atropelos à justiça, logo a começar pela violação da Lei Constitucional e das normas da ONU ou pela divulgação ilegal de conversas da Presidente Dilma com Lula. Poderia continuar, por exemplo, em Portugal, mas fico-me por aqui.
A obra que acima citei, enriquecida com um bom prefácio de Francisco Louçã, visa no essencial explicar o que é o lawfare, como funciona e para que serve, propondo, no final, três casos que ilustram com evidência esta prática pela Administração americana, na área económica (o caso da Siemens) e na área política (o caso do Senador republicano do Alaska, Theodore R. Stevens), e pelo poder judicial brasileiro (o caso do actual Presidente brasileiro Lula da Silva).
Verdadeiramente, o que é que está em causa no lawfare? Simplesmente o uso extrajudicial e puramente instrumental da justiça. Ou seja, a justiça como arma usada para aniquilar o inimigo, em aliança com o poder mediático (as chamadas externalidades) e usando instrumentalmente meios jurídicos específicos para obter vantagem: a geografia processual, certas normas favoráveis à sua aplicação, como a delação premiada ou a plea barganing, e a temática penal da corrupção, tão insinuante e atraente para a opinião pública. Na verdade, do que se trata é de introduzir na luta política (ou comercial) a lógica da guerra, enquanto ela visa o aniquilamento do inimigo ou a sua submissão total aos desígnios do executante do lawfare. Aqui, o direito é usado como arma, mas tacticamente modulado, visando anular a resistência do alvo e vergá-lo ao seu desejo para obter o resultado previamente fixado. A justiça deixa de ser a tentativa de resolução pacífica de conflitos para passar a ser uma arma de destruição, uma arma de guerra, “softwar”. Tudo isto é claramente ilustrável contando o processo que levou Bolsonaro ao poder e o juiz Moro a seu poderoso ministro. Mas os autores também explicam como o Estado americano vergou a Siemens, levando-a a cortar com qualquer tipo de relacionamento com o Irão, dando assim cumprimento à política externa dos Estados Unidos, ou como a relação de forças no Senado americano mudou com a condenação do Senador Stevens (2020: 121-122).
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS
Três, no essencial, são, pois, as variáveis: 1) a geografia processual (a área jurisdicional mais favorável a um ataque eficaz; no caso brasileiro, Curitiba; no caso americano do Senador Stevens, Washington e não o Alasca); 2) o uso de normas favoráveis à pressão do aparelho judiciário (por exemplo, a delação premiada, permitindo simplificar a acusação); e 3) as chamadas externalidades (ou a pressão mediática junto da opinião pública para legitimar a acção). É assim que funciona o lawfare, que se tornou um perigoso processo disruptivo do sistema democrático através de um dos seus três pilares fundamentais: o pilar judicial.
UMA AMEAÇA À DEMOCRACIA
Na verdade, estamos perante uma enorme ameaça à democracia representativa e ao que ela representa para as sociedades contemporâneas, não só porque distorce a luta política, convertendo-a na lógica amigo-inimigo (de schmittiana memória), na lógica da guerra, mas também porque envenena o próprio poder judicial, minando drasticamente a sua própria legitimidade e a sua função. Nisto, o establishment mediático fica de rastos porque também ele fere irremediavelmente aqueles que são os princípios básicos da sua própria ética deontológica e a sua condição de esteio fundamental da vida democrática, contribuindo para a erosão da própria democracia. A aliança estratégica entre o establishment mediático e a justiça em vez de favorecer, como parece, a transparência da vida democrática e dos seus procedimentos introduz, pelo contrário, uma lógica que é estranha a ambos, anulando um longo, secular e delicado processo de composição jurídica entre a defesa dos direitos individuais e o interesse geral representado pelo Estado. Numa palavra, o lawfare corresponde a uma prática que é inimiga da convivência democrática e que se torna promotora de soluções políticas não democráticas e populistas, como já fora bem assinalado por Alain Minc nas duas obras citadas.
Esta incursão pelo lawfare procurou dar enquadramento a uma operação judicial que eu, pelo que pude saber através dos meios de comunicação, considero no essencial errada, despropositada, perigosa e amiga de todos aqueles que querem desacreditar a política democrática e a democracia representativa, com vista à instauração de regimes autoritários pouco compatíveis com a matriz liberal do consagrado regime de democracia representativa ou de democracia deliberativa, bem preferíveis aos regimes de “democracia iliberal” ou de “democracia orgânica”. JAS@07-2023

OS HERDEIROS DE MUSSOLINI
A Terceira Geração
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 07-2023
HÁ DUAS RAZÕES pelas quais fui ler o livro de Salvatore Vassallo e Rinaldo Vignati, Fratelli di Giorgia. Il Partito della Destra Nazional-Conservatrice (Bologna, Il Mulino, 2023, pp. 292), uma investigação recentíssima sobre a extrema-direita, ou direita radical, italiana que se filia na tradição que remete para a Repubblica Sociale Italiana (RSI), a famosa Repubblica di Salò, e para o MSI-Movimento Sociale Italiano, de Giorgio Almirante, que lhe deu continuidade sob a forma de partido. Agora temos o partido da terceira geração, Fratelli d’Italia (FdI): da geração de Giorgio Almirante (do pós-guerra a 1988) à de Gianfranco Fini (1988-2009), à de Giorgia Meloni (2012-2023). O próprio Almirante foi um “repubblichino”, membro da RSI.
A primeira razão: dar seguimento ao anterior artigo sobre Mussolini que aqui propus na semana passada. A segunda: compreender melhor em que águas se movimenta o partido Fratelli d’Italia, de Giorgia Meloni, em vez de pura e simplesmente apontar o dedo, chamar-lhes fascistas e dar o assunto por encerrado. Dá-se o caso de este partido governar hoje um importante país europeu e de ser o maior partido italiano com cerca de 29% do eleitorado (a crer nas mais recentes sondagens), a cerca de 9 pontos percentuais do segundo maior partido, o Partido Democrático (PD).
1.
Os autores, referindo-se a Giorgia Meloni, dizem algo que talvez explique, em parte, o súbito sucesso de um partido que nas eleições legislativas de 2018 tivera pouco mais de 4% e que, quatro anos depois, nas legislativas de 2022, chegaria aos 26%, ganhando as eleições e formando governo com a líder como Presidente do Conselho de Ministros. Dizem eles:
“FdL é um partido old style com uma líder pop, uma das características que estiveram na base do seu sucesso”. E acrescentam: “Giorgia Meloni e o seu staff demonstraram uma notável capacidade de criar e interpretar registos comunicativos diferentes – do comício gritado à mais clássica retórica parlamentar, da entrevista televisiva solene ao talk show agressivo, da conferência internacional ao Tik Tok – conseguindo afirmar-se no actual sistema de media híbrido, no qual convivem as lógicas dos mass media tradicionais com as lógicas dos media digitais, dos broadcast e dos social” (2023: 191).
Giorgia pop star. Na verdade, o título do seu livro, Io sono Giorgia (Milano, Rizzoli, 2021, 336 pág.s), remete para um famoso e eficaz slogan, gritado num comício na Praça de S. Giovanni, em Roma, em Outubro de 2019, “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”, que viria a integrar um vídeo publicado no Youtube, tendo, em pouco tempo, tido mais de 6 milhões de visualizações. É uma líder incontestada e concentra em si todos os poderes num partido que no essencial não cumpre os estatutos sequer em processos de escolha e selecção dos dirigentes, que são inexistentes. O método dominante é a aclamação, vindo as propostas do vértice do partido. Em contraste com o que está estipulado nos estatutos, “os órgãos nacionais foram constituídos por aclamação ou nomeados pela Presidente, os congressos territoriais, com pouquíssimas excepções, nunca foram realizados; as primárias nunca foram convocadas” (Vassallo e Vignati, 2023: 131-132). A classe dirigente, no essencial, vem de longe, do tempo em que Meloni era dirigente da juventude partidária. Na verdade, trata-se de um “partido do líder”, um pouco diferente do “partido pessoal”, como era o caso de Forza Italia (Berlusconi) ou do próprio MoVimento5Stelle (Beppe Grillo) (Vassallo e Vignati, 2023: 263). O que não é estranho tendo em consideração a tradição político-ideal em que se inscreve FdI: uma tradição que sempre defendeu, e continua a defender, o presidencialismo e a personalização extrema da política na figura do líder. Na verdade, no discurso político de FdI a dimensão pública está profundamente ligada à dimensão íntima da líder (2023: 214), chegando mesmo a sobrepor-se: “Como em muitos outros aspectos da vida interna de FdI, a sobreposição entre a imagem do partido e da líder é quase total”, dizem Vassallo e Vignati (2023: 191). Ou seja, Meloni assumiu sem reservas a personalização intensa da política, a identificação emotiva do público com a sua pessoa, enquanto portadora de um projecto e de uma visão do mundo, mas onde a dimensão pessoal (física, de condição e de história pessoal) materializa, dá corpo ao próprio discurso político. A subida eleitoral vertiginosa que se verificou entre 2019 e 2022 encontra, sem qualquer dúvida, nestes aspectos uma sua relevante explicação, para além das temáticas, próprias dos partidos populistas, que já tinham contribuído, designadamente a temática da imigração, para o sucesso de Salvini nas europeias de 2019.
2.
O partido é muito recente, foi criado em 2012, e retoma, em novas formas, a tradição da Alleanza Nazionale e do Movimento Sociale Italiano. Ele é o legítimo herdeiro da tradição neofascista que remete para a famosa Repubblica di Salò, de que o próprio Giorgio Almirante fez parte. Foi nesta República (no Centro-Norte de Itália) que Benito Mussolini se manteve no poder, em território ocupado pelos alemães, entre 1943 e 1945, altura em que é condenado à morte pelos partigiani e exibido, morto, ao lado da sua amante, Clara Petacci, numa praça de Milano (Piazzale Loreto, em Abril de 1945).
3.
O livro conta detalhadamente a história das três gerações (a de Giorgio Almirante, a de que Gianfranco Fini e a de Giorgia Meloni) que levaram por diante a tradição originariamente neofascista, desde a fundação do Movimento Sociale Italiano, em 1946 (com Marsanich, Michelini, Almirante, entre outros), e as suas tendências internas, altamente conflituais e sempre marcadas pela presença sensível de um período dramático da história italiana, conhecido como “il Ventennio” (fascista). O distanciamento relativo a este património negativo só viria a acontecer com a viragem de “Fiuggi”, em 1995, e a criação formal da “Alleanza Nazionale”, a sucessora do MSI de Almirante. E fora já em pleno processo de constituição deste novo partido, pelo menos desde Janeiro de 1994, e já guiado por Gianfranco Fini, que, em aliança com o partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, no Mezzogiorno, com o chamado Polo del Buon Governo, viria a integrar o bloco vencedor das eleições legislativas de Março de 1994, vindo a entrar no primeiro governo Berlusconi e saindo definitivamente da tradicional colocação externa ao sistema. Segue-se um período de normalização até à sua integração, em 2009, num novo partido proposto por Berlusconi, o Popolo della Libertà, que integraria Forza Italia e Alleanza Nazionale. Experiência que não correu bem e que viria a ditar o fim político de Gianfranco Fini e o nascimento do partido Fratelli d’Italia, em 2012. Nas eleições legislativas de 2013, o FdI obteve fracos resultados, mas conseguiu eleger alguns deputados, não tendo, todavia, em 2014, nas europeias, eleito um eurodeputado; depois, nas legislativas de 2018 conseguiria um pouco mais de 4% e, nas europeias de 2019, em que Matteo Salvini obteve uma estrondosa vitória, com cerca de 34%, o FdI conseguiria obter um pouco mais de 6%. Até que, finalmente, em 2022 vence as eleições legislativas, com cerca de 26%, vindo a formar governo com a sua líder como Presidente do Conselho de Ministros.
4.
Uma ascensão meteórica, pois em dez anos conseguiria chegar a primeiro partido italiano, derrotando os competidores internos, a LEGA e Forza Italia, e o seu directo adversário, o Partido Democrático.
A fase de Fini foi decisiva para esta evolução pois foi ele que integrou no sistema democrático um partido que, pela sua marca genética, sempre fora considerado como externo ao chamado arco governativo. As polémicas internas eram sempre dramáticas e radicais quando o seu património político-ideal era objecto de debate e, por vezes, até as posições dos seus militantes eram contraditórias entre si, inclusivamente as de Gianfranco Fini acerca do fascismo, apesar de a sua posição de ruptura com o património genético se ter tornado dominante com a consolidação da Alleanza Nazionale.
Mais cautelosa Giorgia Meloni, que sempre garantiu uma visão pacífica e serena do património originário: “Giorgia Meloni sempre pôs grande ênfase na continuidade da experiência histórica da direita italiana”, afirmando, em 2021: “acolhi o testemunho de uma longa história de setenta anos” (Vassallo e Vignati, 2023: 16). Feitas as contas, a referência aplica-se exclusivamente à experiência partidária neofascista que se seguiu à experiência política italiana, entre 1922 e 1945 (incluindo os cerca de dois anos da Repubblica di Salò). Ela garantiu uma liderança sólida, não só pelo seu realismo e pela lealdade serena à sua própria tradição e identidade originária, mas já bem distante da chamada “política da nostalgia”, até por motivos geracionais, mas também porque soube fixar-se essencialmente nos temas que hoje são objecto de atenção generalizada de toda a direita radical ou populista: 1) a defesa intransigente do soberanismo; 2) o combate activo e extensivo à imigração (ilegal); 3) a defesa da ideia de pátria, lida, neste caso, a partir de uma sua identificação com a maternidade (“madre patria”: “perché la patria è la prima delle madri”, Meloni, em Milano, Abril de 2022 – Vassallo e Vignati, 2023: 213); 4) a recusa de todos os temas propostos pela ideologia woke, o politicamente correcto e a ideologia gender; 5) a crítica ao grande capital associada às teorias conspiracionistas, designadamente a da “grande substituição” étnica (2023: 207); 6) uma clara posição militante antiglobalista; 7) a proximidade aos países do Grupo de Visegrad e aos republicanos americanos, incluindo proximidade a Trump; 8) o presidencialismo, dando continuidade a uma posição que o neofascismo italiano sempre assumiu; 9) a defesa cautelosa de uma Europa dos povos e das nações e do respectivo património nacional, com forte crítica aos burocratas de Bruxelas, mas sem pôr em causa a pertença da Itália à União.
5.
Tudo com conta, peso e medida e também com um fortíssimo discurso onde dava centralidade à sua própria figura, enquanto mulher e mãe, à sua história pessoal, à sua proveniência sociológica (Vassallo e Vignati, 2023: 210-215), ao seu próprio empenho na defesa e promoção da identidade nacional e na sua identificação simbólica com as classes populares, ao evidenciar no seu discurso as suas origens e a sua vida.
O partido Fratelli d’Italia conclui um processo que tinha sido iniciado por Gianfranco Fini, num registo diferente e com maior equilíbrio e coerência na distanciação relativamente a chamada “política da nostalgia”. Os autores deste livro fizeram escassas incursões no território ideológico e doutrinário, limitando-se a fazer referências passageiras a Julius Evola, Giuseppe Prezzolini, Domenico Fisichella, Marcello Veneziani, Roger Scruton, Yoram Hazony (“The Virtue of Nationalism”) e, pasme-se, até a Pier Paolo Pasolini ou a Antonio Gramsci, sendo certo que esta última referência não é nova pois a pista já fora aberta por Luciano Pellicani, no livro “Gramsci e la questione Comunista (Firenze, Valecchi, 1976), publicado nos Estados Unidos pela Hoover Institution, em 1981. Estas referências têm a ver com uma leitura em chave tradicionalista e conservadora da crítica ao capitalismo e ao neocapitalismo, aos seus valores e mundividências (Vassallo e Vignati, 2023: 149). Mas, na verdade, os autores chamam a atenção para o facto de a classe dirigente de FdI ser mais política do que ideológica, política de profissão, interessando-lhe mais os grandes temas de combate próprios da mundividência populista do que uma coerente doutrina política (2023: 264). Estes temas já os referi, mas, em particular, o tema da imigração tem-se revelado de uma enorme eficácia política e eleitoral, como se viu no caso de Salvini ou no caso do BREXIT, tendo levado Meloni a, também ela, aproximar-se das posições do seu concorrente interno, a LEGA.
6.
Em breve completará um ano o governo de Giorgia Meloni (tomou posse em Outubro), com resultados eleitorais que as sondagens mostram serem promissores junto dos italianos, a crermos nas sondagens disponíveis já no mês em curso. Com efeito, em quatro sondagens de Julho, a diferença entre o FdI e o PD era superior a 9 pontos (29,3% de FdI contra 20,02 do PD). Uma estável subida de cerca de 3 pontos em relação às eleições de há um ano. Mesmo já com uma mulher como líder, Elly Schlein, o sei directo opositor, o PD, não tem conseguido superar o limiar dos 20%.
7.
A questão que se pode pôr é a de saber se isto corresponde, de facto, à expressão de uma tendência mais geral, representada pelos partidos populistas, na Europa e fora dela, ou se estamos perante um caso tipicamente italiano, de laboratório, tratando-se de uma rápida e quase inexplicável mudança nos protagonistas da política italiana. Lembremo-nos que o M5S, em 2018, conseguiu quase 33% do eleitorado; que, em 2019, a LEGA de Matteo Salvini obteve cerca de 34%; que a esquerda dominou desde 2013; e que Berlusconi, com Forza Italia e os seus aliados, foi governando Itália desde 1994 (1994-1995; 2001-2005; 2005-2006; 2008-2011), alternando com o centro esquerda. Nunca a direita radical tivera uma posição dominante. Pelo contrário, até 1994, desde o imediato pós-guerra, fora sempre considerada uma força política exterior ao sistema.
Estamos claramente perante uma nova e inesperada fase, com os dois partidos aliados em posição subalterna (com cerca de 8% ambos) e com a esquerda em graves dificuldades e alguma crispação interna. O que temos é realmente a direita radical a chefiar o governo e com uma base de consenso assinalável, a pouco menos de um ano da posse (em Outubro de 2022).
8.
O livro aqui em referência, apesar de ter quase trezentas páginas, não dá grandes explicações sobre as razões do inesperado triunfo de FdI, pelo menos explicações sistemáticas, a não ser a da promoção de uma política centrada na líder e nas suas qualidades pessoais, na fabulação da sua história pessoal, na força da personalização da política, na capacidade de conjugar a comunicação em todos os suportes hoje disponíveis (broadcasting e rede) e na centralidade da mulher, em todas as suas dimensões, com particular enfoque na maternidade, nas sociedades actuais. Mas eu creio que a atmosfera global tem vindo a favorecer o discurso dos populistas em geral (nos temas que acima referi), que o centro-esquerda e o centro-direita conhecem graves dificuldades de afirmação pela assunção sistemática da ideia de política como mera tecnogestão dos processos sociais e puro marketing e que a direita radical tem surfado com grande competência sobretudo a rede, sabiamente gerida pelos novos spin doctors 4.0, os “engenheiros do caos”, como lhes chama Giuliano da Empoli na obra com o mesmo nome (veja aqui o artigo meu artigo sobre “Os Novos Spins Doctors e o Populismo Digital”, em https://joaodealmeidasantos.com/2023/06/27/artigo-108/). E não tenho quaisquer dúvidas de que o tema da imigração tem movimentado um fortíssimo eleitorado à direita, tal como o combate sem tréguas que a direita radical tem vindo a dar à ideologia woke, à ideologia gender, ao politicamente correcto e ao revisionismo histórico. Objecto de particular atenção, no seu combate, as organizações LGBT e a caminhada impositiva da sua identidade e dos seus símbolos um pouco por todo o lado, incluindo as instituições públicas.
9.
Por tudo isto, eu creio que mais do que apontar o dedo e liquidar com uma palavra estes movimentos da direita radical, seguindo em frente na luta denodada por supostas causas identitárias e esgotando toda a estratégia nela, mesmo deixando cada vez mais na zona de sombra as clivagens mais profundas, transversais e universais, mais do que isso, é necessário compreender como se move o adversário, compreender as suas razões e sobretudo a razão dos seus sucessos eleitorais em países onde o voto é livre e democrático. Mas não, o snobismo intelectual é mais forte e a redução da política à mera tecnogestão dos processos sociais tem sido o alimento político preferido do centro-esquerda e do centro-direita, enquanto vão degustando com redobrado prazer ideológico os avanços desta nova tendência, supostamente de esquerda, para boa paz da sua consciência e do seu progressismo civilizacional. Já temos em Portugal uma lição suficientemente significativa (já vale cerca de 13%) que bastaria ter em consideração para mudar de rumo.
Finalmente, julgo não ser arriscado dizer que se a governação de Giorgia Meloni revelar uma boa performance (mas não falo aqui dos conteúdos), uma eficaz capacidade executiva, perdurando no mandato, isso representará um fortíssimo argumento que o populismo europeu exibirá perante os eleitores com vista à obtenção de condições para governar. Ou seja, a tarefa de Giorgia Meloni ganha, por esta razão, uma dimensão que ultrapassa de longe o plano nacional italiano. A ver vamos. JAS@07-2023

TRÊS ANDAMENTOS PARA UMA PERSONAGEM
BENITO MUSSOLINI
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 07-2023
ESTE LIVRO que aqui analiso é um longo, digamos, romance histórico de Antonio SCURATI, fundado em factos reais e publicado entre 2018 e 2022, em três volumes, sobre Mussolini e o fascismo: M – Il Figlio del Secolo (Milano, Bompiani, 2018; 848 pág.s); M – L’Uomo della Provvidenza (Milano, Bompiani, 2020; 647 pág.s) e M – Gli Ultimi Giorni dell’Europa (Milano, Bompiani, 2022; 427 pág.s). No total, 1922 páginas na edição italiana (mas todos eles estão já traduzidos em português). O último volume talvez seja o menos interessante, termina no início da segunda guerra mundial, em 1940, e tem como co-protagonista, além, claro, de Mussolini e de Hitler, Galeazzo Ciano, o famoso Ministro dos Negócios Estrangeiros, o “Genro de Regime”, como, entre outros sarcásticos apelidos, o Autor o vai, seguindo a má-língua italiana da época, identificando (2022: 198).
1.
O primeiro volume, M – O Filho do Século, é uma longa, minuciosa e atraente narrativa sobre o nascimento e a escalada do fascismo italiano, de 1919 até 1924, fundados na violência física sistemática e difusa dos “squadristi”, e sobre a forma como Benito Mussolini, por entre altos e baixos, a foi gerindo até à subida ao Quirinale e à sua indigitação e nomeação, pelo Rei Vittorio Emanuele III, como Presidente do Conselho de Ministros, em finais de 1922. O livro apresenta a esquerda socialista, no biénio “vermelho” (1919-1920), período pós-revolução russa, como inconsequente e indecisa, relativamente à tomada do poder, e fraccionada, sobretudo entre reformistas e maximalistas, o que levaria a duas importantes e irreversíveis cisões: por um lado, à formação do Partido Comunista (em 1921) e, por outro, à criação do Partido Socialista Unitário, de Giacomo Matteotti.
Os “squadristi”, no início, eram sobretudo ex-combatentes da I Guerra e tinham por lema a violência e a “Lei de Talião”, elevada à máxima potência e com grande e cruel profissionalismo, derivado da experiência de guerra. Morre um dos nossos, mato cinco dos deles – era esta a filosofia. Mas a escalada progressiva dos “squadristi” só foi possível pela complacência do poder liberal instalado e pelo apoio dos grandes agrários, estando generalizado o medo de assalto dos socialistas ao poder, até pela sua expressão eleitoral e a grande força parlamentar. Fortes no Parlamento e ousados nas ruas e nas greves, mas incapazes de se decidirem pelo assalto ao poder, como, pelo contrário, acontecera na Hungria com a curtíssima experiência de Béla Kun, os socialistas, todavia, eram vistos como os principais inimigos da monarquia constitucional liberal italiana.
Scurati traça as grandes linhas da doutrina fascista, ancorada na violência dos “squadristi” e no carisma do Duce, fino jogador na alternância táctica entre “a cenoura e o bastão”, num jogo duplo com que sabia desarmar os adversários, para os aniquilar. Pelo meio, governos liberais incapazes de lidar com o fenómeno, ou mesmo tolerando-o demasiadamente, qual indigesto remédio para salvar o poder das garras dos socialistas. Incluídos os governos do velho Giovanni Giolitti, político sobrevivente até ao fim do Parlamento, ainda que, precisamente neste período, entre Fevereiro e Outubro de 1922, o Presidente do Conselho de Ministros fosse Luigi Facta. Pelo meio, o Poeta Gabriele d’Annunzio e as suas bravatas guerreiras e poéticas, os seus vícios sexuais e a retórica gongórica, o seu ritualismo desbragado, a sua loucura e o seu activismo voluntarista, incluída a conquista e o governo de Fiume.
A cena é dominada, da primeira à última página, pelo triunfo da violência e culminará no assassinato de Giacomo Matteotti, em 1924, o que abalará momentaneamente o regime fascista.
2.
A exaltação da guerra e da violência (teorizada, de resto, por um influente intelectual e político francês, Georges Sorel, sobretudo em Réflexions sur la Violence, de 1908) conhecerá uma sua expressão cultural no futurismo de Marinetti (o Manifesto Futurista é de 1909 e o seu fundador alistou-se no movimento fascista, pretendendo fazer dele a continuação do futurismo), até certo ponto subalternizado pela intervenção da sofisticada e influente amante de Mussolini, Margherita Sarfatti, pretensa “ditadora das artes”, por delegação do Duce, e objecto de ódios culturais não muito disfarçados, mas contidos, pela sua proximidade a Mussolini. Curiosa experiência de uma personagem rude, grosseira e pouco dada às artes, como era o Duce. A Sarfatti foi, durante algum tempo, a sua montra cultural, entre outras coisas mais prosaicas.
A personagem Mussolini surge muito bem delineada ao longo do livro, desde as suas irreprimíveis pulsões sexuais, as suas inúmeras amantes, dentre as quais se distingue precisamente Margherita Sarfatti, a sua sofisticada “educadora”, até à imolação dramática pela Nação, desde um abundante uso instrumental da violência pelos seus implacáveis e imparáveis “squadristi” até à sua pública condenação para puro uso político, para consumo da opinião pública. Mas a violência, que foi a sua arma fundamental para a conquista do poder, no seu discurso oficial era tão-só um recurso de última ratio, uma mera resposta, ainda que dura e violenta, às agressões dos socialistas e dos anarco-sindicalistas. Mas não. Na verdade, essa era a sua verdadeira filosofia, a que decorria da assunção privilegiada da relação amigo-inimigo como centro da acção política, como se iria ver no futuro. “Quem não está connosco, é contra nós”, contra o fascismo, e deve ser esmagado. Grandes intelectuais italianos como Benedetto Croce, Vilfredo Pareto, Luigi Pirandello ou Toscanini estiveram com ele e ao lado do seu Ministro da Educação, o filósofo hegeliano do regime, Giovanni Gentile. A posição do rei Vittorio Emanuele III também é clara – recusa-se a proclamar, não aceitando a posição (unânime) do Conselho de Ministros, o estado de sítio, quando já eram claras as movimentações no terreno para a “Marcha sobre Roma”. O livro conta ainda o primeiro ano de governo e as contradições internas do aparelho fascista, designadamente as tensões internas entre o próprio Mussolini e a máquina “squadrista” e seus chefes.
3.
O segundo volume, M – O Homem da Providência, que vai de 1925 a 1932, conta, em 647 páginas, a consolidação do regime, a evolução para a ditadura (com pretensões totalitárias: construir o italiano fascista) e sobretudo o poder unipessoal de Mussolini, com a subordinação total do partido ao Estado fascista e ao Duce. O livro relata não só a anulação da oposição, com a prisão dos seus dirigentes e a redução do Parlamento a uma instituição exclusivamente fascista, mas também as lutas internas no poder, designadamente no Partido Nacional Fascista, a ascensão e queda dos principais dirigentes e a progressiva solidão de Benito Mussolini. Muitas páginas são também dedicadas à presença de Itália no Norte de África, às campanhas na Líbia.
4.
O terceiro volume, M – Os Últimos Dias da Europa, que vai de 1938 a 1940, no essencial conta o período que antecede imediatamente a segunda guerra mundial e o seu início, já com a invasão da França. Tudo começou com a Anschluss, a anexação da Áustria, o encenado (por Hitler, com a ajuda de Mussolini, o aparente e enganado mediador) encontro de Munique e a invasão da Checoslováquia, a pretexto da questão dos Sudetas, o Pacto Ribbentrop-Molotov, a invasão da Polónia e, finalmente, a invasão da frente ocidental, que terminaria com a ocupação da França. Na verdade, o essencial do volume é dedicado às relações entre Mussolini e Hitler, com especial destaque para o papel desempenhado pelo “Genro de Regime” ou “Genríssimo”, conde Galeazzo Ciano, Ministro dos Negócios Estrangeiros, casado com a filha preferida de Mussolini, Edda Mussolini, a “Filha do Regime”. Pelo meio, fala-se da progressão da política anti-semita (para agradar aos alemães) até à lei radical contra os judeus, da ocupação da Albânia, da Itália como potência imperial, de Clara Petacci, a sua jovem e eterna amante (sobretudo desde 1936, com 24 anos, mas talvez já desde 1932 ou 1933), das relações fracassadas entre Edda e Galeazzo, só mantidas por Edda ser o “seguro vitalício” (2022: 245) do marido. Mussolini e a Itália saem da narrativa muito mal, mostrando o autor a pouca fiabilidade das posições de Mussolini perante um Hitler que, apesar de ter sido assinado um “Tratado de Aço” entre os dois países, só informava aquele depois das decisões de guerra tomadas e postas em andamento no terreno. Mostra também a absoluta impreparação de Itália para a guerra em termos de meios bélicos ao dispor das suas forças armadas e sobretudo o oportunismo de um Mussolini que só declarou guerra à França e ao Reino Unido depois de estar convencido de que a guerra já estaria praticamente ganha pela Alemanha. Personagem sempre presente na narrativa, até pelas funções que desempenhava, o Ministro Ciano, pretendente à sucessão do sogro, seu despudorado e ridículo, mas também algo hipócrita, imitador, é tratado causticamente pelo autor. Vejamos somente uma curta passagem muito ilustrativa, a propósito de um seu discurso no Parlamento (Montecitorio): “Galeazzo Ciano può, ora, tenere il proprio ‘grandioso discorso’ a celebrazione delle imprese del suocero dopo aver ricevuto la parola da sua padre (Presidente da Câmara dos Deputados) e sotto lo sguardo vigile di sua moglie”, aqui também retratada como “Mussolini con l’utero” (2022: 198). Em suma, um “filho de família”. Galeazzo Ciano, de qualquer modo, foi uma personagem importante não só no xadrez da política internacional levada a cabo pela Itália, mas também na própria política italiana, a ponto de, em finais de 1939, ter sido constituído um governo que viria a ser apelidado, pela influência que ele teve na sua formação e na liderança do Partido Nacional Fascista, “Gabinete Ciano”. O desembarque das forças aliadas na Sicília viriam, como se sabe, iniciar o rápido processo de desagregação do poder fascista e levar, já em 1943, à constituição, sob protecção alemã, da famosa Repubblica di Salò, na região centro-norte de Itália, com uma constituição feita à medida de Mussolini. Veja-se, por exemplo, o artigo 11 (Capo II: La struttura dello Stato): “Sono organi supremi della Nazione: il Popolo e il Duce della Repubblica”. Populismo puro – o povo e o seu líder.
5.
Este livro é um “romance” histórico, mas pouco romanceado (sobretudo o terceiro volume), baseado em factos, personagens e documentos reais: “non è il romanzo qui a inseguire la storia, ma la storia a farsi romanzo”, diz o autor logo na primeira página do terceiro volume. Dá a sensação que o autor lhe chamou romance para poder descrever minuciosamente com maior liberdade o real ambiente em que nasceu, cresceu, se consolidou e caminhou para o fim o regime fascista, de 1919 a 1924, de 1925 a 1932 e de 1938 a 1940, sem ter de se preocupar com as regras rígidas da historiografia, mas tão-só com a correcção dos dados utilizados. Pôde, deste modo, traçar, de forma literariamente muito sofisticada e até exuberante, do primeiro ao último volume, o ambiente que se viveu naqueles tempos do primeiro pós-guerra, tempo do pós-revolução russa até à segunda guerra mundial. Mas é no primeiro volume que melhor podemos “visualizar” o ambiente de violência exasperada que foi sendo criado pela tensão entre o extremismo de esquerda e o extremismo “squadrista”, perante a passividade e até a cumplicidade objectiva dos governos liberais e do próprio rei. O segundo volume é dedicado à progressiva fascistização do país, à supressão das liberdades, a uma violência física, real, mas já não tão intensa, até para que o regime se pudesse credibilizar, à produção de legislação que foi introduzindo a lenta sobreposição de uma lógica de polícia às movimentações aleatórias e difusas do “squadrismo”, à sua absorção nas estruturas do Estado, à divinização do todo-poderoso Duce e à criação de um tribunal especial para julgar os crimes de natureza política e de desvio ideológico. António Gramsci viria a ser julgado por este Tribunal especial, onde o procurador Michele Isgrò declarou que “devemos impedir este cérebro de funcionar durante vinte anos”. Morreu na prisão, mas o seu cérebro funcionou de forma tão brilhante (o que se vê, por exemplo, nos famosos “Quaderni del Carcere”, parte importante da sua vasta obra) que ainda hoje é um dos mais conhecidos e seguidos intelectuais italianos de sempre, muito em particular na América Latina (sobre Gramsci, veja o meu O Princípio da Hegemonia em Gramsci, Lisboa, Vega, 1986).
6.
Assistimos também às guerras fratricidas entre os dirigentes das “camicie nere”, que acabam por liquidar grande parte deles, à vistosa excepção de Roberto Farinacci (licenciado em direito com uma tese plagiada), “squadrista” temido por Mussolini e líder da facção dos intransigentes e duríssimos do fascismo, que consegue resistir a todas as investidas para o liquidar. Neste volume, o Duce acaba numa grande solidão, sobretudo após a morte do irmão e confidente Arnaldo Mussolini e a desgraça de inúmeros e fiéis seus colaboradores, vítimas directas das guerras intestinas e dos interesses instalados e resultantes da governação fascista. Até a relação com a sua sofisticada amante e inspiradora Margherita Sarfatti – objecto de atenção do autor também no terceiro volume, sendo ela judia, e a propósito das leis contra os judeus – acaba, sendo muito expressiva a cena em que a senhora aguarda na antecâmara de Palazzo Venezia, em Roma, duas horas para ser recebida por Mussolini, que está só no seu imenso gabinete e se recusa a recebê-la, sem, todavia, sequer lho dizer pessoalmente ou, pelo menos, por intermédio do seu fiel secretário Quinto Navarra.
7.
A lógica do processo de ascensão e queda dos protagonistas do regime e a posição do Duce neste processo é de manual: Mussolini distancia-se, deixa friamente que a relação de forças se consume e saia vencedor o que maior capacidade de luta revelar, independentemente das lealdades pessoais. De resto, o poder está cada vez mais no Estado e nele próprio e cada vez menos no Partido Nacional Fascista e no seu “Gran Consiglio del Fascismo”.
8.
O que o terceiro volume mostra é o começo do fim de Mussolini, ao entrar na guerra ao lado da Alemanha e sobretudo o modo como entrou, tendo em consideração a fraqueza militar em que se encontrava o regime, amplamente demonstrada no volume, e a sua ondulação oportunista nas relações internacionais e também na relação com o próprio aliado alemão, que, de resto, progressivamente foi deixando de o levar a sério, mantendo as relações somente por oportunidade política e para que a Alemanha pudesse exibir um aliado político importante. Este volume termina em 1940, não contando, portanto a evolução da posição da Itália durante a guerra. O que, entretanto, sabemos, é que, em 1943, Mussolini funda, no Centro-Norte, a Repubblica Sociale Italiana, a Repubblica di Salò, na zona ainda controlada pelos alemães. Sabemos também que, em Janeiro de 1944, Galeazzo Ciano é fuzilado em Verona, em território da RSI, para onde os alemães o tinham devolvido (da Alemanha, onde se encontrava) e que, em Abril de 1945, o corpo de Mussolini e o de Clara Petacci são exibidos, já sem vida, no Piazzale Loreto, em Milão. Tinham sido fuzilados no dia anterior, 28 de Abril, em Giulino di Mezzegra.
9.
Três longos volumes muito bem escritos, num italiano sofisticado e muito rico, por um autor da área da literatura, já com inúmeros prémios literários conquistados por outras obras.
10.
Tendo eu estudado, por motivos profissionais, designadamente quando estava a investigar, no Instituto Gramsci, em Roma, a obra de Antonio Gramsci, líder do PCI e vítima do fascismo (morre na cadeia em 1937), este período da história italiana, esta obra veio confirmar ao detalhe aquilo que eu julgava já saber – a violência difusa e progressiva como centro da acção política e assumida como princípio purificador, tal como a guerra (de resto, cantada pelos futuristas), onde a relação amigo-inimigo substitui a relação entre adversários. A Itália dos “squadristi” foi isso mesmo e levaria à conquista do poder. O que se passou em Itália não passaria despercebido a Hitler, que recolheu com sucesso a experiência de Itália para avançar num processo que todos bem conhecemos. Até ao desastre final, com a Europa completamente destruída e com o fim físico dos dois ditadores, um assassinado e o outro suicidado. O segundo volume termina precisamente em 1932, o ano em que Hitler obtém a maioria dos sufrágios em eleições legislativas e se prepara para dar o assalto decisivo ao poder. Também aqui o culto da violência, o carisma e o organicismo do regime são os elementos centrais que determinam a acção política. No terceiro volume, já vamos encontrar a Alemanha em fase de preparação para a guerra com uma Itália impreparada para fazer aquilo que foi assumindo com Hitler ao longo dos anos de convergência política dos regimes, sendo certo que este acabaria, no plano do exercício do poder absoluto e violento, por superar o seu mestre, Benito Mussolini, no qual, de resto, acabou por não reconhecer fiabilidade, tudo terminando, afinal, com a Itália a ser um território tutelado, ocupado e defendido pelo exército alemão. Até à derrota final. #Jas@07-2023.

OS NOVOS “SPIN DOCTORS”
E o Populismo Digital
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 06-2023
“PERO QUE LOS HAY, HAY”, é o que apetece dizer quando assistimos às grandes viragens eleitorais, muitas vezes inesperadas, na política democrática. Artífices do consenso digital – é a eles que me refiro. Os que tendo meios e recursos financeiros à sua disposição conseguem atrair os eleitores a um discurso político. São os spin doctors. Famosos ficaram, na era dos media tradicionais, entre outros, Karl Rove (George W. Bush), Alastair Campbell (Tony Blair), Roger Ailes (Nixon, George Bush, Jacques Chirac). A velha guarda. Mas, na era da Internet, temos outros spin doctors, já famosos,: Steve Bannon (Brexit/Trump), Gianroberto Casaleggio (MoVimento5Stelle), Arthur Finkelstein (Viktor Orbán), Luca Morisi (Matteo Salvini/Lega), Milo Yannopoulos (Bannon/Trump), Dominic Cummings (Brexit). A diferença entre uns, a velha guarda, e outros, os novos, poderia ser traduzida de forma simples: os primeiros funcionam com uma lógica centrípeta e niveladora e os segundos com uma lógica centrífuga e relacional. Uns são os magos do broadcasting; os outros são os magos da rede. E estes são, como diz, Giuliano da Empoli, os “Engenheiros do Caos”. Uma expressão que sublinha o triunfo dos físicos sobre os cientistas sociais e os politólogos, esses treinadores de bancada (estou a pensar em Portugal) que cada vez mais sabem menos daquilo que é suposto saberem. Esta é a tese de Giuliano da Empoli.
1.
O livro de Empoli, Os Engenheiros do Caos (Lisboa, Gradiva, 2023), é interessante e procura entrar a fundo neste universo dos novos spin doctors, precisamente para saber como funciona a nova direita populista, a do populismo digital, que um outro italiano, Mauro Barberis, analisa também num também interessante livro: Populismo Digitale. Come Internet sta uccidendo la democrazia (Milano, Chiarelettere, 2020). Conjugando o que se diz nos dois livros até se pode perceber como é que a rede pode destruir a democracia, precisamente através do populismo digital da direita radical, da direita iliberal. Um, Empoli, explica, talvez melhor do que o outro, Barberis, o que este último insinua: a tese da evanescência digital da democracia representativa. É navegando com competência na raiva e no ressentimento difusos que os populistas digitais conseguem unir extremos para chegar eleitoralmente ao poder. E, chegando lá, não só não devolvem o poder ao povo como começam a minar aquilo que Barberis designa como instituições contra-maioritárias: a presidência da república, o poder judicial e os mass media. Para lá chegarem, ao poder, fazem o contrário do que faziam os antigos spin doctors, ou seja, não procuram as massas indiferenciadas, o mínimo denominador comum, para chegar à maioria, isto é, ao poder. Aqueles, os novos spin doctors, o que produzem, segundo Barberis, é um curto-circuito entre instituições e media (2020: 38, 164; e passim). Empoli mostra a novidade: eles introduzem, por vias muito diferentes, e com poder disruptivo, o anónimo individual entre as instituições e os media, provocando um curto-circuito. Eles dirigem-se àquele que não sabe o que o vizinho pensa acerca do mesmo assunto; àquele que, com um smarphone na mão, se liga directamente ao mundo, sem mediações; àquele que recebe informação, mas que também a envia – tudo em ambiente silencioso, subliminar, subterrâneo.
2.
Digamo-lo com Barberis:
“A mobilização de massas típica dos regimes totalitários teria sido impossível sem a rádio; a política actual seria impensável sem a televisão. Mas a política populista faz-se com os smartphones, dando a todos a ilusão de poderem influir na política. Outros chamam-na desintermediação. Eu chamo-o curto-circuito entre instituições e media” (2020: 38).
Vale a pena sublinhar esta ideia de curto-circuito, não exactamente como o autor o descreve (ou seja, como transferência do discurso institucional para as redes sociais, por exemplo, para o twitter), mas no sentido em que, de facto, os smartphones o provocam, precisamente como desintermediação: em relação aos media, porque o principal veículo de informação deixa de ser os media e passa a ser o smartphone, acabando com o seu monopólio de intermediação; em relação às instituições porque a possibilidade de se publicar, difundir e até deliberar directamente (como se verificava, até 2021, no M5S, através da Plataforma Rousseau) confere aparência de intervenção na realidade e de efectiva participação no poder. Ora acontece que: 1) a informação que circula na rede não é, à partida, informação certificada, dependendo integralmente da capacidade selectiva do utilizador e de distanciação subjectiva das constantes propostas dos algoritmos; 2) a difusão da própria produção é sempre limitada (até pelos critérios da própria rede social utilizada e pelo valor intrínseco do produto) se não dispuser de sofisticados instrumentos de intervenção na rede e de uso das TIC; 3) a deliberação numa plataforma digital até ser (se for) transformada em decisão sofre várias mediações. Tomemos o caso do M5S e da Plataforma Rousseau (que deixou o M5S, em 2021): a instrução seguia para o grupo parlamentar, que a devia obrigatoriamente operacionalizar e submeter ao Parlamento, a instância final de decisão. Também aqui a deliberação sofria várias mediações, isto para não referir o próprio processo de selecção das propostas de deliberação que chegavam, pela mesma via, aos users militantes.
3.
Na verdade, a rede só funciona em reprodução alargada e em progressiva expansão se for utilizada de forma sofisticada por empresas especializadas, com especialistas e avultados recursos, como tem vindo a acontecer. E é um vasto espaço intermédio onde o que acontece é a deliberação, não a decisão, que continua sujeita aos detentores formais do poder. Mas a verdade é que o curto-circuito entre instituições e media realmente acontece porque emerge um meio de intervenção directa que se substitui à intermediação quer no plano comunicacional (imprensa, rádio, televisão) quer no plano institucional, dando directo (mas não total, como vimos) poder aos users sobre as instituições (tal era a relação entre a Plataforma Rousseau e os Grupos Parlamentares do M5S, na Câmara dos Deputados e no Senado). Na verdade, o processo de desintermediação funciona, de facto, como um curto-circuito, embora não produza um apagão total, uma vez que as plataformas tradicionais e as instituições continuam a funcionar.
4.
Os populistas digitais vão, através do algoritmo, dos big data e do marketing 4.0, às consciências individuais, navegando precisamente na diferença, referida aos indivíduos singulares, neste caso, os users, que já se confundem com a maioria da população mundial. Não funcionam, pois, com a lógica do broadcasting. O Castells já tinha, em 2007, em Communication, Power and Counter-Power in the Network Society, caracterizando muito bem esta mecânica, conceptualizando-a: mass-self communication. Comunicação individual de massas. Política quântica, dirá Empoli, por oposição a política newtoniana. Claríssima a distinção. Empoli faz uma injunção interessante no mundo quântico para concluir simplesmente que o segredo reside não nos elementos individuais (enquanto entes independentes regulados pela lógica racional da relação causa-efeito), mas nas interacções, lá onde o observador, com o próprio acto da observação, as modifica. O algoritmo “observa” e age alterando as interacções. É aqui que reside o segredo e é aqui que começa a superioridade dos físicos em relação aos cientistas sociais e aos politólogos. E é neste mundo que se movimentam os populistas digitais, a um ponto tal que leva Barberis a dizer que “a tese deste livro é que, sem internet e smartphones, a onda populista no Ocidente, e onde a web não seja controlada pelos governos, não seria explicável” (2020: 156).
5.
Tudo parece ser muito claro: trata-se de uma mudança de paradigma que tem vindo a ser compreendida e usada com mais competência pela direita radical, pelos populistas digitais, do que pela camomila centrista do centro-direita e do centro-esquerda, que ainda continua a mover-se no interior da “democracia do público”, ou seja, no interior do paradigma anterior. Estes dois livros explicam exaustivamente e de forma muito clara o que está a acontecer. Mas uma questão permanece um pouco confusa: podem os partidos reformistas (de direita e de esquerda) agir no interior do mesmo universo em que intervém o populismo digital? Agir nesse mundo onde a categoria dominante é a do negativo, a da cólera, do ressentimento, do insulto, da mentira, das fake news, do racismo, da anti-imigração? Mas, afinal, não funcionam as próprias televisões cada vez mais, numa tabloidização progressiva, com esta categoria do negativo (good news, no news), na procura desesperada de audiências? Empoli dedica muitas páginas ao longo do livro (2023: 160, 184-85; e passim) a mostrar o poder de atracção do negativo (o mesmo poder que, afinal, anima o tabloidismo mediático e político) e tudo parece conduzir-nos a considerar que, neste aspecto, os populistas estão em vantagem relativamente às forças moderadas. Este é o terreno que lhes é afim.
6.
É claro também que as televisões continuam a ter um grande peso na opinião pública, ao mesmo tempo que a “democracia do público”, ou “da opinião”, se mantém viva (tal como na física o paradigma newtoniano se mantém válido, mesmo após a revolução quântica), mas o seu funcionamento é completamente diferente do funcionamento da rede e das redes sociais. Elas, televisão e rede, convivem numa mesma pessoa e até num mesmo espaço digital. Mas os que vêem televisão são os mesmos que usam o smartphone? Só em parte, porque, por exemplo, os jovens estão cada vez mais na rede e menos na televisão. Mas a verdade é que elas não funcionam do mesmo modo. Qual é a mais usada? E a mais eficiente? E qual tem mais poder sobre o respectivo utilizador? Talvez as características da rede e da sua dinâmica, sobretudo a do feedback do algoritmo e do marketing 4.0, a tornem mais eficiente e poderosa. Mas também é verdade que há uma lei que um dia, em 1890, um genial sociólogo francês, Gabriel Tarde, formulou: a lei da imitação (Tarde, G., Les Lois de l’Imitation, Paris, Kimé, 1993). A imitação era para Tarde o princípio constitutivo das comunidades humanas, o “acto social elementar”, “a alma elementar da vida social” – a sociedade como uma comunidade nivelada de indivíduos que “se imitam entre eles”. E o modelo era o do “one-to-many”, para usar a fórmula de Castells. Movimento centrípeto e nivelamento geral mediante imitação, com uma importante função desempenhada pelos estereótipos (diria mais tarde, nos anos vinte, Walter Lippmann). Este é o modelo que corresponde ao mundo do marketing clássico, à comunicação por grandes targets, à lógica do mínimo denominador comum. Aqui o broadcasting revela-se fundamental enquanto tende a universalizar estereótipos que depois são imitados e reproduzidos, de acordo com esta lei social, a lei da imitação. Neste sentido, a mass communication é sempre mais eficaz, produzindo melhores resultados no processo de reprodução alargada da imitação. Sem dúvida. Mas a verdade é que, mesmo assim, há um outro e imenso mundo subterrâneo, individualizado, pessoal, que hoje é acessível em massa e directamente graças às novas tecnologias da comunicação, à rede, às TIC, às redes sociais – mass-self communication. Um plano de maior proximidade ao sujeito individual que se confunde com o poder de livre e proactiva autodeterminação e, por isso, mais eficaz. Sim, é verdade, os dois planos mantêm-se. E não é por acaso que mesmo os que se concentram na rede não deixam de investir também no broadcasting, no one-to-many, na verticalização e hierarquização da comunicação. Barack Obama representou, até então, 2008, a maior e mais competente campanha presidencial centrada na rede (ajudado, entre outros, pelo co-fundador do Facebook, Chris Hughes e por Joe Rospars, o estratega de Howard Dean), mas não descurou também este plano de comunicação. Num só spot televisivo de meia hora, passado na CBS, FOX e NBC, investiu cerca de 5 milhões de dólares (sobre a campanha de Obama, veja Castells, M., Comunicación y Poder, Madrid, Alianza, 2009, pp. 473-530). Mas isto passou-se há quinze anos. Entretanto, emergiu com o vigor que conhecemos a política quântica, e não só nos Estados Unidos.
7.
Hoje, de facto, com o populismo digital, já não estamos, em termos de relação com o eleitor, somente perante um movimento nivelador a partir de cima, one-to-many, broadcasting, dirigido a massas indiferenciadas, mas também, ou sobretudo, perante a possibilidade de uma gigantesca agregação de elementos isolados (users) que vivem na própria bolha e dela não saem, mas que são altamente acessíveis, sensíveis e previsíveis pelas novas tecnologias. A Google foi a grande pioneira nesta operação da previsão comportamental. E a esta função, a da previsibilidade dos comportamentos, são associados por Shoshana Zuboff, em “A Era do Capitalismo da Vigilância” (Lisboa, Relógio d’Água, 2020), conceitos como “produtos preditivos” ou “mercados de futuros comportamentais”: “a dinâmica competitiva destes novos mercados”, diz ela, “incentiva os capitalistas da vigilância a adquirirem fontes progressivamente mais previsíveis de excedente comportamental: as nossas vozes, as nossas personalidades e emoções” (2020: 22; 116). E como? “A inteligência automática processa o excedente comportamental e transforma-o em produtos preditivos dedicados a prever o que sentiremos, pensaremos e faremos, agora, em breve, mais tarde” (2020: 116; veja tb. 215). Um trabalho desenvolvido por cientistas e pela inteligência artificial sobre a nossa vida na rede com vista ao desenho do nosso próprio perfil. Perfil que serve a publicidade e que pode também servir a política, o mercado eleitoral, como se compreende e como se tem vindo a verificar (veja-se, por exemplo, o caso da Cambridge Analytica).
8.
Empoli refere Foucault para dizer que “a multidão, a massa compacta, foi abolida em prol de uma reunião de indivíduos separados, cada um dos quais pode ser seguido nos mínimos detalhes” (2023: 153). Seguido pelo algoritmo em função do perfil desenhado a partir da sua vida on line. Um mundo subterrâneo que fica armazenado nas grandes plataformas que vendem “produtos preditivos” às grandes empresas ou às forças políticas. Algo totalmente diferente do velho mundo das sondagens ou dos estudos de opinião. É assim que funciona a chamada política quântica: “na política quântica, a versão do mundo que cada um de nós vê é literalmente invisível aos olhos dos outros”, “a realidade objectiva não existe”, pois “cada observador determina a própria realidade” (Empoli, 2023: 170-171), haja ou não esse “Grande Outro” que nos pilote, nos guie, nos “confirme”, nos condicione, e ao qual se refere criticamente a Zuboff, tendo como referência o “Capitalismo da Vigilância” (Zuboff, 2020: 551-585). E é mesmo nesta relação directa do user com o mundo através da tecnologia digital, no interior da qual se processam novas relações de poder e onde o populismo digital explora politicamente o isolamento e as pulsões negativas dos indivíduos, accionando narrativas ao serviço da conquista do poder formal, que deixa de fazer sentido a própria ideia de intermediação e, por isso, entra também em crise a ideia de representação, verificando-se, então, esse curto-circuito disruptivo entre instituições e media (no sentido que referi), quando é subalternizada essa dupla face do poder (instituições, de um lado, e media, do outro):
“Na era do narcisismo de massas, a democracia representativa corre o risco de se encontrar mais ou menos na mesma situação que os gatos pretos” (que ninguém quer). “Com efeito, o seu princípio fundamental, a intermediação, contrasta de maneira radical com o espírito dos tempos e com as novas tecnologias que tornam possível a desintermediação em todos os domínios” (Empoli, 2023: 163).
9.
O populismo digital encontra, pois, aqui o seu terreno de culto: os cidadãos julgam participar directamente na gestão do poder, eliminando a intermediação, a representação, sem se darem conta de que estão a viver num território que pode ser muito mal frequentado, não só como território de exploração comercial, através de extracção de “excedente comportamental” para fins publicitários, mas (o que é mais grave) também como meio puramente instrumental ao serviço da conquista do poder político. Não é, pois, de estranhar que, tal como a democracia representativa está a pagar o preço desta tendência (fala-se frequentemente de democracia pós-representativa, quando ela nem sequer atingiu a maturidade, a democracia deliberativa), também o sistema de partidos esteja a sofrer o correspondente desgaste, a ponto de, referindo-se a um livro de Peter Mair, Jan-Werner Mueller, em What is Populism?, de 2016 (Milano, Egea, 2023, 2.ª Edição), vir dizer que algo “está a desaparecer mesmo perante os nossos olhos: a democracia de partidos” (2023: 117). Ou seja, a que está ancorada na ideia de representação, de intermediação e de mass communication. A experiência do MoVimento5Stelle era nisso que assentava (hoje, com Giuseppe Conte, já é menos), ao transformar os deputados em meros agentes orgânicos do povo da rede, dos users militantes e da Plataforma Rousseau, gerida pela empresa privada de Gianroberto Casaleggio, um dos dois fundadores do M5S (o outro é Beppe Grillo). Na verdade, tratava-se de mera aparência pois o verdadeiro poder estava na empresa Casaleggio Associati e no uso controlado da sua base de dados (arduamente negociada quando Davide Casaleggio deixou o M5S). O populismo, seja ele digital ou não, é tão-só uma aparência de democracia directa, visto que o povo, sendo fonte de legitimidade, na verdade não governa. Como, aliás, acontece na democracia representativa. Só que aqui existe uma aparência de revogabilidade e de organicidade do mandato, enquanto na democracia representativa de matriz liberal o mandato não é orgânico e é irrevogável. O povo confere o mandato, mas deixa de o poder revogar. No populismo digital a revogabilidade está sempre presente (como ilusão, ou melhor, como referência ideal e como valor) e pode ser reivindicada (ainda que não prevista constitucionalmente) pela máquina de poder populista (como antes acontecia nas democracias populares, embora nestas com inscrição constitucional, e a cargo dos partidos únicos, não do povo). Na verdade, com o populismo digital esta aparente contradição é resolvida pela declaração política do carácter orgânico dos mandatos.
10.
Na verdade, no populismo digital também a vontade eleitoral é manipulada, não como acontecia na sociedade de massas, mas sim através da maquinaria digital. E, para regressar à Zuboff, através dos “produtos preditivos”, dos “futuros comportamentais”. Foi por isso que Christopher Wyle pôde proclamar a sua culpa “em directo perante o mundo inteiro”, confessando: “eu fiz eleger Trump com os meus algoritmos” (Empoli, 2023: 140). E é também por isso que Empoli pode dizer que “para os engenheiros do caos o populismo nasce da união da cólera” (da indignação, do medo, do preconceito) “com o algoritmo” (2023: 85). Ora aqui está uma resposta à questão que acima coloquei. É nestas águas que navega e triunfa o populismo digital. Na fusão produtiva e reprodutiva entre ressentimento e algoritmo. Mas a política que está ao serviço da cidadania não funciona com o motor do ódio, da cólera, do ressentimento. Se o fizer resvalará para fora da democracia, que é um lugar onde imperam (constitucionalmente) os valores e os direitos universais e onde o mandato é não-imperativo. Navegando nestas águas, o populismo digital comporta-se como se a sua fosse a lógica da relação amigo-inimigo e não a da relação entre adversários, no interior de um quadro com regras bem definidas, pelo menos desde Montesquieu. Dizem que o ambiente em que ocorre o populismo digital só pode ser o ambiente democrático, ainda que com desvios graves em relação às variáveis que integram o sistema. E é verdade que os populistas até acabaram por aceitar a representação política, preferindo concentrar-se no soberanismo, na rejeição tendencial da imigração e no combate ao politicamente correcto, à mundividência woke e à ideologia de género, ao mesmo tempo que se opõem à mundividência liberal e vão subvertendo os tradicionais mecanismos de controlo e de limitação do poder. Mas a verdade é que, mais subterraneamente, é neste território dos valores negativos, ou melhor, das pulsões negativas, que ele se move, usando sem limites o poder do algoritmo, o marketing 4.0 e a tecnologia preditiva do comportamento (eleitoral). Que o diga Steve Bannon.
11.
Não há dúvida de que estamos perante uma mudança de paradigma. Ao lado (e por dentro) dos media cresceram a rede e as redes sociais, tal como cresceu um vasto saber científico e tecnológico de aperfeiçoamento da inteligência artificial. É verdade: no smartphone concentra-se um poder excepcional do utilizador, pessoal, individual, multifunções. Um computador de bolso hoje absolutamente vulgarizado. Calculando muito por baixo, é possível dizer que, no mundo, em cada duas pessoas uma tem um smartphone. E o nível de comunicação individualizada pode ser verificado, por exemplo, quando alguém faz anos. Não exagerarei se disser que no dia do meu recente aniversário tive cerca de trezentas comunicações pessoais via Net sem contar com as que foram feitas no Facebook, mais de duzentas (nas diversas secções). É um mero exemplo aplicado a um simples cidadão. Imaginemos, então, grandes empresas a trabalhar com big data. Isso já aconteceu: no Reino Unido, nos USA, no Brasil, em Itália, por exemplo. São mensagens pessoalizadas, só conhecidas pelos próprios e organizadas em função dos perfis dos users, do identikit desenhado com base no uso diário da rede e trabalhadas pelos homens do marketing 4.0 para serem devolvidas individualmente através do algoritmo.
12.
Tudo isto é trabalhado pelos novos spin doctors digitais, como antes o foi pelos da era da mass communication, pelos ideólogos e pelos maîtres-à-penser. Já referi os seus nomes e os protagonistas políticos para quem trabalham com resultados que todos conhecemos e que estão descritos no livro de Giuliano da Empoli ou no de Mauro Barberis. Trata-se, todavia, de uma realidade que não tem sido devidamente analisada e tomada em consideração pelos partidos tradicionais. Por exemplo, a experiência de Berlusconi, ainda no paradigma anterior, é já muito elucidativa a este respeito: ele transpôs com sucesso para a política a lógica e os instrumentos que os seus canais televisivos usavam para atrair audiências. Os novos spin doctors do populismo digital pisam terreno afim, embora num modelo completamente diferente do modelo tradicional da mass-communication. O Giuliano da Empoli chama-lhe política quântica, diferente da política newtoniana – um paradigma que não anula o antigo, que continua válido se usadas as suas categorias, mas que tem um sistema operativo completamente diferente. E, todavia, os valores (não as categorias operativas) com que trabalha (no plano da sua comunicação política) são equivalentes àqueles com que trabalham as plataformas de comunicação clássicas (imprensa, rádio e televisão) – os valores negativos em todo e qualquer género de comunicação ou informação. Também há uma expressão para designar esta afinidade: política tablóide (claramente aplicável ao berlusconismo). Os modelos coexistem tal como coexistem os dois tipos de spin doctors, os mediáticos e os digitais. Mas que estamos perante uma mudança de paradigma semelhante à que aconteceu com a física determinista relativamente à física quântica parece não haver dúvidas. E, por isso, há que retirar daqui as devidas ilações. Talvez um estudo atento da campanha de Barack Obama de 2008 possa dar pistas interessantes para responder com sucesso aos spin doctors que estão a pilotar os populismos digitais um pouco por todo o lado. O Manuel Castells dá pistas interessantes sobre o assunto no livro Comunicación y Poder, que acima referi. JAS@06-2023

UMA PECADORA
Reflexões sobre a Arte a propósito de um Romance de Giovanni Verga
Por João de Almeida Santos
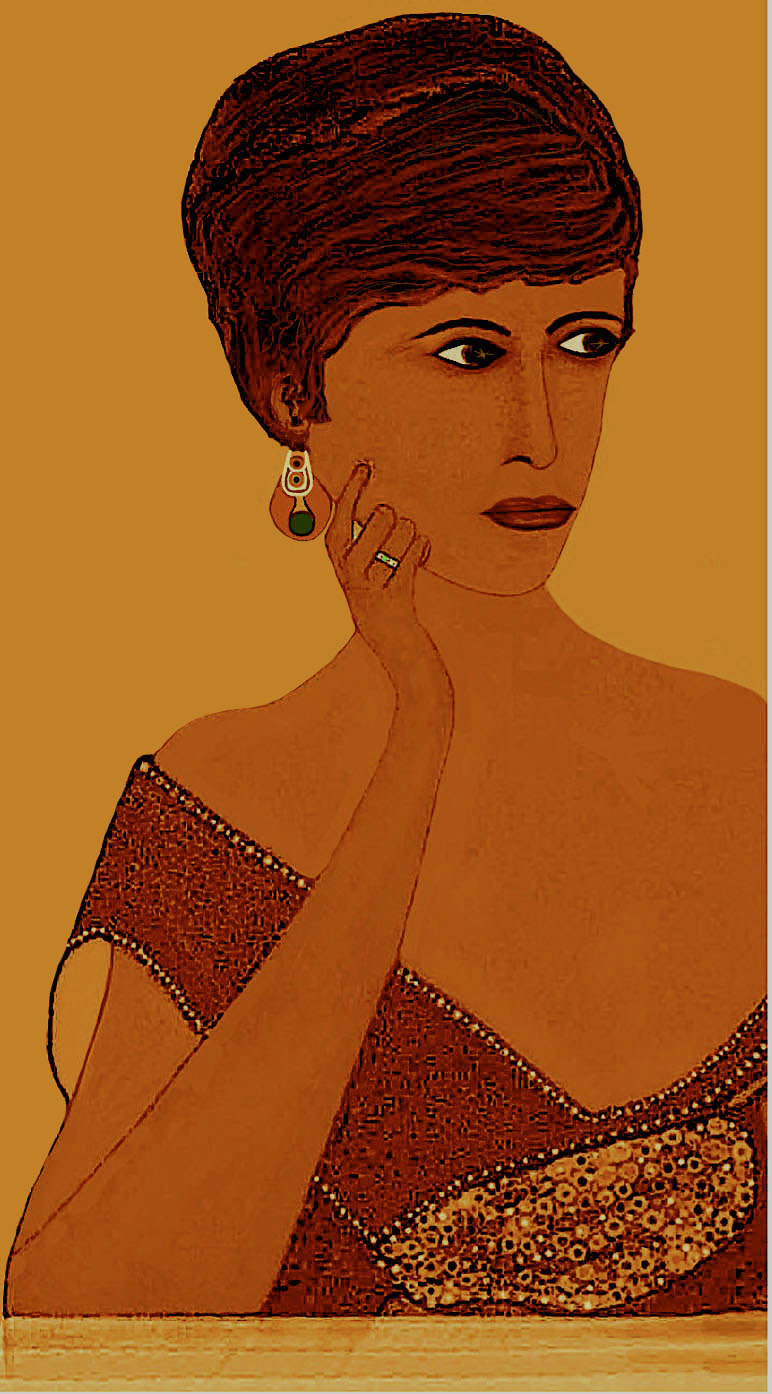
“S/Título”. JAS apud Klimt. 06-2023
“UNA PECCATRICE” é um romance do grande escritor italiano Giovanni Verga (1840-1922), natural de Catania (Sicilia), publicado em 1866, quando ele tinha apenas 26 anos. Um romance reconhecidamente com características autobiográficas. Trata-se de uma história de amor-paixão entre Pietro Brusio e Narcisa Valderi. Num primeiro momento, em Catania, Pietro, jovem estudante de direito, apaixona-se perdidamente por essa elegante e fascinante senhora de sociedade, aristocrata, mulher do Conde de Prato, Narcisa Valderi, de quem ele nunca pôde ou ousou aproximar-se, chegar à fala, mas de quem passou a seguir os passos dia e noite. Uma paixão que o atormentava ao limite da loucura e do abandono físico. A sedutora senhora, admirada e cortejada por muitos, apercebia-se vagamente da presença constante, e pouco dissimulada, do jovem estudante de direito. O romance dá, depois, um salto e já o vamos encontrar em Nápoles, escritor famoso e de sucesso com uma sua peça teatral, “Gilberto”, em exibição e repetidamente ovacionada pela aristocracia napoletana. Também Narcisa, que aí se encontra, vai ver o espectáculo teatral e acaba por reconhecer no autor, neste escritor de sucesso, o jovem de cuja paixão se dera conta, vagamente, ainda em Catania. A celebrada peça de teatro era, afinal, inspirada na vida desse jovem em Catania durante o sofrimento amoroso que a elegante senhora lhe provocara, sendo, pois, ela também personagem da peça (presume-se). Acabam por encontrar-se e, agora, é também ela a apaixonar-se perdidamente por Pietro Brusio, deixando o marido e indo viver com ele seis meses de intensa e ardente paixão. É então que, fruto dessa paixão doentia, de vida e morte, ela começa, obcecadamente e insistentemente, a interpelá-lo acerca do amor que ele ainda lhe tenha ou que já não lhe tenha. Uma dor lancinante que não a deixa em paz. Um massacre permanente e doentio. Então, ele acaba por reagir com dolorosa distanciação, o que acabará por levá-la, já destruída pelo ópio, à morte, nos seus braços. É esta, no essencial, a trama.
1.
O que me interessou particularmente neste romance foram duas coisas: 1. ser um romance, de um grande escritor, claramente autobiográfico, o que significa que haverá nele a transposição de concretas e profundas experiências de vida do autor (*); 2. terminar, já no fim da última página, com o autor a dizer o seguinte de Pietro Brusio:
“Le splendide promesse del suo ingegno, che l’amore di un giorno aveva elevato sino al genio nella sua anima fervente, erano cadute con quest’amore istesso. Pietro Brusio è meno di una mediocrità, che trascina la vita nel suo paese natale rimando qualche sterile verso per gli onomastici dei suoi parenti, e dissipando il più allegramente possibile lo scarso suo patrimonio. Misteri del cuore” (Verga, G., Una Peccatrice, Milano: Bompiani, 1988, pág. 106).
É claro que Verga reflecte a fundo, e em linguagem exuberante, sobre o curso temporalmente assimétrico do amor nos protagonistas, um, no princípio, e, o outro, no fim da narrativa. E sublinha a impossibilidade de viver exclusivamente no interior do círculo fechado do amor-paixão, o que, aqui, num caso, leva mesmo à morte, e, no outro, à distanciação fria e realista, embora ainda permeada de amor. Uma assimetria temporal no amor, com uma breve e intensa convergência (seis meses) no encontro arrebatado das duas personagens. Mas também a lei implacável do amor-paixão: a intensidade que queima e extingue, como a vela que arde e que sacrifica “o corpo para que a luz brilhe”(Thomas Mann/Goethe). É uma reflexão sobre o exacerbamento amoroso no homem e na mulher, cada um deles enquadrado pelo ambiente, pelo tempo e pela condição, e que resultará, por um lado, na espiral destrutiva desse progressivo fechamento, neste caso, na mulher; e, por outro, na saturação e na consequente distanciação afectiva até à inevitabilidade da ruptura, ou seja, na consumação do afecto.
2.
Mas o que para mim é mais interessante ainda é esta ligação entre o sucesso literário e a impossibilidade: a paixão impossível que o leva à sua transcrição/inscrição literária (neste caso, dramatúrgica), ao resgate, pela arte, dessa impossibilidade e desse sofrimento doloroso e radical que quase levou à loucura o agora autor da sua própria história. A cristalização (do amor) e a sublimação (pela arte) hão-de levá-lo ao sucesso, à fama, ao triunfo e até à concretização fatal do impossível sonho amoroso que vivera na sua cidade. E assim chegamos ao topo da narrativa, tendo como sequência a lenta distanciação afectiva de Piero Brusio, por saturação dessa tormentosa e constante espiral de paixão de Narcisa, que acabará como “borboleta ébria que sucumbe à chama”, para usar a imagem de Thomas Mann/Goethe em Lotte em Weimar, a obra de Mann que continua o Werther de Goethe. A conclusão, com Brusio já esgotado, por morte e ausência (afectiva) da pessoa (antes) amada, dessa paixão que o movera para o sucesso literário e a fama, é a de que, com o fim da pulsão amorosa, também o estro se esgotou, caindo ele na mais estéril mediocridade literária e numa rotina de fracasso e sem sentido. A pulsão amorosa insatisfeita que leva à obra de arte; a consumação, por posse total, que leva ao esgotamento do estro.
3.
O que aqui parece estar assinalado é esta ligação entre o poder estimulante do sentimento irrealizado e a escrita como resgate, como superior solução do fracasso ou da impossibilidade amorosa pela arte. O Cioran, por exemplo, revia-se plenamente numa poética do fracasso. E até mesmo, neste caso, a conversão do sucesso na arte em efémero e trágico sucesso na vida real, num eficaz, mas mortal, efeito de retorno sobre a génese infeliz e dolorosa do seu trajecto de vida. Um círculo que se completa e que tem como consequência o fim trágico dessa experiência de vida, com a dupla morte (física e afectiva) de um dos protagonistas, vítima de sentimento falhado. Mas fim pelo qual o próprio Brusio irá pagar um alto preço. Quando esta pulsão emocional que esteve duplamente na origem da obra de arte (como vivência real e como sua inscrição estética) se esgota, ela leva consigo o seu poder propulsor como estímulo criativo, anulando o estro, o impulso criativo e provocando também o próprio esgotamento estético.
4.
A última frase do romance é muito significativa, a este respeito: “Misteri del cuore”. Ou até poderia ser: “Miracoli del cuore”. Quando o coração não submerge totalmente a razão e esta aproveita o impulso da emoção para a projectar, elevando-a, sublimando-a, estamos perante a arte como sublime e superior solução de vida. Mas a lição de Verga (e creio que esta teria sido também a de Nietzsche, se aqui fosse chamado a pronunciar-se) é a de que, quando se esgota a dimensão dionisíaca, a emoção, o amor e o estremecimento já não acontece, então também se esgota a pulsão da criatividade. É preciso, pois, que não aconteça uma solução de continuidade radical para que o estro não esmoreça, que se fuja ao círculo mortal da rotina e ao fechamento obsessivo, mantendo viva essa distância ou esse intervalo (de que falava o Pessoa) que permitem um olhar sempre diferente sobre nós e sobre o que está perante nós, fisicamente ou na nossa própria memória viva. Que quem parte, como dizia Michelangelo a Gherardo Perini, seu amante, pela pena da Yourcenar, deixe sempre no artista uma inquietação, uma réstea de nostalgia viva, um sentimento sofrido de inacabado, de algo que ainda não se completou, não se consumou como fatal posse total… por habituação, por consumação, por rotina, mas não pela arte, a única possível, a única eterna.
5.
Esta relação está presente em muitos criadores, ao assumirem o fracasso ou a impossibilidade como forças propulsoras de uma solução, não como fuga, mas como integração superior da dor e da insuficiência experimentadas no real. Em todos eles a vida teve a sua conclusão na conversão estética do sempre inacabado, por fracasso, por impossibilidade ou por destino que os deuses ou os fantasmas lhes tenham traçado. A diferença, aqui, é a de que se verificou a consumação total da relação até à morte, nada deixando para trás de inacabado. Sucumbe a borboleta e consuma-se a vela e a luz. Fecha-se o círculo da paixão, encerra-se o círculo da criação e sobrevém a mediocridade por falta de estímulo e de pulsão criativa, de estremecimento ou de arrebatamento propulsor da criatividade (**).
NOTA 1
(*) “Si tratta di una storia in cui non è difficile ritrovare molti elementi autobiografici, tanto che Pietro Brusio, un giovane mediocre ma con grandi ambizioni, divorato da una passione accecante alimentata dai miti letterari, è stato visto come un vero e proprio alter ego dell’autore. La ‘peccatrice’, Narcisa Valderi, è invece tutto il contrario di Pietro-Verga: la descrizione della donna silfide e ammaliatrice nasce proprio dalle mitologie di cui da giovane si nutriva l’autore. Anche per quest’aspetto Una peccatrice è un romanzo fortemente radicato nell’evoluzione biografica e narrativa di Verga, nonostante egli stesso lo abbia rinnegato, considerandolo solo una prova fallimentare”.
(Motta, Daria, 2020, “Cantiere filologico e apprendistato linguistico verghiano. Note sulle varianti di Una peccatrice(1866)”, pág. 63. Em: https://doi.org/10.13130/2499-6637/14732; ou em: https://riviste.unimi.it/index.php/PEML/article/view/14732/616)
NOTA 2
(**) A tese aqui desenvolvida a propósito deste romance de Verga pode ser confirmada em inúmeros e grandes poetas no livro que acabo de publicar como e-book, A Dor e o Sublime – Ensaios sobre a Arte” (S. João do Estoril, ACA Edições, 2023, 232 páginas), já acessível para aquisição (o valor é de 2,99 euros) no site http://www.aculturalazarujinha.com (ver no separador LOJA, e-books) e de que aqui publico um amplo extracto (as primeiras 26 páginas) através do link (clique aqui): 0-26

CITIZEN BERLUSCONI
SUA EMITTENZA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 06-2023
ESTE TÍTULO é o de um livro muito interessante de Alexander Stille sobre Berlusconi. Uma glosa do Citizen Kane, de Orson Welles. O subtítulo é um apelido, com sabor a catedral, que ele tinha por ser proprietário de vários canais de televisão. Um empresário que se apresenta como alternativa ao sistema que acabara de entrar em colapso, a seguir à queda do Muro de Berlim e sobretudo ao terramoto judicial e político de 1992, Tangentopoli ou Mani Pulite, que haveria de varrer os partidos políticos da I República italiana, a começar pela Democrazia Cristiana (DC) e pelo Partito Socialista (PSI), de Bettino Craxi. O Partido Comunista Italiano tinha-se transformado, em 1991, em Partito Democratico della Sinistra (PDS), com o Secretário-Geral Achille Occhetto.
1.
Berlusconi, cujo grupo económico, Fininvest (depois, Mediaset), estava a conhecer graves dificuldades, com uma dívida monumental, de cerca de 1750 milhões de euros, e contra a opinião de uma parte consistente do seu staff, decidiu avançar para a formação de um novo partido político, Forza Italia (FI), que viesse responder ao vazio criado pela crise da DC, que em Janeiro de 1994 haveria de desaparecer, deixando realmente a direita sem efectiva representação política, e pelo fim do PSI de Bettino Craxi. Procurou, assim, evitar – e disse-o quando, em Janeiro de 1994, anunciou a decisão de ir às eleições de Março com a nova formação política – que o poder caísse nas mãos do pós-comunista PDS, de Achille Occhetto, que acabara de vencer as eleições autárquicas de 1993. Em nove meses Berlusconi criou o partido Forza Italia e ganhou, embora por uma pequena margem (só teve mais 0,65% do que o PDS, ou seja, 21,01% contra 20,36%), as eleições de 27 de Março de 1994, numa aliança com os pós-fascistas de Alleanza Nazionale, de Gianfranco Fini, e com a Lega Nord, de Umberto Bossi. Berlusconi voltaria a ganhar as eleições em 2001 e em 2008, para ter de se retirar em finais de 2011, pondo fim à sua centralidade na política italiana, embora mantendo-se na liderança de FI, que foi lentamente definhando até ao que hoje é, uma força política com 8% (na Câmara dos Deputados) nas eleições de 2022.
2.
O Berlusconi que marca a história italiana é este, mais pela novidade da sua chegada e do seu sucesso na conquista do consenso do que pelos resultados da sua acção governativa, que acabou por mostrar resultados reconhecidamente negativos. Um simples exemplo: entre 2001 e 2005 (anos em que governou) a Itália desceu do 14.º para o 53.º lugar em termos de competitividade, segundo os cálculos do Institute for Management Development, de Genebra (Stille, A., Citizen Berlusconi, Milano, Garzanti, 2006: 340). E é-lhe imputável também ter trazido para o arco governativo a mesma extrema-direita que hoje governa Itália, embora, depois da sua saída, esta só tenha voltado ao poder em 2018, pela mão do primeiro governo Conte, formado na sequência da vitória eleitoral do MoVimento5Stelle (com quase 33% dos sufrágios) e, mais recentemente, em 2022, pela mão de Giorgia Meloni, na sequência da vitória do partido Fratelli d’Italia nas eleições legislativas. Entretanto, o seu partido, Forza Italia, foi perdendo consistência eleitoral, exibindo hoje 8%, percentagem inferior à dos dois partidos de extrema-direita que, com aquele, integram hoje o governo de Itália (26%, FdI, e 8,8%, Lega).
3.
A acção governativa de Berlusconi deixou medíocres resultados, mas deixou uma marca bem impressa ou mesmo impressiva: legislação em interesse próprio. Refiro algumas iniciativas legislativas mencionadas no livro de Alexander Stille para dar uma ideia mais precisa da sua dimensão: lei sobre as “cartas rogatórias internacionais”, dificultando-as; despenalização do “reato di falso in bilancio”, levando à anulação de processos que o envolviam directa ou indirectamente; lei sobre o “legittimo sospetto”, sobre a eventual parcialidade dos juízes; lei Gasparri a favor das suas empresas de comunicação; saída da RAI dos concursos para adjudicação dos direitos de transmissão de jogos de futebol, favorecendo as suas televisões; alteração da lei sobre património cultural, permitindo a construção na costa da Sardenha onde o próprio tinha grandes interesses; alteração da lei das sepulturas para que ele e a família pudessem ser sepultados na Villa de Arcore; lei do “condono fiscale” que permitiu a poupança de 120 milhões de euros à sua Mediaset; acordo de Mediolanum (Berlusconi tinha um terço das acções) com os correios italianos para venda de seus produtos financeiros, etc., etc. (veja Santos, J. A., Media e Poder, Lisboa, Vega, 2019, pp. 219-220, nota 119; e Stille, 2006: 319-326).
4.
Na verdade, o que se deve realçar no personagem é a capacidade de, em pouco tempo, ter criado uma formação política de sucesso, tendo logo a seguir chegado ao poder. Mais ou menos em nove meses. É claro que na sequência do fim da primeira República existia, à direita, o vazio que já referi e que Berlusconi era proprietário de três canais de televisão com cerca de 45% das audiências (tanto como a RAI) e publicidade televisiva muito superior à da própria RAI, mas todo o processo de construção de Forza Italia foi desenvolvido com grande competência e originalidade:
- Uso minucioso, oportunamente programado e maciço das televisões para fins eleitorais na pré-campanha e na campanha.
- Criação dos “Clubes Forza Italia” (chegaram a ser 15.000), plataformas externas ao partido (ligadas a FI por protocolo) para reprodução alargada do discurso do partido.
- Vértice do partido não eleito e integrado pelos máximos dirigentes e técnicos da Fininvest (a sua Holding).
- Sondagens permanentes por uma empresa criada para o efeito (Diakron) e dirigida pelo antigo sondagista de Fininvest, Gianni Pilo.
- Construção do programa e do discurso políticos a partir do estudo rigoroso das tendências maioritárias da opinião pública – a procura passa a anteceder a oferta (dar ao público o que o público quer, como nas televisões), exactamente ao contrário da lógica seguida pelos partidos tradicionais.
- Escolha dos candidatos a deputados mediante “castings” desenvolvidos pelas suas duas empresas: Publitalia e Diakron. Berlusconi, através de outro importante sondagista, Luigi Crespi, chegou a controlar quatro institutos de pesquisa (Santos, 2012: 281, nota 156).
- Aplicação sistemática e rigorosa de duas importantes teorias dos efeitos dos media: “Espiral do Silêncio” e “Agenda-Setting” – uso instrumental das sondagens e polarização intensa da atenção social sobre o personagem Berlusconi.
- Extrema personalização do processo político em torno da pessoa de Berlusconi (para uma análise exaustiva deste processo veja o meu Media e Poder, pp. 257-338).
5.
As eleições do dia 27 de Março de 1994 deram a vitória a Berlusconi e a FI sobre o directo competidor, Achille Occhetto e o PDS. A aliança de FI, ao sul, com Alleanza Nazionale, e ao Norte, com a Lega Nord, com a formação do Polo del Buon Governo e o Polo delle Libertà, dera bons resultados a estes blocos políticos e Berlusconi foi investido no cargo de Presidente do Conselho de Ministros, inaugurando, assim, a II República, ainda que por pouco tempo, devido à cisão provocada, no final do ano, por Umberto Bossi. Como disse, Berlusconi haveria de voltar a ganhar as eleições por mais duas vezes e por se tornar uma figura central da política italiana durante quase dezoito anos.
6.
Não se pode dizer que Berlusconi tenha criado doutrina política, embora se tenha definido “liberal” em política e “liberista” em economia, mas é possível dizer que mudou algo de muito significativo na política italiana:
- Rompeu com a tradicional separação entre economia/negócio/empresa e política partidária e institucional, projectando-se politicamente à chefia do governo como empresário de sucesso (embora em graves dificuldades financeiras: em 1994, com 2 biliões de dólares de dívida, segundo o Museum Broadcasting Communication – veja Santos, 2012: 279). O seu discurso de candidatura referia a necessidade de derrotar a velha classe política, constituída, segundo ele, por “politicanti senza mestiere”, politiqueiros sem profissão. Note-se que nunca os Agnelli, um potentado económico italiano, se candidataram à guia do país.
- Uso intensivo e, diria, científico, dos media, em particular da televisão, e em especial das suas televisões, que transmitiam por targets – Italia Uno (jovens); Retequattro (domésticas e reformados) e Canale 5 (classe média) -, em emissões que, para efeitos eleitorais, eram produzidas de acordo com as regras da publicidade em matéria de retorno financeiro do investimento (Santos, 2012: 307, nota 174).
- Inversão radical da lógica e da hierarquia da proposta política ao antepor a procura à oferta, usando todos os instrumentos do marketing (pesquisas de mercado e preparação de propostas de retorno ao “público” eleitoral) ao serviço da política.
- aplicação da teoria de Lazarsfeld e Katz do “two-step flow of communication” ao criar os “Clubes Forza Italia” como plataformas de difusão territorial e, sobretudo, de reprodução alargada, no terreno, do discurso de Forza Italia e do seu líder.
É evidente que houve aqui uma transposição para a política da lógica e dos instrumentos usados para a captação das audiências e que os resultados só foram possíveis pelo poder que lhe advinha de possuir ele próprio tão poderosos instrumentos de comunicação, sendo ainda certo que o desaparecimento da DC constituía o pano de fundo em que trabalhou a sua proposta política. Mas também é de sublinhar a geometria das alianças que estabeleceu com a Lega e com Alleanza Nazionale. Há um outro aspecto que me parece que também deve ser sublinhado, atendendo à sua estratégia discursiva – Berlusconi concebeu e motivou adesão às suas propostas, dando uma imagem da política como um grande campo de futebol (velada alusão ao Milan, de que era, e com sucesso, proprietário) onde os jogadores seriam os políticos e o público os espectadores, directos, mas sobretudo televisivos. De facto, quando anunciou a sua candidatura disse-o nos seguintes termos: “Ho scelto di scendere in campo”. O próprio nome do partido tem implícita uma alusão ao futebol. Mas, na verdade, na sua proposta política, a sua era verdadeiramente a “democracia do público”, sobretudo a dos espectadores, dos telespectadores, não a dos cidadãos, na qual navegava com grande profissionalismo.
7.
Berlusconi, que tinha 86 anos, terá funeral de Estado, luto nacional e, no momento em que escrevo, ainda não se sabe se, de facto, repousará no Mausoléu da sua Villa de Arcore. A Itália perdeu um seu famoso protagonista, alguém que um dia se considerou “unto dal Signore”. Poderá não se gostar do seu modo de abordar a vida e da “spregiudicatezza” com que o fez, mas que o personagem era muito vivaz e colorido, sendo difícil ficar-lhe indiferente, lá isso era.

CONFISSÕES DE UM AFORRADOR
NÃO CERTIFICADO
Por João de Almeida Santos
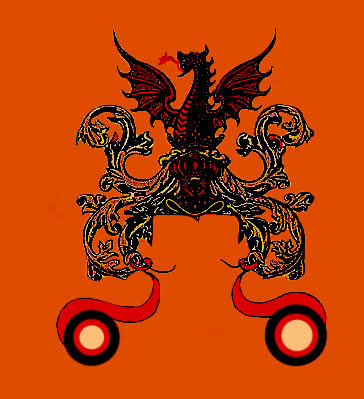
“S/Título”. JAS. 06-2023
FIQUEI DEVERAS SURPREENDIDO ao conhecer a decisão do Ministro das Finanças de acabar com a Série E dos Certificados de Aforro (CA), títulos de dívida pública. Bom, surpreendido totalmente, não, porque já lera umas notícias sobre o assunto, provavelmente plantadas para testar a opinião pública sobre o fim desta série.
1.
E EU PRÓPRIO já andava desconfiado de que a coisa, a Série E, não iria durar muito. Não me atrevo a pensar que o Senhor Ministro das Finanças tenha considerado que os portugueses, ávidos de lucro, andavam a poupar demais e, com isso, a depauperar o sistema bancário, decidindo, por isso, pôr cobro a esse fluxo financeiro; a imaginar que tenha, no silêncio do seu gabinete, dito de si para si, que o melhor seria porem o dinheiro nos bancos (a cerca de 1%), que o povo não tem obrigação de remunerar, através do Estado, principescamente uma sua parte, a dos aforradores. Certamente que não tem. Mas a verdade é que algo semelhante a isto parece ter sido dito (sirvo-me da memória do que ouvi num canal de TV) pelo Prof. João Duque, o reconduzido Presidente do ISEG (e que, dizem-me, foi membro não-executivo do CA do Santander), acrescentando, em entrevista à Rádio Renascença, que a medida do governo “peca por tardia”. Ao ouvi-lo, eu, que ainda tinha algumas (poucas) dúvidas sobre o erro de acabar com esta série, fiquei, de imediato, esclarecido e sem dúvidas. Foi mesmo errado, ou não teria a concordância deste sábio, sempre tão presente na comunicação social. Será que ele foi um dos seus conselheiros? Não creio, mas, ao que parece, já tinha mostrado o seu desagrado por existir esta série de CA. Ele e outros responsáveis da banca. Mas, depois, ainda veio reforçar a dose dizendo que o Estado ficava fragilizado nas mãos dos aforradores nacionais (“isso poderia pôr em causa a liquidez do Estado, a curto-prazo”), pois poderiam tirar o dinheiro a qualquer momento (porque era “facilmente desmobilizável”) e que a série estava a pagar demais. Reparem no que este sábio afirmou à Renascença: “Cada vez que a República Portuguesa vai ao mercado e emite dívida, tem condições para ir buscar muito volume de financiamento e credores. Não fazia sentido estar a insistir e a pagar mais, criando dificuldades ao sistema bancário” (rr.sapo.pt, 02.06.2023; itálico meu). Querem mais claro do que isto? Pagar mais. Vejamos, pois: “Juros continuam a subir nas emissões de dívida de Portugal”. Na primeira emissão de 2023, “o Estado conseguiu, através de uma emissão sindicada (organizada por um conjunto de quatro bancos internacionais), obter junto dos investidores internacionais, um financiamento a 15 anos de 3000 milhões de euros. A taxa de juro que foi exigida para a obtenção deste crédito foi de aproximadamente 3,6%”(notícia do “Público”, de 05.01.2023). Mas já em Outubro de 2022 os juros tinham sido de 3,2%, numa emissão a 10 anos, lê-se na mesma notícia. Um valor, este, o dos juros pagos aos investidores internacionais, que não está sujeito às flutuações da Euribor, não podendo, portanto, baixar, como, pelo contrário, poderá acontecer com os Certificados de Aforro. E valor este sobre o qual o Estado também não aufere, porque há isenção total de imposto, 28% de imposto sobre capitais, como acontece com os CA. Um cálculo rápido: no mercado internacional, 3000 milhões à taxa referida custam 108 milhões; o mesmo valor em CA, à mesma taxa, custa, em juros, 78 milhões (deduzido o imposto sobre capitais). Uma operação que, além disso, também terá custado uma bonita comissão (nem me atrevo a perguntar) aos 4 bancos internacionais pelo serviço prestado (embora o serviço prestado pelos CTT também tenha custos). O que mostra que os CA da Série E tinham custos muito inferiores aos das emissões no mercado internacional de capitais. Não é preciso ser catedrático em economia para perceber isto. Depois, como disse, também julgo ter ouvido o famoso economista dizer que os portugueses (através do Estado, que nada em dinheiro que já nem sabe onde aplicar) não têm de pagar esta fortuna de juros somente para alguns, os aforradores nacionais. Ora acontece que estes aforradores são no essencial a classe média (os de poucos recursos não podem aforrar e os mais ricos investem noutros produtos), a mesma que paga impostos, já que dos 5 milhões e 400 mil agregados só 3 milhões pagam IRS. E ainda se deveria dizer a este Adam Smith português que os prémios de permanência nos termos em que estavam a ser praticados tinham precisamente a função de incentivar, e com sucesso, a permanência dos títulos até à data de vencimento. Mas há bem pior, ou seja, um tipo chamado Rato, João Moreira, Presidente do Banco dos CTT e antigo Presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público, quer mesmo que se interrompa a emissão de CA, os mesmos que são processados nos balcões do seu próprio banco. Que se acabe com a concorrência, essa que, como diz, e bem, Luís Aguiar-Conraria, no Expresso (02.06.2023), se mais virtudes não tiver, pelo menos, serve para “romper o cartel bancário”, que mantém a remuneração média dos depósitos a cerca de 1%, a menos de metade do que é praticado na zona Euro. O que, digo eu, explica a grande debandada, com o famoso “mercado a funcionar”.
A GRANDE DEBANDADA ou o mercado a funcionar
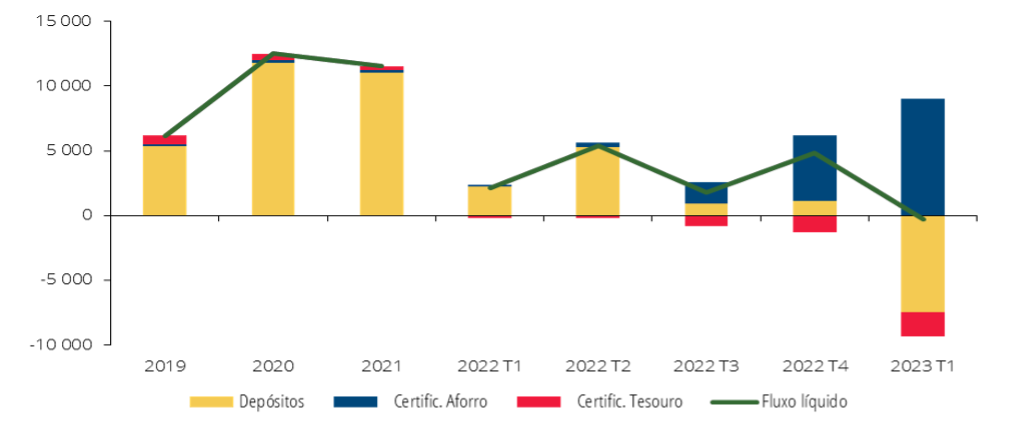
Variação dos depósitos dos particulares em bancos residentes e subscrição líquida de Certificados de Aforro e do Tesouro | Em milhões de euros. Fonte: Relatório de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal. Maio de 2023.
2.
NA VERDADE, e tendo em consideração que a remuneração dos CA é claramente inferior à do mercado internacional (como já vimos), sendo até, no tempo, variável para valores inferiores, pois depende da Euribor; que os aforradores são os mesmos que alimentam o Estado com os impostos, incluídos estes sobre os juros dos CA; que a promoção da poupança nacional é um contributo muito positivo e necessário para o país; que o Estado deve ter uma função reguladora também na área financeira (através do Instituto de Gestão do Crédito Público e da CGD), em vez de ser regulado pelos bancos – além de tudo isto, há ainda dois outros aspectos que recomendariam que, em vez de a desincentivar, se promovesse a compra nacional de títulos de dívida pública, nos termos em que estava a ser feita: 1) os juros do investimento reentram na economia nacional; 2) o Estado arrecada 28% dos juros em imposto sobre capitais. Duas variáveis muito interessantes que justificariam só por si que se reforçasse ainda mais a linha até aqui seguida. Acresce ainda que, assim, diminuiria a dependência do estrangeiro e também a dependência relativa à subjectividade interesseira das agências americanas de rating (as três americanas, Moody’s, Fitch e Standard&Poor’s, detêm cerca de 96% do mercado mundial de rating e têm como accionistas os maiores especuladores financeiros internacionais).
3.
A DÍVIDA PÚBLICA, que neste momento se cifra em cerca de 114% do PIB (278.957 milhões), em muito países é detida na sua maior parte por aforradores nacionais. Por exemplo, o Japão detém cerca de 90% da sua dívida pública e a Itália detém cerca de 70%. E Portugal? A componente interna da dívida pública é de cerca de 30% (subtraídos, como é natural, ao total dos 157.146 milhões reportados como dívida interna, os 72.147 milhões imputados ao BdP/BCE, e feita a proporção com os 122.810 da componente propriamente externa, de acordo com a nota sobre a dívida pública de 29.05.2023, do GPEARI). A pergunta a fazer é, pois, se não se considera que seria vantajoso que Portugal fosse titular de uma fatia muito mais significativa de títulos de dívida pública, pelas razões apontadas. E para isso haveria que desenvolver todos os mecanismos de favorecimento da poupança ao serviço da dívida. Como já se viu, os portugueses até respondem activamente. Bom, mas eu não sou economista nem aforrador certificado.
4.
NUM LIVRO muito interessante, Wolfgang Streeck, Tempo Comprado (Coimbra, Actual, 2013), falava das duas constituencies que hoje integram as democracias dos países avançados: a dos cidadãos que pagam impostos (taxation with representation,embora em Portugal quase metade dos agregados não paguem IRS, mas tenham direito a representação) e a dos credores internacionais. O autor punha em questão este complexo problema: como gerir esta situação? Quem tem a primazia? Duque diria (e disse): os credores internacionais. Mas, ao que parece, também o senhor Ministro das Finanças, Fernando Medina, acabará por ter de dizer o mesmo, por coerência lógica. Os contribuintes (cidadãos e os outros contribuintes, incluídos os bancos, naturalmente) já têm “representation” e parece ser redundante encaminhá-los para uma maioria confortável na titularidade da dívida pública, da dívida do Estado, quando, como diz Duque, há ali à mão de semear um maravilhoso mercado financeiro internacional mais barato (!) e sempre pronto (como se viu em 2011) para nos confortar com o todo o dinheiro de que precisarmos. Essa constituency, dirá, veio para ficar e temos de a acarinhar (e eu próprio estou sempre pronto para ajudar). E até porque a corrida da classe média aos títulos de dívida pública tem consequências ruinosas sobre a banca nacional, incluída a possibilidade de default por descapitalização acelerada. Depois, diria Duque, lá teríamos de a ir salvar outra vez com o dinheiro dos contribuintes. Um autêntico círculo ruinoso. Só falta mesmo dizer que o melhor é que se volte a desenhar programas de governo à medida dos credores intenacionais, como aconteceu em 2011.
5.
ESTE ASSUNTO é de tal modo importante que permite ler a alma de toda uma política e de toda uma classe dirigente. Trata-se de compreender como eles, todos, vêem a gestão dos recursos estratégicos do país: financeiros, água, electricidade, ciência. Matérias que deveriam estar nas mãos do país e não nas de estrangeiros. Mas se até a política científica está nas mãos de estrangeiros, designadamente na avaliação de todos os centros de investigação para efeitos de reconhecimento, certificação e financiamento, tal como a própria avaliação das candidaturas de projectos a financiamento, ou seja, o essencial da política de investigação, que se pode esperar? Uma situação tão escandalosa que até levou a FCT a alienar a decisão sobre os próprios recursos hierárquicos, exigindo que sejam feitos em inglês, e à revelia do CPA (art. 54), certamente para que possam ser apreciados pelos mesmos que antes já tinham tomado as decisões. De que nos surpreendemos se sectores estratégicos são colocados inocentemente nas mãos de estrangeiros? E não me parece que estas posições possam ser apelidadas de nacionalistas, radicais, extremistas, subversivas. Que a titularidade da dívida pública deva ser maioritariamente nacional parece ser coisa de bom senso, a não ser para os catedráticos de economia que aspirem a ter avenças em bancos internacionais. A verdade é que a classe média que paga os impostos directos não precisa de favores. Bem pelo contrário, investe naquilo que é seu, garantindo e reforçando, afinal, o interesse geral. Não é imprescindível uma constituency de credores internacionais, pois já temos aquela que paga impostos, tem cidadania portuguesa, vota e está disposta a aforrar para melhorar e garantir a sua própria situação financeira, claro, mas também para garantir autonomia financeira ao Estado português (pagando o imposto sobre capitais) e, com isso, reforçando os mecanismos de legitimação do próprio poder político, ao contribuir para reduzir o poder de pressão estrangeiro sobre as decisões do poder político nacional. A solidez da banca nacional é absolutamente necessária, mas não à custa da lógica do abutre sobre uma cidadania já em tão delicada situação económica e financeira. O dever de um governo responsável é, pois, no meu entendimento, garantir e honrar o contrato que fez com a única constituency que deve contar, a dos cidadãos contribuintes.
6.
EU, NÃO SENDO ECONOMISTA, sendo aforrador não certificado pelo ISEG, mas não me considerando parvo, não concordo com esta linha de orientação que subjaz à decisão do Senhor Ministro das Finanças. E ainda menos porque me situo politicamente no mesmo espaço em que ele e o governo se situam, preocupando-me também, como é natural, com a eventualidade de um descalabro eleitoral e com a chegada de quem ainda aprofundará mais o que aqui acabo de criticar. Não é a quebra de um ponto nos Certificados de Aforro ou a redução do prémio de permanência que me incomoda, o que me preocupa e me faz pensar é o significado do acordo entusiástico do senhor João Duque, esse “socialista” dos quatro costados. O que me incomoda, sim, é o significado político desta decisão e o que ela representa em termos de doutrina política, que me parece ser muito pouco socialista. JAS@06-2023

O TUTOR DA REPÚBLICA
E OS SEUS AMIGOS
Por João de Almeida Santos

“No Princípio era o Verbo...”. JAS. 05-2023
NÃO ME RESTAM DÚVIDAS de que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (MRS), se tornou líder da oposição política e da oposição mediática. Pelo que diz e pelo que não diz. Sim, duas oposições para um mesmo fim: a queda do governo do PS. Uma reviravolta completa. Uma convergência total da oposição política com o sistema mediático, construída, neste caso, em torno de nada, de episódios sem densidade política. Poderia ser uma convergência substantiva sobre grandes questões com impacto na vida do País, mas não.
1.
A oposição mediática e a oposição política estão agora concentradas num folhetim com cenas muito picantes em torno do portátil de um Adjunto do Gabinete de um Ministro. Algo cujo conteúdo se desconhece e que, mantendo-se a ignorância sobre ele, em nada afectaria a nossa vida colectiva. O que lá possa estar é menos relevante do que o que dele se possa dizer: o que interessa verdadeiramente são as eventuais incoerências, silêncios ou contradições de altos responsáveis sobre tão mísero assunto. No Parlamento ou fora dele. Discurso sobre o discurso. Mentiu? Contradisse-se? Omitiu? É problema de verdade ou de mentira. Problema ético e político, num país tão puritano como Portugal! Isso, sim, é o que interessa.
2.
O Parlamento subiu ao palco e os media adoraram porque o palco é o seu húmus, a sua vocação. Vaudeville à portuguesa. Ou, então, a política e a informação como dramaturgias ao estilo pirandelliano: personagens à procura de autor. Sim, embora o segundo acto da peça tenha sido escrito e encenado por autor bem conhecido, pondo os personagens no palco, um pouco desorientados, e ficando a observar da plateia o desenrolar da interpretação. Um Pirandello à portuguesa.
3.
Mas se se compreende que os media relatem o que se está a passar no palco parlamentar, já não se compreende o espectáculo permanente trazido para o palco electrónico e os excessos acerca de uma peça teatral de pouco valor dramatúrgico, mas de muito valor “comercial”. A exploração delirante e aumentada da desorientação das personagens. A não ser que também eles, os media, sintonizem com o dramaturgo e com as personagens “in cerca d’autore” para que aconteça um “gran finale”, com intervenção de um “deus ex-machina”, o povo, a pôr ordem no caos.
4.
Muito bem, mas não deixa de ser um desvio na sua função de informar: um desvio de agenda e também em relação ao próprio código ético. Na agenda, por explorarem até à náusea episódios menores (e foi menor, quase ridícula, a ideia de fazer esta CPI) que nada de substantivo representam para a vida do país. Querem um claro exemplo de exagero mediático, fora do universo da política? No sábado, a SIC e a TVI dedicaram, cada uma, duas horas do telejornal, em prime time (19:57/21:57 e 19:50/21:51, respectivamente, incluída a publicidade de 13 minutos, na SIC, e de 15 minutos, na TV) à vitória do Benfica, como se o mundo se resumisse, nesse dia, a isso (e declaro que sou e sempre fui simpatizante do Benfica). Algo absolutamente chocante e incompreensível num país civilizado. Mas também desvio relativamente ao código ético porque, ao contrário do que muitos pensam e praticam, os media não são contrapoder e têm o dever cultivar a imparcialidade, a objectividade e a relevância, princípios maiores dos códigos éticos a que os jornalistas estão obrigados, mesmo quando, mantendo-se na condição de jornalistas, emitem opinião nos seus meios de comunicação. Por uma simples razão: estão obrigados a fornecer informação e análise objectiva (não idiossincrasias pessoais) para que, depois, seja o cidadão a decidir, a avaliar. Não é aceitável fornecer decisões já pré-confeccionadas à cidadania. Isso é um exercício inaceitável de poder e um abuso de função. Cito a resolução 1003 do Conselho da Europa, “Ethics of Journalism”, de 1993:
“19. It would be wrong to infer from the importance of this role that the media actually represent public opinion”; e “20. This would amount to transforming the media and journalism into authorities or counter-authorities (“mediocracy”), even though they would not be representative of the citizens or subject to the same democratic controls as the public authorities”.
Os media não representam a opinião pública nem são poderes ou contra-poderes porque não estão sujeitos ao mesmo controlo democrático que os poderes públicos. E regem-se por princípios que eles próprios subscreveram nos inúmeros códigos éticos disponíveis, ao longo de séculos (veja-se sobre este assunto, o meu Media e Poder, Lisboa, Vega, 2012, pp. 22-29). Creio que isto deveria ser claro. Nem de outro modo os media poderiam corresponder aos referidos princípios da Ética do Jornalismo, enquanto mediadores, não enquanto parte. E, todavia, não é isso que está a acontecer. Os media aspiram a ter um poder que exorbita das suas funções e põe em causa, não só o próprio princípio electivo em que se funda a democracia representativa, mas também os próprios princípios que subscreveram, desde finais do século XVII (desde o Código Harris).
5.
Depois, o seguidismo cúmplice em relação à agenda do PR, mas também o desvirtuamento total da função deste, transformado em tutor vigilante, constante e omnipresente, da acção do governo, confundindo papéis, a ponto de usurpar permanentemente funções de outros órgãos de soberania. Mas, na realidade, o que acontece é que este mesmo poder mediático, por interposto e informal seu agente orgânico, nascido, criado e sempre alimentado por si (desde os tempos do jornal “Expresso”), chegou ao poder, ao mais alto cargo político do país. Sim, foi através de eleições, mas ganhas por omissão do PS e sobretudo por obra e graça da sua presença permanente (uma autêntica “permanent campaigning”) nos media. O que explica, em grande parte, esta simbiose integral e (quase) orgânica entre MRS e o establishment mediático. Esta convergência poderá, pois, dever-se, por um lado, a uma espécie de solidariedade corporativa (o PR é um dos “nossos”) e, por outro, àquela que eles julgam ser a sua função, a de contrapoder, ao mesmo tempo que abraçam definitivamente a orientação tablóide, a informação-espectáculo e a política-espectáculo. Mas, como diz Guy Debord, em “La Société du Spectacle”, ”Le spectacle ne veut en venir à rien d’autre qu’à lui-même” (Paris, Gallimard, 1992, n. 14, pág. 21). O espectáculo como fim de si próprio e valor supremo – o que atrai público, dinheiro e poder.
6.
O que é o tabloidismo? É a elevação da categoria do negativo a princípio constituinte da informação, em todos os seus géneros, incluído o político. Orientação que garante uma forte atractividade, decisiva não só para captação de recursos financeiros através da publicidade, mas também para a obtenção de poder sobre agentes políticos que precisam, eles próprios, de atrair consenso para a conquista do poder. O tabloidismo como filosofia de poder. Por isso, a oposição política segue-lhe caninamente os passos sem se aperceber de que também ela está a converter a política em política tablóide, em despudorada exploração do negativo para a conquista do poder, e de que no futuro também ela passará a estar à mercê do mesmo mecanismo triturador.
7.
Não é nova esta orientação. Quem conhecer a história das campanhas eleitorais nos Estados Unidos poderá encontrar em todas elas as chamadas campanhas negativas. Vejamos alguns casos. Em 1980, Jimmy Carter, no interior do mesmo partido, contra Edward Kennedy: no «caucus» do Iowa e nas primárias de New Hampshire, sobre o incidente onde morreu a acompanhante de E. Kennedy; em 1988, George Bush (Pai) contra Michael Dukakis, candidato e governador de Massachusets: facilitismo com prisioneiros (a propósito do caso Horton e do homicídio por este praticado durante uma saída temporária da prisão) e desleixo com o ambiente – foram usadas imagens que nem sequer eram de Massachusets; em 1992, de novo, o mesmo G. Bush, mas agora sem sucesso, contra Bill Clinton, acusado de desleadade nacional por não ter feito o serviço militar, de deslealdade com a mulher e de ter consumido droga em juventude; em 2004, Bush, filho, seguiu as pegados do Pai, atacando John Kerry, através dos seus «grupos 527» de apoio, com mentiras sobre as suas prestações no Vietnam (ele que, graças à influência do Pai, se pusera a reparo da guerra e fora dispensado muitos meses antes de terminar o serviço militar), sobre a mulher ou até sobre a sua roupa interior; em 2000, Bush introduzira o negativo por via de imagens subliminares, inserindo num spot onde eram usadas as palavras «democrats»/«burocrats» a palavra isolada «rats» durante 1/24 de segundo; em 2008, nas primárias e na campanha eleitoral de 2008, voltou o estilo negativo de campanha, desta vez na figura de Obama. Como se sabe, o mais perigoso dos ataques, além do que, insistentemente, o identificava como muçulmano, foi desferido a propósito da sua relação com o pastor Jeremiah A. Wright, seu inspirador espiritual, por este assumir posições inaceitáveis aos olhos dos americanos. Uma amostra muito interessante destes ataques está relatada no livro de Castells Comunicación y Poder (Madrid, Alianza Editorial, 201, pp. 601-606). Das campanhas de Donald Trump nem é preciso falar.
Campanhas negativas, em estilo tablóide, visando desqualificar o adversário e pondo o negativo como categoria central do discurso, vêm ao de cima sempre que se disputam campanhas presidenciais nos USA, chegando ao pormenor de até se usar a roupa interior como argumento.
8.
Não é, pois, coisa só nossa, mas lembro a campanha orquestrada por Santana Lopes, em 2005, sobre uma putativa homossexualidade do adversário, na competição eleitoral que o opunha a José Sócrates. E, todavia, o que hoje temos entre nós tem características muito próprias. Diria que, tendo características diferentes, mas sendo também centrada no negativo, a orientação portuguesa assumiu já uma natureza sistémica, fundindo-se com a prática dominante da informação e funcionando como “permanent campaigning”. E, mais, encontrou uma liderança política saída das suas próprias fileiras. Não é um caso como o de Berlusconi, como o de Ross Perot ou como o de Stanislav Tyminski. É mais parecido com os casos de Schwarzenegger, de Ronald Reagan ou de Donald Trump, pois todos eles ganharam notoriedade como protagonistas no cinema ou nos media. Donald Trump teve sucesso e ganhou notoriedade no programa televisivo “The Apprentice” (da NBC). Marcelo Rebelo de Sousa sempre foi um orgânico dos media nas três plataformas (jornais, rádio e televisão) e nem a função presidencial o desviou dessa sua matriz. Não sai dela um momento que seja. Refiro, a título de exemplo muito significativo, somente o episódio de 2004 em que MRS se demitiu de comentador da TVI, por suposta interferência do governo nos critérios editoriais deste canal, e o gigantesco e absurdo impacto que isso teve no establishment mediático: “em quatro dias, 7 jornais dedicaram ao assunto 347 artigos, 101 páginas, 22 editoriais e 17 manchetes” (Santos, J. A., 2012, Media e Poder, Lisboa, Vega, 128; mas veja pp. 127-132). O governo e a maioria absoluta de direita existente na AR resistiram pouco tempo até à dissolução do Parlamento por Jorge Sampaio. Isto diz tudo sobre a relação de MRS com o establishment mediático, já há cerca de 20 anos. Não é, pois, assim tão estranha esta convergência entre os media e alguém que já não é comentador (ou talvez seja ainda mais), mas Presidente da República, quando volta a apontar o dedo ao poder executivo, agora a partir da sua própria função presidencial. Acresce que ele sempre foi um activista político e que esse activismo o exerceu, sobretudo, a partir do sistema mediático, onde sempre ocupou posições de grande relevo. E a verdade é que nas duas campanhas presidenciais o PS não apresentou qualquer alternativa, na esperança de, apesar de pertencer a uma família política adversária, vir a ter nele um aliado, valorizando claramente as funções executiva e legislativa e desvalorizando a função presidencial. Acontece que esta última só é menor se o ocupante não a usar como arma de arremesso contra o executivo, que é o que agora está a acontecer.
9.
Mas se esta estratégia funcionou durante alguns anos, neste momento está a transformar-se num sério problema para o governo e a maioria que o apoia. O PS deveria, pois, abrir uma frente de leal combate político na qual fosse também enquadrado o PR, não através da sua desqualificação ou de falta de respeito institucional, mas sim através da exigência de reposição do correcto funcionamento do sistema político, de acordo com o texto constitucional. Porque, na verdade, o PR tem vindo exorbitar das suas funções constitucional e até a alterar a própria natureza da função presidencial, ao imiscuir-se constantemente em assuntos onde ele deveria manter uma espécie de pudor institucional, tão necessário a um bom exercício da função.
10.
O combate político não parece ser uma vocação própria do cargo de Presidente da República, no modelo português, enquanto poder moderador, e o governo não responde politicamente perante ele. Mas a verdade é que a sua está a revelar-se claramente como uma orientação de inspiração populista: uma vocação de carismática interpretação do “Volksgeist” e sua permanente ritualização, numa identificação, quase que por osmose física, com as massas, nesse deambular interlocutório obsessivo e físico pelos quatro cantos do país e da cidade e a que, diariamente, a cidadania pode assistir, através do palco electrónico. Quase uma diluição da sua corporeidade na do povo, ritualizada e consignada em selfies, e convertida, depois, em verbo, em discurso em seu nome, numa clara transfiguração da função presidencial. Do que se trata, realmente, é da emergência de uma dimensão carismática do sistema. Uma perigosa rampa se a personagem fosse outra e com tiques ditatoriais (o que, felizmente, não parece ser o caso).
11.
Lembro-me que alguém a seu tempo apelidou um PM de “picareta falante”. Pois bem, hoje temos uma picareta falante hiperactiva, de muito maior dimensão, de presença quotidiana e muito nociva para o exercício governativo, uma vez que mina constantemente a sua própria autoridade. Não tendo responsabilidades executivas, dispondo de um microfone e de uma câmara a cada passo que dá, pode tornar a imagem do executivo numa espécie de creche tutelada por um todo-poderoso tutor, capaz de a qualquer momento a fechar, mandando todos para casa. O anúncio prematuro de um Conselho de Estado para finais de Julho, e a esta distância, pode ser interpretado como mais uma variável disruptiva para o sistema, ao deixar, virtualmente, todas as possibilidades em aberto e deixando no ar, uma vez mais, fumos de velada ameaça, como tem vindo a fazer ao longo dos últimos tempos… Um insidioso calendário porque, dadas as circunstâncias, deveria ser anunciado em tempo mais próximo da reunião. Sinais de fumo, é o que mais parece. Em síntese, agiganta-se uma onda destrutiva que, em vez de ser insuflada pelo Presidente, devia por ele, enquanto poder moderador, ser travada, poupando o país à degradação progressiva da imagem do governo e seguramente a novas eleições antecipadas.

THE SHOW MUST GO ON
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 05-2023
NUNCA CONSIDEREI que as chamadas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) dessem um contributo positivo para o bom funcionamento da democracia representativa, hoje a conhecer grandes dificuldades no seu correcto funcionamento, até pela profunda mudança que se tem vindo a verificar nos sistemas sociais. Não é por acaso que há muito se fala de crise de representação, de democracia pós-representativa ou de democracia deliberativa. As CPI têm degradado a imagem do Parlamento e reforçado a crise de representação. É o que se está passar também com esta. Ainda insatisfeitos com o espectáculo a que temos vindo a assistir, já querem fazer outra, desta vez sobre os serviços de informações.
1.
Por um lado, elas tendem sempre a funcionar na fronteira da separação de poderes, entrando prepotentemente na esfera reservada dos dois outros poderes: o poder executivo e o poder judicial; por outro lado, tendem a deslizar frequentemente para um público “lavar de roupa suja”, dando abundante alimento ao tabloidismo informativo e contribuindo, deste modo, para que a política se transforme, ela própria, em política tablóide. As CPI são um excelente ambiente de culto destas tendências, até porque permitem à oposição não só submeter o executivo a julgamentos de praça pública, fundados na mesma lógica tablóide dos pelourinhos electrónicos que abundam por aí, mas também a ocupar ela própria o topo da agenda mediática e da agenda pública, dada a grande exposição a que normalmente são sujeitas. Daí a sua atractividade. Poder-se-ia até dizer que o excesso de CPI, mas também os seus excessos, muitas vezes fundados na própria impreparação dos deputados e na ânsia de protagonismo público, para não dizer numa inconfessada vocação inquisitorial, colaboram intensamente para mudar a própria natureza do regime, ao invadirem grosseiramente o campo dos outros poderes, contribuindo, deste modo, para uma parlamentarização excessiva do regime, alimentada pela informação tablóide e por uma política tablóide em crescimento acelerado. Perante o novo e imenso espaço público, permanentemente on line, onde pontificam media e redes sociais, o clássico mecanismo de legitimação dos mandatos, o voto, está a ceder perante um novo tipo de legitimidade, a legitimidade flutuante, que é de outra natureza, tem fundamento e temporalidade próprios e corresponde às flutuações da opinião pública, onde, afinal, os media e as redes sociais são determinantes. Conhecendo-se a orientação que os media estão a seguir e a tendência dominante das redes sociais é fácil reconhecer que estamos perante um destino pouco democrático da própria democracia.
2.
É a isto que estamos a assistir nesta CPI sobre a TAP, que, como era expectável, já está a extravasar o próprio objecto para que, inapropriadamente, foi criada: investigar a atribuição de uma indemnização de 500.000 euros a uma gestora da companhia aérea nacional. Quanto a mim, e revertida a indemnização atribuída com as consequências que, depois, se verificaram ao nível da administração da empresa, essa matéria perdeu, de vez, a pouca densidade que já possuía para justificar uma CPI. Por isso, nunca entendi a razão de o PS ter aceitado a sua constituição. E ainda entenderei menos a constituição de uma nova CPI sobre os serviços secretos a propósito de um assunto cujo conteúdo é absolutamente irrelevante, apenas servindo para, mais uma vez, desqualificar os próprios serviços de informações. É o triunfo dos “aprendizes de feiticeiro”!
3.
E, todavia, inesperadamente, esta CPI ganhou uma outra dimensão, essa sim, politicamente mais relevante. Ou seja, transformou-se no lugar de combate entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, por interposta pessoa: a do Ministro que esteve na origem do dissídio entre ambos, motivado, como se sabe, por uma questão de reserva de competências. O motivo? Uma confusão interna entre um Adjunto e outros membros do Gabinete que acabaria por gerar uma tal tempestade política que vários partidos até já estão a exigir, depois da presença do Ministro das Infraestruturas, da Chefe de Gabinete e do Adjunto, a presença do Primeiro-Ministro, dando, assim, sequência política à pública exigência do PR de demissão do referido Ministro. O PR deu o mote, os “aprendizes de feiticeiro” agitam fortemente o caldeirão até que a magia se cumpra.
4.
Quem assistiu às inquirições que já ocorreram, o que constatou foi a devassa total, ao minuto e ao pormenor mais insignificante, do executivo, através do gabinete ministerial onde se verificou o incidente. O incidente – um desentendimento gerido sem ponta de bom senso quer pelo Ministro quer pelos membros do Gabinete – não tem dimensão de assunto de Estado, ainda que tenha sido insistentemente chamada a debate a intervenção dos serviços secretos no processo, matéria agora reforçada pela eventualidade de uma nova CPI, para lhe conferir a necessária gravidade institucional e, deste modo, justificar a intervenção do Presidente e do Parlamento. Na verdade, o assunto não passa de matéria sem qualquer relevo ou significado, não se apercebendo os senhores deputados de que toda esta dramaturgia em crescendo acabará por produzir um efeito devastador sobre a imagem da política e das instituições, do governo e do próprio Parlamento. A gestão da TAP, a sua privatização, os recursos nela investidos pelo accionista Estado, a questão do aeroporto, nada disto parece ter relevância ao lado do mísero, ridículo e rocambolesco incidente. Poder-se-ia mesmo dizer, acerca do que está a acontecer, que a emenda está a ser pior, muito pior, do que o soneto. Mas a verdade é que nada mais interessa à CPI e ao establishment mediático do que o espectáculo e a dramatização da situação até ao seu limite extremo. The show must go on, numa convergência total que parece ter como único fim, para além da política espectáculo, um valor em si, a criação de um ambiente que leve, mais cedo ou mais tarde, à dissolução do Parlamento e à convocação de eleições antecipadas. É esta a suposta gota de água que fez transbordar o copo, a um ano e dois meses da tomada de posse deste governo e a um ano e quatro meses da conquista da maioria absoluta pelo PS. Sim, mas o tabloidismo mediático é disto que gosta e é disto que vive, porque é isto que lhe dá audiências e poder. Na verdade, se a legitimidade flutuante é a que mais se adequa funcionalmente ao poder dos media, ela também interessa conjunturalmente aos que anseiam chegar rapidamente ao poder. Verdadeiramente é disto que se trata. Nada mais, por mais expressivos e compungentes que se mostrem, em prime time e fora dele, os seráficos rostos dos habituais performers televisivos, a começar pelos próprios pivots, a quem se exigiria um pouco mais de contenção e de respeito pela vontade política dos eleitores. Uma democracia cada vez mais tablóide – na informação e na política – é o que infelizmente se está a impor, sem que haja o mínimo sobressalto de quem teria o dever de a impedir.
5.
Esta CPI está pois, por um lado, a interpretar, em directo, um papel que o establishment mediático depois converte em coerente e apimentada dramaturgia para consumo do público e, por outro lado, a desenvolver, pelos seus próprios meios, o discurso do Presidente acerca da substituição de um Ministro e da reposição da “dignidade das instituições”, mediante eleições antecipadas. Nunca o livrinho do Guy Debord esteve tão actual como agora: “Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux” (La Société du Spectacle, Paris, Gallimard, 1992, pág. 19). O que sobra, realmente? Um gigantesco aviltamento da política, das instituições e da própria democracia, transformada em “Democracia Tablóide”, onde pontifica a categoria do negativo e onde a política se reduz cada vez mais a espectáculo. A sensação que fica é que nas inquirições os deputados já nem sabem bem a razão por que estão ali a fazer perguntas. Ou talvez saibam: o espectáculo vale por si.
6.
É claro que, a montante, há uma causa à qual pode ser imputada uma parte do que está a acontecer. E essa causa reside na perda de gravitas dos partidos políticos, de todos eles, na insuficiência do processo de selecção do seu pessoal político e, em geral, naquilo em que eles próprios se tornaram. Sim, os partidos políticos estão transformados em meras máquinas de conquista e apropriação do aparelho de Estado e em espaços de convergência de múltiplos interesses puramente pessoais e alheios ao interesse público, tendo perdido a característica de organizações que tinham como finalidade a promoção da política como esfera de culto activo da ética pública e do interesse geral, de uma visão estruturada sobre a sociedade e sobre as funções e a natureza do Estado, de uma ideia de progresso social e de futuro e, finalmente, da vontade de tornar hegemónicas cultural e politicamente as suas ideias acerca do bem comum. Ou seja, desapareceu a ideia de partido como escola de formação política e doutrinária para passar a ser uma agência de empregos, um mero instrumento de promoção pessoal sobretudo daqueles que nunca conheceram grande autonomia e sucesso na sua vida profissional privada. Muitos dos agentes políticos que hoje pululam nos partidos, sobretudo nos partidos da alternância, nunca exerceram uma profissão na sociedade civil, saltando directamente das juventudes partidárias ou da máquina partidária para as instâncias do poder, seja ele o poder autárquico, a administração pública ou o próprio Parlamento.
7.
A isto acresce, como já referi, a evolução do establishment mediático no sentido do tabloidismo mais radical e a enorme contaminação que existe entre ele e a política. Duas faces de uma mesma moeda a contribuírem, elas sim, para a degradação da democracia representativa e para o crescimento das formações políticas que não gostam mesmo dela. Pois com esta CPI Portugal está a dar mais um passo em frente na tabloidização integral da política e da democracia, transformando-as em apetitoso pasto para as forças mais radicais, sobretudo a extrema-direita. Faz, pois, falta uma séria reflexão sobre a política e a democracia pelas forças políticas mais responsáveis se quiserem evitar o pior e a sua própria sobrevivência política enquanto forças que pretendam continuar a assumir o governo deste país. Em vez disso, infelizmente, o que se vê é um deslize permanente na rampa inclinada da política tablóide e da degradação institucional. E, permita-se-me a ousadia, não me parece que o PR esteja fora desta rampa. Bem pelo contrário, o que nem é de estranhar visto o percurso de vida da personagem e a sua notória dependência das câmaras de televisão. Acresce ainda a recente e inopinada injunção de um antigo PR e PM no processo com uma linguagem absolutamente desbragada, ofensiva, inapropriada e inaceitável para quem desempenhou durante vinte anos tão altas funções. O que parece, de facto, é que já nada limita o clima de guerra aberta que se instalou na democracia portuguesa, a ponto de já nem ser sequer o partido que sustenta o governo a estar em causa, mas sim a decência política, o ódio e a insensibilidade relativamente à preservação do próprio regime político em que vivemos. Parece valer tudo e até mesmo “tirar olhos”. Isto diz muito da nossa classe política e de todo o establishment mediático. JAS@05-2023

“A CULPA É DO SISTEMA”
Por João de Almeida Santos
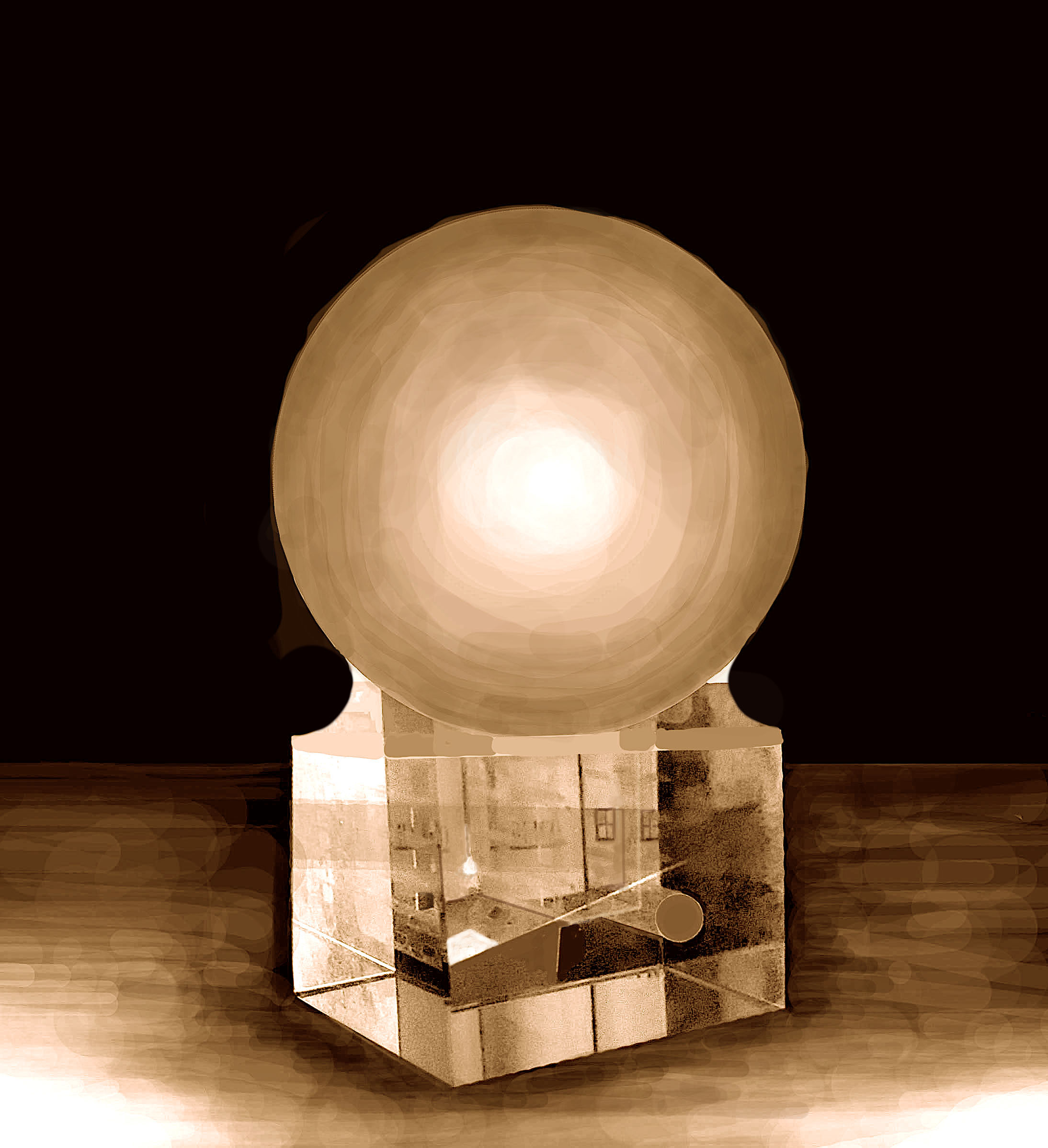
“O Sistema”. JAS. 05-2023
ESTA FRASE, “A culpa é do sistema”, era normalmente atribuída à esquerda radical, onde por “sistema” se entendia o capitalismo ou o imperialismo. Mas ela também é aplicável ao populismo, onde por “sistema” se pode entender um sistema político centrado na ideia de representação e governado pelas elites. Mas, em geral, ela também serve para atribuir à governação as culpas de todos os males da sociedade, a começar pela pobreza. A culpa, nestes casos, surge como resultado da acção da comunidade politicamente organizada e nunca referida ao indivíduo singular. Este surge sempre como vítima, nunca partilhando a responsabilidade pelo que acontece, numa autêntica inversão da famosa frase atribuída a John Kennedy: não perguntes sobre o que a América pode fazer por ti, mas sobre o que tu podes fazer pela América. Emerge sempre naquela frase o domínio total da comunidade sobre o cidadão singular, constituindo-se esta, por isso, como titular da culpa.
1.
O assunto merece uma reflexão profunda porque a tendência a elevar a fórmula a centro dos discursos políticos é também própria dos partidos de oposição (supostamente ao lado das vítimas), que atribuem a culpa de tudo o que de mau acontece nas sociedades a quem está no poder, gerando, com isso, uma correspondente predisposição nos que sofrem (no desemprego, na habitação, na saúde, na educação, etc., etc.): nunca atribuírem uma parte da culpa a si próprios. É o triunfo da tríade “liberdades, direitos e garantias” (da parte do sistema) e o obscurecimento da díade “responsabilidade e deveres” (da parte dos indivíduos singulares).
2.
A primeira posição tende a ser promovida, directa ou indirectamente, por aqueles que encontram no Estado a solução para todos os problemas; a segunda tende a ser promovida pelos que se filiam no pensamento liberal mais radical, em particular os que reconhecem que o Estado apenas deve garantir aquilo que comummente se designa por funções de soberania, excluindo outras funções, hoje sobretudo concentradas no chamado Estado Social. Uns defendem a justiça distributiva, outros defendem a justiça comutativa, ou seja, a igualdade de condições no fim ou a igualdade de condições apenas no princípio. Neste último caso, aplicar-se-ia o prosaico princípio de que “quem tem unhas toca viola”, valorizando, assim, o esforço pessoal, a inteligência e o saber no próprio percurso de vida, complemento indispensável das condições igualitárias que lhe foram oferecidas no início do seu ciclo de vida.
3.
Estas diferenças devem estar sempre presentes no espírito de quem faz política a sério porque elas marcam substantivamente opções de política muito diferentes. São ambas respeitáveis, mas são diferentes e têm consequências diferentes. E hoje, em Portugal, elas ainda fazem mais sentido se tivermos em conta a situação de crise económica e social que vivemos, favorecendo naturalmente a crítica radical ao sistema e à correspondente culpa, imputável ao governo do momento ou ao próprio sistema político. E o governo do momento, se tiver como matriz uma visão mais comunitária do que societária da vida social, tenderá a responder neste mesmo registo e a reforçar o Estado Social até níveis que aqui já apelidei de Estado-Caritas (hoje muito bem representado pelo actual Chefe de Estado). Mas a crítica será promovida não só pelos populistas, imputando a culpa às elites que nos governam e ao sistema que as alimenta, mas também pelos liberais, que consideram que há Estado a mais e que uma parte substancial da responsabilidade deve recair sobre os indivíduos singulares. Outros há (e não são assim tão poucos, dirá seguramente Luís Montenegro) que, sem se definirem muito bem, sublinham a crise na esperança de que o poder lhes caia rapidamente nas mãos, sem exigência de grandes definições. Quando à esquerda radical, também essa continuará a dizer que a culpa é mesmo do sistema.
4.
No meio de tudo isto, e por todas estas razões, o discurso absolutamente dominante em Portugal tem sido o que atribui a culpa ao sistema, tendendo a ilibar o indivíduo singular da culpa e silenciando o discurso da responsabilidade e do dever. É hoje absolutamente dominante no discurso político português a tríade das liberdades, direitos e garantias e o princípio da “caridade” institucional, que se inscreve numa visão estatizante da vida colectiva. Um discurso que, naturalmente, se acentua nos períodos de crise.
5.
Lamentavelmente, eu creio que esta é mesmo a situação que estamos a viver, com o cidadão a manter-se confortavelmente na própria comodidade ou na indiferença, só se levantando para exigir ao “sistema” a resolução dos seus problemas, mesmo quando eles são imputáveis exclusivamente a si próprio. É por isso que se tem vindo a manter uma grande estabilidade nas grandes opções políticas da cidadania, abrindo-se somente brechas lá onde o Estado se revela incapaz de dar solução aos problemas que o próprio establishment político e mediático (com o seu enorme poder de agendamento público) chama ao topo da agenda. O que quero dizer é que estamos perante uma enorme falta de clareza nas opções de fundo dos partidos, sobretudo naqueles que têm vindo a governar alternadamente o país. Clareza nas alternativas relativamente às questões de fundo. Ou seja, falta clarificação sobre a própria identidade politica, sobretudo ao nível dos partidos da alternância, para não dizer que a tendência de fundo tem sido a de assumirem, ambos, espontaneamente, a vocação totalizante do Estado, diluindo as próprias diferenças. Por exemplo, li hoje um artigo de opinião num jornal onde a articulista instava veementemente o PSD a assumir-se como social-democrata e de esquerda, seguindo a orientação referida por Francisco Pinto Balsemão e atribuída a Francisco Sá Carneiro. Tenho as maiores dúvidas de que o PSD seja social-democrata ou que deva sê-lo, uma vez que social-democrata é o PS. Verificar-se-ia assim uma autêntica sobreposição política e ideológica. O PSD de Sá Carneiro era PPD, partido popular democrático, interclassista, e isso diferenciava-o do PS, ideologicamente mais alinhado com as classes subalternas. Na verdade, no meu entendimento, e em termos doutrinários, o PSD sempre foi um partido de tendência liberal-democrática. Mas o próprio PS nunca clarificou muito bem uma questão de extrema importância: sendo um partido socialista ou social-democrata um dia terá de esclarecer a sua relação com o pensamento liberal e com o iluminismo, a filosofia que lhe corresponde. Porque é nesta clarificação que a questão com que iniciei este artigo pode ser clarificada: o papel do indivíduo singular na sociedade, para que não continue refém dessa visão dominantemente comunitária, e de inspiração marxista. O SPD fê-lo em 1959, em Bad Godesberg. O Labour fê-lo ao longo de cerca de dez anos (entre 1985, com Neil Kinnock, John Smith e Tony Blair, e 1995/96). Só esta clarificação poderá também clarificar a sua ideia de Estado, das suas funções e o âmbito que elas abrangem. Por exemplo, para referir um caso muito actual – proposta de lei do governo -, deve o Estado legislar ao pormenor sobre a venda e o consumo de tabaco na via pública, promovendo uma lógica de progressiva higienização da vida colectiva? Ou a injunção sobre o direito de propriedade em matéria de habitação em nome de um mais que vago direito à habitação, onde mais parece que “se não tenho casa própria, a culpa”, lá está, “é do sistema”. O direito de habitação limita-se a ser direito a comprar casa ou a arrendá-la. A função do Estado, neste caso, deve ser a de promover, sem ferir os direitos individuais (como, por exemplo, o direito de propriedade), o mercado de arrendamento (por exemplo, através de uma drástica redução fiscal e burocrática) e não ser ele próprio o arrendatário ou até, em última instância, o garante da posse de habitação. A habitação é um bem essencial disponível no mercado como tantos outros, incluídos os bens alimentares.
6.
É claro que o sistema tem muitas culpas, embora tenha possibilitado avanços civilizacionais e materiais enormes. Sim, é verdade. Mas o que não se pode dizer sempre é que a culpa é do sistema e o sistema, assumindo a culpa, começar a fazer injunções na sociedade civil que não lhe competem. Ou, mais ainda, indo aos bolsos dos contribuintes (3 milhões em 5,4 milhões de agregados) que alimentam o sistema para se redimir da culpa de, por dever inscrito na sua matriz, dar tudo à chamada vítima do sistema. Sabemos bem a que é que esta filosofia levou.
7.
E se isto me incomoda na área política em que me revejo (mas talvez pertença à sua ala direita), também me incomoda ouvir dizer ao actual líder do PSD que este partido não tem problemas existenciais, apesar de ter um bem grande mesmo ali ao lado, provocado por um antigo militante do seu próprio partido. Na verdade, o grande problema existencial do PSD é precisamente a sua permanente indefinição de identidade. Melhor, a manutenção de uma equívoca identidade: pretender representar a direita, mas, ao mesmo tempo, declarar-se de esquerda ou social-democrata.
Não, a culpa não é só do sistema. Também é dos cidadãos, mas sobretudo dos que, abrigados no sistema, se sentem demasiado acarinhados por ele para mudar, nem que seja apenas numa lógica simplesmente transformista. O que seria muito pouco, mas, pelo menos, melhor do que a importação de uma lógica de higienização integral da vida colectiva, desde a linguagem até à saúde. JAS@05-2023
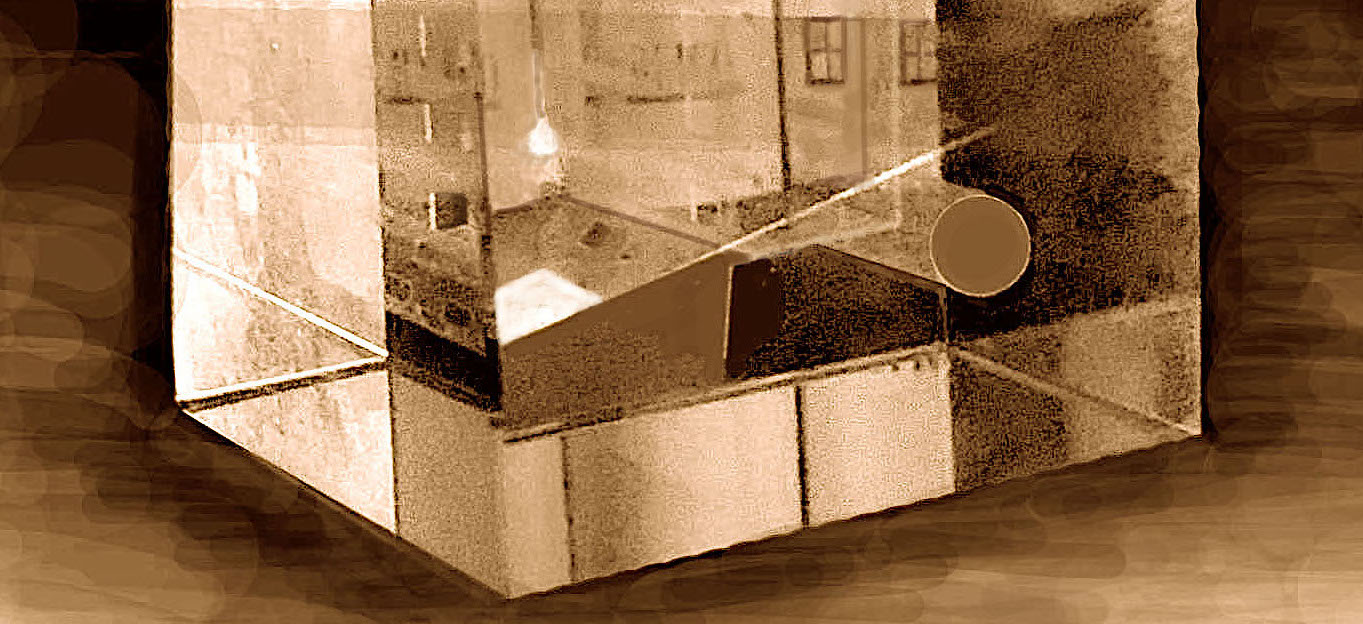
“O Sistema”. Detalhe.
O PRESIDENTE E A FUNÇÃO PRESIDENCIAL
Um Erro de Paralaxe?
Por João de Almeida Santos
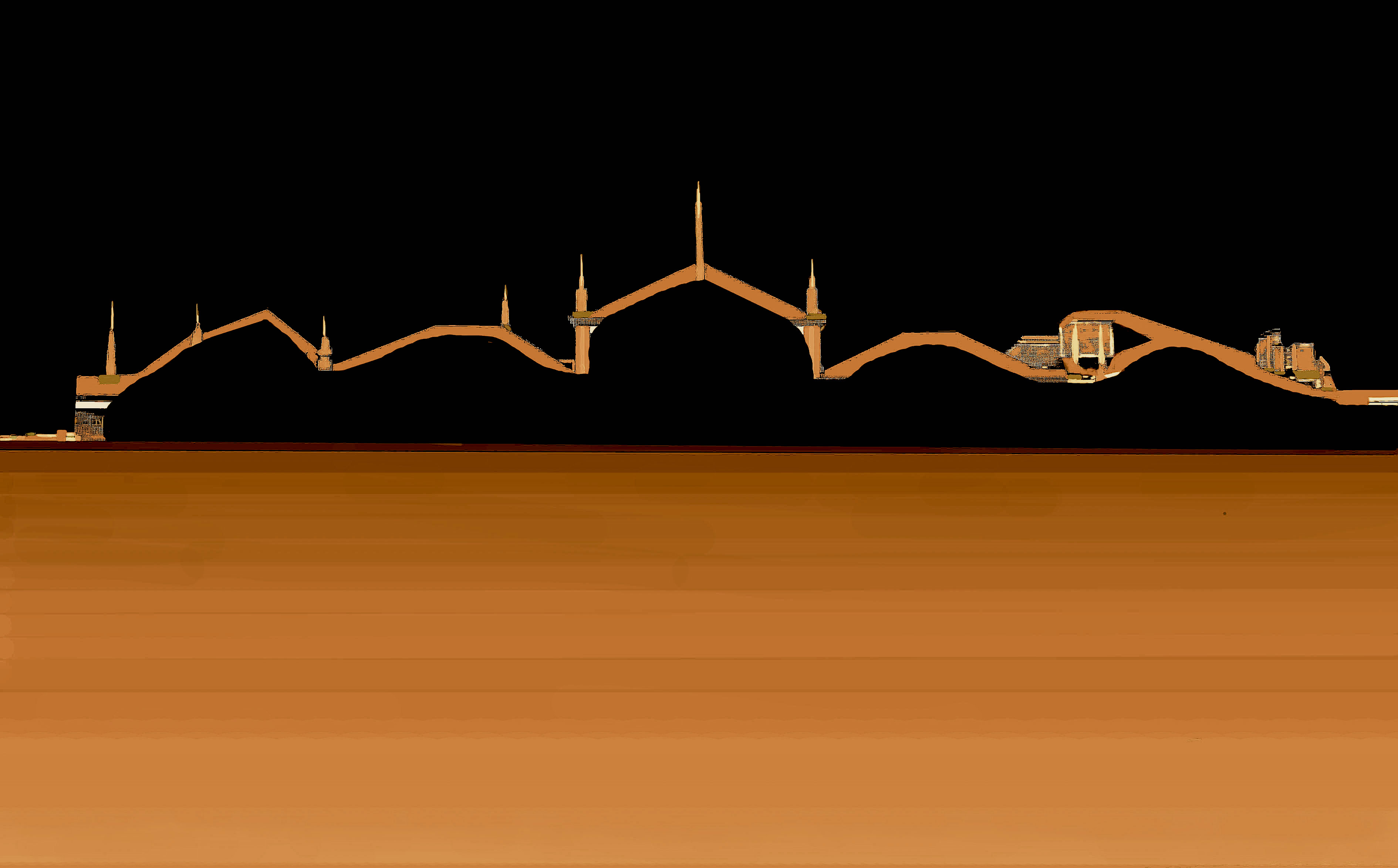
“S/Título”. JAS. 05-2023
ORA AQUI ESTÁ. Talvez se trate mesmo de um erro de paralaxe. O Presidente-Comentador, que tudo comenta, chama, de forma nem tanto subtil, publicamente irresponsável ao Primeiro-Ministro e dá ele próprio, sem se dar conta, exemplo do que é ser pública e politicamente irresponsável. Não se trata de um juízo moral, entenda-se, mas de um juízo relativo ao comportamento político e institucional. De tanto falar, o Presidente parece atropelar-se com as suas próprias palavras. Poder-nos-íamos perguntar pela razão que o levou a fazer esta declaração quando já tinha tornado pública, num curioso e intempestivo comunicado oficial, a sua discordância da decisão do Primeiro-Ministro. A primeira razão que me vem à mente é esta: não consegue ficar em silêncio em nenhuma circunstância, tendo de se manter permanentemente ligado à máquina mediática; a segunda razão foi a de mostrar que não “enfiou a viola no saco”, depois de o PM não ter correspondido à sua, já publicamente anunciada e enunciada, vontade; em terceiro lugar, foi a de dar seguimento institucional à vontade expressa pelo establishment mediático de querer exonerar o Ministro João Galamba, confirmando, assim, a sua remota e carinhosa filiação neste universo. Nada mais vejo que possa justificar este atropelo grosseiro à própria constituição, às relações institucionais entre poderes soberanos e à própria lógica da separação de poderes, para não dizer à ética institucional ou constitucional. Afinal, trata-se de um poder moderador, não de uma instância avaliadora da acção política governativa. A avaliação compete, isso sim, ao Parlamento, à oposição, aos partidos políticos e à cidadania. Pelo contrário, uma instância moderadora ( “último fusível de segurança”, como disse o próprio PR) não pode tornar-se parte porque, desse modo, perde a capacidade de moderar. Não por acaso, em relação à acção política da Presidência, se tem usado regularmente, e bem, a expressão “magistratura de influência”, baseada na “auctoritas”, na “virtus”, não na coacção simbólica, na reprimenda pública e na ameaça. De resto, a intervenção política do Presidente está bem expressa na Constituição: dissolução do Parlamento, promulgação dos diplomas legais, mensagens ao Parlamento, pronúncia sobre emergências graves (além dos actos formais de nomeação, demissão e exoneração do PM e dos membros do governo, estes sob proposta do PM).
1.
O direito de propor a exoneração de um membro do governo não pertence constitucionalmente ao PR e, assim sendo, este deveria, mesmo discordando, ter respeitado a decisão de quem tem esse poder, o PM, abstendo-se de a qualificar publicamente e deixando a tarefa crítica para quem tem essa competência política: a oposição partidária e parlamentar e a própria cidadania.
As palavras publicamente usadas para comentar a decisão são absolutamente inaceitáveis. E, pior, ao condenar publicamente, por duas vezes e solenemente, a decisão do PM, o Presidente está a substituir-se ao Parlamento e à oposição política, entrando até, e mais uma vez, no campo das ameaças, agora mais claramente expressas. O Presidente tornou-se, assim, o líder da oposição e a projecção institucional do establishment mediático. Assim sendo, não resta à maioria e ao PS outro caminho que não seja o de responder politicamente a esta novíssima figura institucional do Presidente. Pelo contrário, o PM e o governo devem, ao contrário do Presidente, manter a compostura institucional e o respeito pela função presidencial, ao mesmo tempo que devem redobrar esforços para governar o melhor possível. O problema, dirão alguns, é que, vendo realisticamente as coisas, Marcelo Rebelo de Sousa tem todo o establishment mediático e (quase) toda a oposição com ele e, por isso, tornou-se um problema muito sério para o governo e para a maioria que o sustenta. Sem dúvida. Mas a verdade é que, com esta intervenção, o PR demonstrou ter uma visão enviesada da função presidencial e da separação dos poderes, pelo que, no mínimo, o PS deverá lutar pela reposição da função presidencial no devido lugar para que não acabe por acontecer uma autêntica subordinação do poder executivo à vontade e ao arbítrio do Presidente, subalternizando o poder executivo e subvertendo a própria constituição da República. De ministro em ministro, as remodelações governamentais passariam a ficar nas mãos do Presidente e, já agora, do establishment mediático. A correcção deste enviesamento constitucional da função deveria, por isso, constituir o primeiro passo para a necessária correcção de trajecto.
2.
Em boa verdade, este já é o segundo nível em que Marcelo Rebelo de Sousa contribui para a degradação da função presidencial. O primeiro consistiu na confusão da função presidencial com a de comentador permanente de tudo o que acontece no país (incluída a acção governativa), do mais irrelevante ao mais relevante, num activismo opinativo verdadeiramente alucinante; o segundo consistiu em transformar a função presidencial em oposição política declarada ao governo e à maioria parlamentar. O que, na realidade, parece é que o Presidente tem vindo a transpor para a função presidencial as suas idiossincrasias e até os seus humores pessoais, não se atendo às funções que a Constituição da República lhe confere.
3.
E qual é, então, a resposta política perante este aviltamento da função presidencial? Simples: combate político, pois do que se trata é de um adversário político confesso. Uma luta dura, mas que tem de ser travada, para que o gesto de António Costa tenha consequências políticas substantivas e a honorabilidade política do PS seja preservada. Se não for travada, o PS pagará caro, caríssimo, o preço deste embate. A democracia é amiga das diferenças políticas, do debate argumentativo e, naturalmente, do combate político, desde que tudo ocorra no respeito pelas regras, o que, notoriamente, neste caso, não aconteceu. Assim sendo, e porque o PR se colocou voluntária e publicamente nessa posição, o PS deve retirar daí as consequências e lutar politicamente para que se remeta rapidamente à sua condição, à sua função constitucional e política, deixando que o Parlamento, a oposição política partidária e a cidadania controlem, critiquem ou até apoiem, se for caso disso, a acção do governo. Se não for travado este combate será a democracia representativa a sair fragilizada de todo este processo. A verdade é que o governo e o parlamento não podem estar permanentemente reféns da vontade do Presidente sob o cutelo ameaçador da dissolução da AR.
4.
Sendo um acto eminentemente político e devendo assim ser considerado, mesmo assim, na Constituição só dois artigos poderiam conferir razoabilidade a esta intervenção política do PR . O primeiro é o art. 133, alínea d): “dirigir mensagens à Assembleia da República”; o outro é o art. 134, alínea e): “pronunciar-se sobre todas as emergências graves para a vida da República”.
O primeiro não foi accionado e talvez fosse o único aceitável como modo de devolver à AR a função de controlo e de crítica dos actos do governo, protagonizando a iniciativa de uma pronúncia em sede parlamentar sobre o facto. O segundo não parece, de facto, configurar-se como “emergência grave para a vida da República”.
O que acabo de dizer torna ainda mais delicada a intervenção directa do PR junto dos portugueses (através das televisões), subalternizando o papel da Assembleia da República e da própria oposição. O que mais parece é que o PR quis cavalgar a onda mediática em curso, reforçando deste modo um consenso de tipo tablóide em torno da sua pessoa e dos seus actos, algo disruptivos. Ou seja, com esta intervenção o PR contribuiu ele próprio para descredibilizar as instituições (presidencial e governativa), cometendo ele próprio o pecado de que acusa outros, na verdade pecado bem pior do que o da situação rocambolesca da demissão de um simples adjunto de gabinete ministerial. E bem pior porque não só afecta gravemente as relações entre a Presidência e o governo, alterando o próprio modelo constitucional, mas também porque se configura como um grave atentado à imagem do PM e do governo praticado pelo mais alto magistrado da Nação. A hipocrisia política tem sido um dos factores que tem contribuído para a crise de representação que persiste e se avoluma, mas tanta e inorportuna exposição institucional do PR (e, por essa via, do governo) também pode produzir o mesmo resultado. Pois bem, aqui está o momento para dizer e fazer o que a política exige: clareza política nas regras e nas posições, frontalidade e determinação. Foi disto que gostei na decisão e na posição de António Costa: mostrar ao Presidente que as funções e competências de cada um devem ser respeitadas.
5.
O mal está feito e como o próprio Presidente disse, não se apagará “dizendo que já passou. Não passou. Nunca passa”. Reaparecerá “todos os dias, todos os meses, todos os anos. Porque tem de existir para que os Portugueses se não convençam de que ninguém responde por nada, nem manda em nada”. Trata-se, sim, de uma atitude que não tem retorno e o PS deve tirar daí todas as consequências políticas, não concentrando as atenções sobre o Ministro Galamba, como alguns ilustres socialistas já estão lamentavelmente a fazer, mas manifestando sem tibiezas o seu entendimento sobre as regras e sobre a atitude do presidente, demarcando-se desta interpretação absolutamente enviesada do que são os poderes presidenciais, ao mesmo tempo que deve declarar que não permitirá que sejam os media a governar o país, mas sim os que, mediante eleições livres, representam a cidadania. Na verdade, mais do que a questão do Ministro, o que verdadeiramente esteve em causa foi a usurpação de funções e competências. E, por isso, é a própria democracia representativa – regime onde as regras ocupam o centro do sistema – que exige clareza, mas também o necessário afastamento de qualquer tendência que promova o tabloidismo político, filho directo e dilecto do tabloidismo mediático, há muito em curso no nosso panorama editorial e cujo representante máximo parece ser cada vez mais o Presidente da República. Só assim o PS reconquistará a gravitas que tem vindo paulatinamente a perder e promoverá a sua posição virtuosa de força política ao mesmo tempo moderada, respeitadora das regras da democracia e progressista nos seus ideais. Neste caso, muito em particular, como em tantos outros, o PS não se deve remeter à condição de mero ventríloquo sem alma do governo ou de cúmplice do enviesamento da função presidencial. Bem pelo contrário, deve ter voz própria e lutar activamente pelo respeito das regras da democracia e pela dignidade da política.

POR QUE RAZÃO ANDRÉ VENTURA É TÃO DISRUPTIVO?
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 05-2023
QUANDO OUÇO André Ventura dizer aquelas coisas tão fora da caixa, tão politicamente incorrectas ou até mesmo tão pouco aceitáveis numa lógica de simples sensatez, interrogo-me sempre, para além das óbvias razões ideológicas de fundo, sobre o sentido oculto ou a estratégia oculta que existe no seu discurso. Ou seja, não tomo em consideração directamente o valor semântico do seu discurso, o seu conteúdo ideológico, mas sim os seus efeitos sobre a mecânica da opinião pública. Melhor ainda: não me preocupo em avaliar política, moral ou cognitivamente o seu discurso, por ser demasiado óbvia a sua matriz e a sua semântica, mas sim os seus efeitos sobre a dialéctica da atenção social e, em primeiro lugar, a que é polarizada pelo establishment mediático. É assim que me vêm sempre à mente quer a teoria do “agenda-setting” (McCombs e Shaw) quer a teoria do “agendamento” (Niklas Luhmann).
1.
O que dizem, no essencial, estas teorias? Dizem, acerca dos efeitos cognitivos e sociais dos mass media (que reportam o que o sujeito do discurso diz), que o essencial é a polarização da atenção social sobre o discurso e o agente do discurso. A entrada em agenda dos temas e dos agentes do discurso e o grau e a intensidade com que entram. Não é, pois, tanto o valor semântico do que é dito, mas o seu poder de se impor no processo de agendamento mediático, político e público (por esta ordem) e, consequentemente, na dinâmica da atenção social. É uma prática usada há muito. Berlusconi usou-a abundantemente, quando conquistou (em 1994) e exerceu o poder como primeiro-ministro. Donald Trump também. Comunicar coisas disruptivas, insensatas, brutais, insólitas, negativas, corresponde àquela que hoje é a prática dominante dos media na comunicação pública, ou seja, corresponde ao domínio da categoria do negativo, transversalmente, em todos os géneros discursivos (política, desporto, sociedade, etc., etc.), no discurso público. Alguém dizia que notícia, notícia, não é o cão morder o homem, mas o homem morder o cão. Ou, então: “good news, no news”. É algo muito experimentado na comunicação pública, ao lado das famosas campanhas negras. Esta técnica, que não é nova, tem dado bons resultados: o importante é que falem de ti, não importa se bem ou mal. A semântica terá sempre, nesta lógica, uma importância secundária. O importante é entrar na agenda pública, se possível chegar mesmo ao topo.
2.
Mesmo que, do ponto de vista ideológico, haja diferenças muito grandes e que cada partido ou movimento as afirme de forma mais ou menos intensa, como é natural, o essencial não está, todavia, na posição ideológica do discurso, mas sim na capacidade que ele tiver de atrair e polarizar a atenção social, independentemente do valor semântico da mensagem, dos seus conteúdos políticos, programáticos e ideológicos, que sempre implicam um nível mais exigente de descodificação. Só assim se compreende a razão de certos discursos ou de certas atitudes aparentemente sem sentido. Por exemplo, eu enquadro, entre tantas outras suas posições discursivas e disruptivas, as manifestações do CHEGA durante a visita oficial do Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, a Portugal, nesta estratégia. É evidente que este partido passou das marcas minimamente aceitáveis (pelo menos, as da educação), mas a verdade é que o que subjaz a estas acções discursivas é o desejo absoluto, a qualquer custo, de polarizar a atenção social, ocupando as agendas mediática, política e pública e aumentando, deste modo, a notoriedade e, consequentemente, o impacto eleitoral. O disruptivo e o negativo como categorias comunicacionais supremas. Ou o triunfo esmagador do tabloidismo comunicacional e político, que se alimenta destas categorias. Quem vir os telejornais das oito, de todos os canais, facilmente compreenderá o que estou a dizer. M. McCombs e D. Shaw diziam, em 1972, em “A função de agenda-setting dos mass media”, acerca da agenda-setting, citando Bernard Cohen: “a imprensa ‘pode, na maior parte dos casos, não ser capaz de sugerir às pessoas o que pensar, mas ela tem um poder surpreendente de sugeriraos leitores sobre o que pensar’ ” (itálico meu). Conquistar a agenda mediática e a agenda pública significa ganhar notoriedade política. O importante não é, pois, o conteúdo específico da comunicação (a sua descodificação exige, como disse, sempre um esforço suplementar), mas sim o lugar que a acção discursiva virá a ocupar na hierarquia das notícias e do debate público. A posição que se alcançar neste plano condicionará o impacto político, o reconhecimento implícito do poder de agenda da força política promotora e, naturalmente, a sua posição na relação de forças política. Esta influência implicará seguramente significativos dividendos eleitorais.
3.
É esta a principal razão dos discursos políticos altamente disruptivos e fortemente negativos. Trata-se de uma opção consciente. E de qualquer modo as forças radicais ou populistas encaixam-se melhor do que as outras forças políticas naquela que é a estratégia discursiva dominante dos mass media, onde o tabloidismo já ocupou o centro da estratégia de conquista das audiências. Berlusconi conseguiu, na pré-campanha e na campanha de 1994, fazer de si próprio o centro de todo o debate nacional no processo que conduziu às eleições que ocorreram em Março: em nove meses criou um partido de raiz e venceu as eleições. Matteo Salvini, a partir do Ministério do Interior, pôs no centro do discurso a questão da imigração e os seus perigos para a sociedade italiana, dominando totalmente a agenda mediática, política e pública, com os efeitos que se conhece nas eleições europeias de 2019 (cerca de 34%). O discurso de Trump era, todo ele, permanentemente disruptivo, negativo e “unusual”. O mesmo vale para o BREXIT em relação à imigração.
4.
Estas forças, porque são radicais, populistas, anti-sistema e promotoras de um discurso negativo e de rejeição, adoptam este tipo de elocução com maior naturalidade, conseguindo, deste modo, aproveitar melhor a dinâmica do discurso mediático e, deste modo, polarizar a atenção social, aumentando a notoriedade, com significativos ganhos eleitorais. Sobretudo num momento em que as forças da alternância e do establishment estão em fase de progressivo desgaste, motivando distância e até irritação por parte dos cidadãos. Papel não despiciendo neste desgaste tem sido desempenhado, não só pela atmosfera de crise que se tem vivido, mas também pela onda de politicamente correcto que se tem abatido sobre o centro-direita e o centro-esquerda e que tem sido habilmente aproveitada pelo populismo de direita, atribuindo-a, em geral, e já com alguma razão, ao establishment. O que se tem vindo a traduzir na fragmentação dos sistemas de partidos e no fim do clássico bipolarismo partidário que se fora afirmando progressivamente desde o fim da segunda guerra mundial até aos anos noventa.
5.
Mas isto não parece estar a ser compreendido pelas forças políticas moderadas e mais identificadas com a matriz do sistema político e institucional, acabando por acarinhar a sua estratégia ao transformarem estes radicais em objecto central do seu discurso, contribuindo, deste modo, para os colocar permanentemente no centro da agenda pública. Que os media lhes dêem protagonismo, isso parece resultar naturalmente da sua própria estratégia discursiva tablóide, mas que os partidos da alternância e os da própria extrema-esquerda caiam com tanta facilidade na teia discursiva destas forças é que não se compreende lá muito bem. Os resultados estão à vista. JAS@05-2023
NOTA
JÁ TINHA ESCRITO O ARTIGO quando se deu, ontem, aquele extraordinário episódio que vai ficar nos anais da política em Portugal. Quando se assistia a uma intensa e total convergência de todo o establishment mediático e da própria Presidência da República que parecia conduzir inevitavelmente à demissão do Ministro das Infraestruturas, tendo tido, inclusivamente, como resultado uma carta de demissão do próprio, pudemos assistir, durante cerca de meia hora, em directo, a uma comunicação ao país do Primeiro-Ministro em que recusava liminarmente a demissão do Ministro, explicando minuciosamente a razão da sua decisão e atribuindo-a a um imperativo de consciência. Ainda estava o PM em directo e já a Presidência emitia uma comunicação em que dava conta da discordância do Presidente em relação à decisão do PM. Esta nota foi como que o selo institucional da Presidência aposto sobre a narrativa mediática que antecedera a corajosa decisão do PM. Também aqui já não interessam as razões concretas, mas sim o facto de o PM ter decidido rapidamente e em contraciclo, não só em relação ao establishment mediático, mas também àquele que cada vez mais parece ser o seu mais alto representante, o próprio Presidente. Uma dramaturgia onde o PM fez, inesperadamente, e de forma brilhante, um pirandelliano jogo das partes, elevando-se na cena como actor principal e ditando inesperadamente o próprio desfecho deste acto da complexa e delicada dramaturgia em curso. The show must go on…
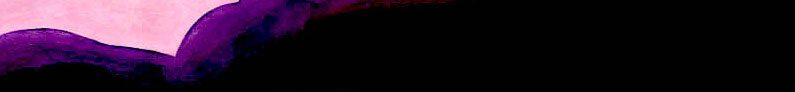
“25 DE ABRIL DE 2023 NA GUARDA”
UMA NOTÍCIA E UMA REFLEXÃO
Por João de Almeida Santos

O Quadro oferecido à Freguesia da Guarda. JAS. 25-04-2023
I.
PASSEI o meu dia 25 de Abril na Cidade da Guarda, onde, durante a manhã, na Sala da Assembleia Municipal, recebi, das mãos do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Relva, e na presença do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, a “Medalha de Honra do Município – Grau Ouro” e o “Título de Cidadão Honorário da Guarda”.

O momento em que recebi a Medalha de Ouro do Município e o Título de Cidadão Honorário da Guarda.
Uma enorme honra. Foi nesta Cidade que fiz os estudos secundários, no Liceu Nacional da Guarda, sendo natural de Famalicão da Serra, uma freguesia deste Concelho. E foi nesta Cidade que, durante oito anos (2005/2013), desempenhei as funções de Presidente da Assembleia Municipal da Guarda e, decorrendo da minha condição de deputado municipal, desempenhei, durante sete anos (2006/2013), as funções de Presidente eleito da Assembleia da Comunidade Intermunicipal “COMURBEIRAS”.
Depois, pelas 16:30, foi inaugurado, na Sala de Actos da Junta de Freguesia da Guarda, um quadro alusivo à Cidade da Guarda, de minha autoria, que tive o gosto de oferecer à Freguesia da Guarda no ano em que comemora o seu décimo aniversário. Ainda por cima ficará num edifício – a Sede da Junta – onde nos meus tempos de liceu me treinava diariamente, com o meu amigo Henrique Martins, para os campeonatos distritais de ping pong, em que ainda cheguei a participar. A esta minha oferta não é alheio o papel que desempenhei no processo de agregação das freguesias do Concelho da Guarda (de 55 passámos para 43 freguesias) e, por isso, na decisão de criar uma só freguesia urbana, enquanto Presidente da Comissão que levou por diante o processo, num clima de grande consenso.

Na Sala de Actos da Junta de Freguesia da Guarda, no momento da inauguração do Quadro
Um dia cheio, para mim, este, o do 49.º aniversário do 25 de Abril, esse momento mágico em que Portugal recuperou a sua liberdade, depois de 48 anos de ditadura.
Fico grato ao Município e à Freguesia da Guarda por terem tornado possível ficar deste modo simbólico associado àquela que é a minha Cidade de origem.
II.
O 25 de Abril de 1974 representou uma ruptura no nosso tempo histórico. Passámos de um regime autoritário e retrógrado, que subsistiu 48 anos (1926-1974), a uma democracia representativa aberta ao futuro e livre. Estávamos em guerra há cerca de treze anos, o interior do país desertificava-se, com a emigração clandestina (“a salto”), não havia liberdade nem desenvolvimento e sofríamos um pesado isolamento internacional. O 25 de Abril abriu o país ao futuro e ao mundo. Mas, passados 49 anos, as promessas estão a ser cumpridas? No essencial, sim. Basta comparar os dois mundos, mesmo subtraindo o natural desenvolvimento que o tempo, só por si, gera. A diferença vê-se bem se olharmos, no arco de umas dezenas de anos, para as aldeias do interior. E, todavia, a aceleração do tempo histórico está a exigir respostas que parece que o país não está a conhecer, mesmo subtraindo também os problemas internacionais que não pudemos controlar, a crise de 2008, a pandemia e, agora, esta guerra estúpida que o senhor Putin lançou contra um país independente, a Ucrânia. Sim, é necessário fazer algo para acompanharmos o ritmo acelerado da história, em todas as suas frentes, incluída a da política. E creio que o primeiro passo, talvez mesmo o mais importante, deva ser o de reconhecer humildemente o que somos e a nossa própria dimensão, sem nos enganarmos, como vai acontecendo, com um discurso sobranceiro, como se ocupássemos no mundo um lugar que de facto não ocupamos. Recomeçar a partir daquele que é o nosso lugar talvez seja verdadeiramente o que de fundamental há a fazer para conquistarmos um futuro mais sólido e avançado. A “consciência de si” é sempre o primeiro e devido passo que devemos dar para com segurança prosseguirmos na nossa própria construção. Se isto é válido para cada um de nós, também o é para os países. E, nele, verdadeiramente importante é a política, não aquela que se limita a conquistar o poder e a usá-lo para se perpetuar, mas aquela que se põe ao serviço da colectividade, com sensibilidade, determinação, saber e movida exclusivamente pela ética pública. E, por isso, a pergunta sobre as promessas cumpridas ou não cumpridas da nossa democracia, deverá ser dirigida aos seus intérpretes, estejam eles no governo ou na oposição. E, seguramente, este dia 25 de Abril será sempre o momento ideal não só para formular esta pergunta, mas também para lhe responder cabalmente sem preocupações de agradar, ou não, à opinião pública e ao eleitorado, tratando-se, como se trata, de uma questão crucial para o futuro do país. É que a “consciência de si” prescinde totalmente da retórica do convencimento e do consenso, porque se trata de um confronto directo com a verdade. E, sem verdade, a política não serve.

Detalhe do meu Quadro “Liberdade”.
CINQUENTA ANOS – E AGORA, PS?
Por João de Almeida Santos
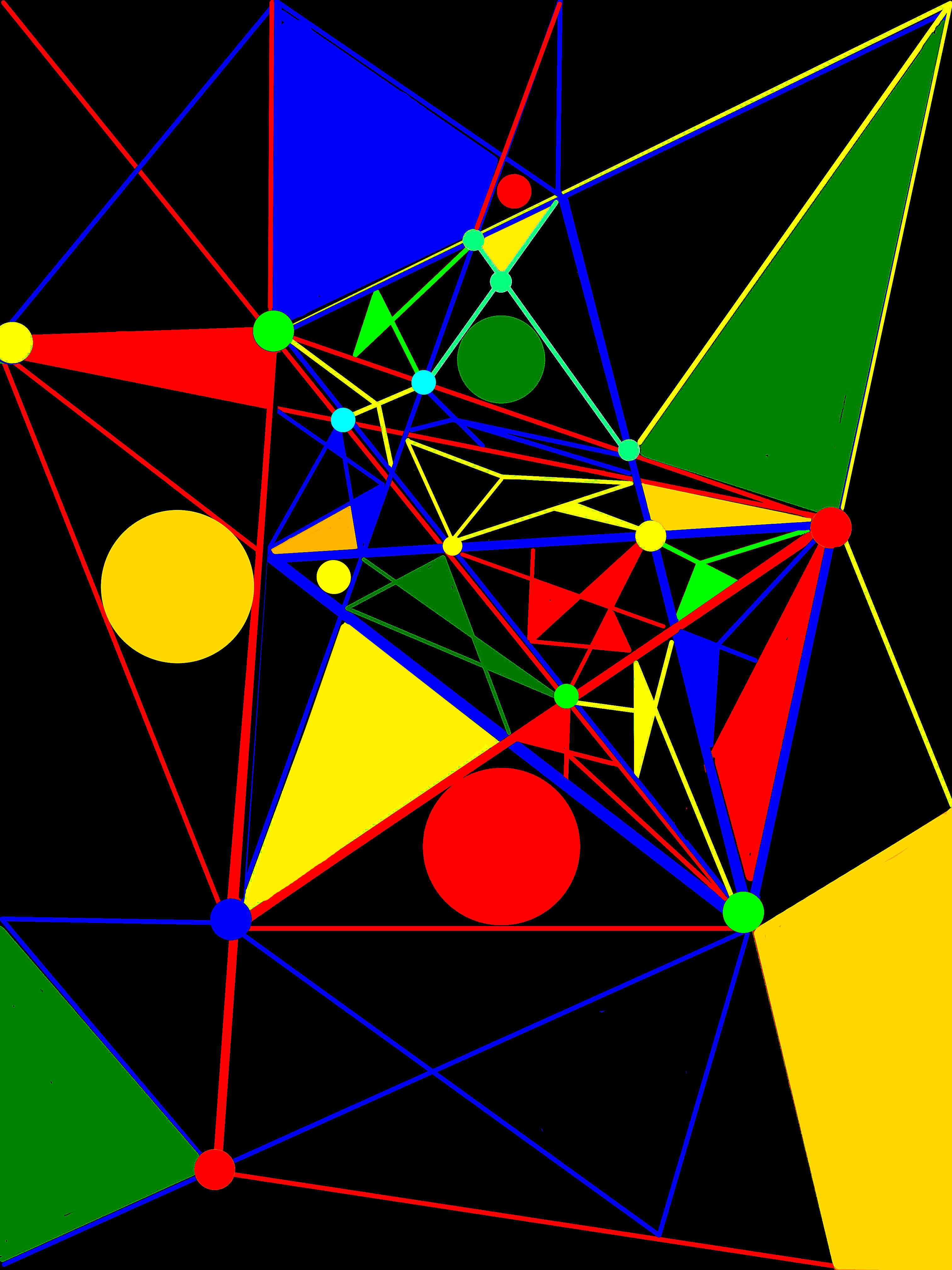
“S/Título”. JAS. 04-2023
O PS FAZ HOJE CINQUENTA ANOS, se não considerarmos como início da sua vida a iniciativa política de Antero de Quental, de Azedo Gneco e de José Fontana, entre outros, em 1875. Fixemo-nos, pois, em Abril de 1973, para concluirmos que ninguém poderá esquecer o papel que o PS teve na construção da democracia representativa que hoje temos e o rosto que o protagonizou, Mário Soares. Mais, os avanços significativos da nossa democracia tiveram sempre o PS como seu protagonista essencial. O seu espaço político foi e é um espaço virtuoso porque procura combinar de forma harmoniosa a liberdade e a igualdade, o papel fundamental do Estado com a vitalidade da sociedade civil, a convivência das forças mais conservadoras com as forças mais radicais, desde que se inscrevam nos nossos valores constitucionais, ou seja, desde que pratiquem aquilo que um dia Habermas designou, falando da União Europeia, como “patriotismo constitucional” (Habermas, “Cittadinanza e Identità Nazionale”, In Micromega, 5/91, 123-146). O passado deste partido é algo de que os portugueses se devem orgulhar. Os erros também acontecem, mas o legado é altamente positivo, durante os cerca de 25 anos em que o PS governou este País.
E AGORA, PS?
E, hoje, perguntarão? Respondo, neste dia de aniversário, não com considerações sobre o passado, mas sim, numa lógica prospectiva, olhando mais para o futuro do que para o passado. Se o diagnóstico é sobre o que temos, o objectivo, todavia, é a resposta aos desafios que temos pela frente e a mudança para melhor, como forma de honrar esse passado de prestígio.
E a primeira observação que me parece dever avançar é a que resulta do reconhecimento das profundas mudanças que estão a acontecer nas sociedades contemporâneas e, consequentemente, da pergunta que se impõe: está o PS a mover-se tendo realmente em conta estas mudanças? Temo que a minha resposta não possa ser inteiramente positiva. Não me parece que o PS esteja hoje a responder com criatividade, eficácia e empenho prospectivo aos desafios que estão aí à nossa frente. E se não o fizer enquanto partido, dificilmente o poderá fazer enquanto governo, por razões que são fáceis de compreender. Enquanto partido, sofre, em geral, as dificuldades que todos os partidos socialistas e sociais-democratas estão a sentir e que já se estão a traduzir em resultados eleitorais (refiro-me às recentes sondagens disponíveis) pouco entusiasmantes, na Espanha, na França, na Alemanha, na Itália ou na Grécia. Mais, sofre, em geral, as dificuldades que os partidos do chamado establishment, os da alternância democrática, os do centro-esquerda e do centro-direita, estão a sofrer e que se estão a traduzir na progressiva fragmentação dos sistemas de partidos. Esta fragmentação já está em curso também em Portugal. Ou seja, sofre os efeitos da progressiva redução da política à sua dimensão de puro “management”, à identificação de governo com governança (“governance”), a uma prática política sem alma e à perda de uma vocação hegemónica que possa conduzi-lo à formação de um bloco histórico (Gramsci), envolvendo as forças sociais com maior capacidade de propulsão histórica, capaz de conduzir o país para um futuro sólido, em vez de promover cada vez mais um discurso de comiseração ao mesmo tempo que mantém taxas de sobrecarga fiscal sobre a classe média absolutamente incomportáveis. Ou seja, o PS está a praticar uma política de movimento por inércia, fundada num pragmatismo táctico que não prenuncia tempos de esperança, como devia ser sua vocação enquanto partido de esquerda. Internamente, o PS mantém uma estrutura orgânica pouco dinâmica ou mesmo inadequada aos tempos que vivemos: totalmente dependente do Estado; paralisado nas suas estruturas orgânicas (por exemplo, no gabinete de estudos, na fundação, no “jornal” de partido, nas revistas de pensamento político); presença diminuta e apagada no universo sindical e, em geral, nas organizações da sociedade civil (veja-se o que tem acontecido na área do socorro de emergência, nos bombeiros), designadamente nos novos movimentos por causas, na comunicação social, nas universidades; alheamento em relação ao papel das grandes plataformas digitais e ao seu papel na mobilização da cidadania; posição incerta sobre o futuro da União Europeia (a opção seria ou pela constitucionalização da União ou pela lógica simplesmente intergovernamental ou funcionalista). O PS parece estar a mover-se exclusivamente concebendo a política como pura comunicação instrumental para o consenso, em linha com a sua visão de puro pragmatismo governamental e com a sua dependência do aparelho de Estado, incapaz de metabolizar as profundas mudanças que estão a acontecer no plano da sociedade civil, designadamente graças à rede, à inteligência artificial e à globalização, sobretudo a globalização financeira, migratória e das grandes plataformas digitais.
A POLÍTICA DEMOCRÁTICA E A QUESTÃO DAS FONTES DO PODER
Num ensaio que aqui publiquei na passada Quarta-Feira, “A Política na Era do Algoritmo”(https://joaodealmeidasantos.com/2023/04/11/ensaio-29/), falava de três “constituencies” que hoje estão na origem constitutiva do poder, mesmo no plano do Estado-Nação: a do cidadão contribuinte (a original), a dos credores financeiros internacionais que financiam, através do mercado financeiro internacional, as dívidas soberanas e a das grandes plataformas digitais que contratualizam informalmente com a cidadania prestação de serviços e acesso à informação e à produção de conteúdos, numa dimensão que é profunda, individualizada e simplesmente gigantesca, com fortes efeitos sobre o comportamento político da cidadania, como se sabe.
Esta composição das fontes do poder e da soberania deverá ser objecto de cuidada ponderação pelas forças de governo e pela União Europeia de forma a evitar a erosão definitiva da “constituency” originária, a única sujeita a “accountability” pela cidadania, e, com isso, evitar a destruição da própria democracia representativa.
A não assunção crítica destes factores implicará um esvaziamento da política democrática e da deliberação pública, grave sobretudo ao nível de partidos que têm o particular dever, enquanto se reivindicam de esquerda, de garantir a sustentabilidade e a promoção da política democrática e representativa, ou seja, de garantir que a soberania do cidadão não é definitivamente confiscada por poderes não sujeitos a “accountability” política. Bem pelo contrário, é seu dever promoverem a evolução para uma democracia deliberativa, a única que, mantendo a representação, pode resolver o problema da cisão entre representantes e representados (veja o meu texto sobre a democracia deliberativa em Camponês, Ferreira e Rodríguez-Díaz, Estudos do Agendamento, Covilhã, Labcom, 2020, pp. 137-167 – https://labcomca.ubi.pt/estudos-do-agendamento-teoria-desenvolvimentos-e-desafios-50-anos-depois/).
A INFILTRAÇÃO IDEOLÓGICA E A IDENTIDADE DO PS
Acresce a tudo isto que a este desvio para um excessivo pragmatismo (eleitoral) de governo, sem alma nem clareza ideológica, sem uma cartografia cognitiva exigente ou sem o suporte de uma grande narrativa ou de uma utopia mobilizadora (recentemente, em artigo em “El País”, o presidente de Más País, e um dos fundadores de Podemos, Iñigo Errejón, falava da necessidade de regressar a uma “política que volte a ser ingénua e utópica”, 14.04.23, pág. 11), que até pode ser a de uma democracia deliberativa (Santos, 2020), que confira mais poder ao cidadão no interior do sistema representativo, se veio a juntar a importação de perigosos produtos ideologicamente tóxicos, assumidos como se neles pudesse acontecer a redenção ideológica de um partido que deixou de cuidar das questões doutrinárias e da sua própria identidade político-ideal. Refiro-me à ideologia woke, ao politicamente correcto, à conversa enjoativa da linguagem inclusiva e neutra, ao radicalismo da ideologia de género, que vê a relação homem-mulher como uma mera relação de poder, e ao revisionismo histórico (veja a minha crítica a estas ideologias em: https://joaodealmeidasantos.com/2023/04/04/manifesto/ ). A forma como estas ideologias têm vindo a evoluir, designadamente galgando os espaços partidários dos partidos do establishment e os espaços institucionais, assumindo cada vez mais dimensão normativa nas instituições nacionais e internacionais e impondo-se na opinião pública e na sociedade através de estereótipos com força de coação moral, em muito tem contribuído para alimentar a ideologia iliberal da extrema-direita que as identifica, embora errada e instrumentalmente, com a própria mundividência liberal, sua inimiga jurada, desde os tempos do romantismo do século XIX. A intrusão daquelas ideologias – que de liberais, afinal, nada têm, sendo, pelo contrário, suas adversárias – na mundividência dos partidos socialistas e sociais-democratas, que, pelo contrário, radicam e se filiam no iluminismo, é facilitada por uma ideologia de tipo orgânico que, por um lado, rejeita o próprio património liberal (que está na matriz da nossa própria civilização – veja-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789) e, por outro, se afastou da tradição marxista, sem se preocupar em encontrar uma consistente mundividência alternativa em linha com os novos tempos. Eu próprio tentei uma redefinição da doutrina em Política e Democracia na Era Digital (Lisboa, Parsifal, 2020, pp. 15-47 e 133-153), desenvolvendo, neste livro, a que já apresentara na Universidade de Verão do PS, em Santarém, em 2015. Os trabalhistas ingleses tentaram esse aggiornamento nos anos cinquenta, com Hugh Gaitskell, mas somente em 1985, com Neil Kinnock, e, depois, com John Smith e Tony Blair, viria a ser desenvolvido na forma de New Labour ou de Terceira Via, tão execrada pelos sociais-democratas tradicionais e, mais tarde, até pelo próprio Labour de Jeremy Corbyn, com os magníficos resultados que se conhece (e que aqui critiquei várias vezes, durante o período da liderança de JC). O recomeço do Labour a partir de 1997 (data em que, após a consolidação interna do New Labour, Blair iniciou a sua caminhada governativa), assumido explicitamente pela liderança de Keir Starmer, está a projectar o Labour de tal modo que poderá vir a ser vencedor absoluto nas próximas eleições (549 mandatos em 650, previstos por uma recente sondagem). Por sua vez, o SPD fez esta operação de libertação da tradição marxista em 1959 e de regresso ao iluminismo, no famoso Congresso de Bad Godesberg. Um e o outro, na sequência destas mudanças, viriam a conquistar o poder e exercê-lo durante bastante tempo. Na verdade, tratou-se do abandono da sua identidade como partidos-igreja para assumirem mais a forma de catch all parties, na sequência do crescimento da “middle class” e da necessidade de lhe corresponder politicamente. O PS de Abril manteve, todavia, na sua Declaração de Princípios de 1974, uma posição, certamente por força da conjuntura que então se vivia, muito alinhada com as teses e os princípios marxistas (“sociedade sem classes” e colectivização dos meios de produção e de distribuição”, 1.2.), só mais tarde evoluindo paulatinamente para posições mais moderadas, mas sem grandes rupturas de fundo, designadamente em dois aspectos essenciais: na manutenção da sua rejeição do património liberal clássico (e apesar de o iluminismo ser a filosofia em que necessariamente se inscreve), que sempre considerou como sendo de direita (apesar de existir um filão chamado socialismo liberal, que vai de Stuart Mill a Hobhouse, Hobson, Capitini e Calogero, Rosselli, Dewey, Bobbio e o Partito d’Azione italiano – veja-se o meu livro Paradoxos da Democracia, Lisboa, Fenda, 1998, pp. 65-68), e na assunção orgânica do predomínio da ideia de comunidade sobre a ideia de sociedade, um velho resquício sobrevivente do marxismo, e não tanto da teoria de Toennies ou de Weber. Na verdade, o PS, ocupado regularmente nas tarefas da governação durante cerca de 25 anos nos 49 da nossa democracia (em rigor, mais 47 do que 49), nunca chegou a efectuar um verdadeiro aggiornamento de fundo da sua doutrina no sentido de um esclarecimento ideológico equivalente ao que o Labour ou o SPD fizeram, sobretudo nestes dois aspectos que referi, o da compatibilidade da tradição liberal com a sua própria tradição e identidade (o que tem implicações muito relevantes sobre o modo como são vistos os direitos individuais) e o da remoção desse resquício comunitário (com o equivalente sentimento de pertença, que neste partido ainda é quase exclusivo), que persiste. Falta clareza sobre os limites da intervenção do Estado, o papel dos partidos políticos na sociedade, a dinâmica da relação entre o princípio da liberdade e o princípio da igualdade (não se sabendo, hoje, bem qual destes dois princípios tem a primazia, embora o discurso acentue cada vez mais o da igualdade), a chamada classe “gardée” ou referência social dominante no discurso do PS, a questão do peso fiscal sobre a cidadania (que está ligada à questão do papel e funções do Estado, que, sendo Estado Social, não é seguramente um “Estado-Caritas”, amigo caritativo dos “pobrezinhos”), a questão da hegemonia, a relação com os movimentos sociais por causas, a estratégia para a projecção no futuro do país e da própria União, entre tantas outras coisas.
O PS VISTO MAIS DE PERTO
A recente tentativa feita por um centro de investigação do ISCTE, encomendada pelo PS, sobre o partido e o poder local não veio alterar no essencial as coisas, nem, de resto, parece ter tido grande sucesso ou sequer divulgação interna como documento fundamental. Por outro lado, a tentativa de criar uma (bela, de resto) revista semestral de pensamento político, Portugal Socialista – Revista Política, bilingue (português-inglês), na altura dirigida pelo actual presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, Luís Pita Ameixa, parece ter ficado pelo caminho, creio que pelo seu número dois. A própria Revista Finisterra (que era propriedade da Fundação José Fontana e que agora é propriedade da Fundação Res Publica), que há muito parece estar um pouco abandonada, mas agora dirigida por Fernando Pereira Marques, em dez anos limitou-se a publicar onze números, acabando por ter somente uma periodicidade anual e não desempenhando, designadamente com iniciativas de mobilização, uma função orgânica e propulsora para a revitalização do universo intelectual e doutrinário em que se inscreve o PS. O Acção Socialista, que tive a honra de dirigir durante três anos e de informatizar, e que, há anos, é dirigido pela deputada Edite Estrela, pouco ou nada contribuiu, nesses anos, para promover o aggiornamento doutrinário do PS, limitando-se a ser um repositório de artigos de pura política interna e de propaganda, sem ambições doutrinárias e ideológicas, até pura e simplesmente desaparecer, ao ser convertido em mero espaço noticioso do site do PS, embora com a designação de Acção Socialista Digital. Na verdade, Edite Estrela, ao tornar o Acção Socialista um “jornal” diário ou uma Newsletter semanal, o que fez foi acabar mesmo com ele. Se já era pouco, agora é mesmo nada. O PS deixou de ter um jornal próprio. Restam o nome e a Directora. Dois nomes, somente, porque a coisa já não existe. A própria Fundação Res Publica, dirigida por Pedro Silva Pereira, que absorveu a Fundação José Fontana e a Fundação Antero de Quental, pouco ou nada tem feito, estando certamente o seu presidente mais ocupado com o Parlamento Europeu, de que é Vice-Presidente, do que com a gestão e a programação da Fundação. Mas ainda houve tempo para criar, entretanto, em Abril de 2021, uma Revista, Res Publica – Revista de Ensaios Políticos, dirigida por si, que publicou, até ao momento, três números. A Fundação Res Publica tem, pois, neste momento, duas Revistas de pensamento político (Finisterra e Res Publica), ambas, na realidade, de periodicidade anual. Uma abundância que, na prática, se converte em nula função orgânica, quando a revitalização ideológica e doutrinária é aquilo de que o PS mais precisa. Em tempos, e é um mero exemplo, a Fundação Antero de Quental, dirigida por Jorge Lacão, foi um importante centro de estudos e de actividade dirigidos ao poder local. Mas, hoje, o que me parece realmente é que o PS, nesta área, anda ao sabor das idiossincracias ou dos humores pessoais de certos seus dirigentes, numa vaga que não se entende.
AFINAL, O QUE É A POLÍTICA?
Tudo isto, que não é pouco, porque se trata de instrumentos preciosos para o robustecimento cultural, ideológico e doutrinário do PS e para a promoção da literacia política dos seus militantes, deverá ser objecto de uma profunda reflexão, pelo menos por aqueles que se preparam para avançar para a liderança no pós-António Costa, preparando um futuro que não seja simplesmente o de fazer cálculos tácticos e eleitorais para a conquista do poder político institucional e para a ocupação do aparelho de Estado, deixando como mero adereço o trabalho no campo estritamente político, ideológico, doutrinário e cultural. Isso é o que se tem verificado, estando o PS transformado num mero partido-veículo (para conduzir ao Estado) e tornando residual a sua relação com a sociedade civil, a não ser numa lógica exclusivamente eleitoral e de redução da política à sua dimensão puramente táctica. O que acontece é que a política é algo mais vasto e mais denso do que a mera competição eleitoral e, seguramente, também é muito mais do que uma mera “arte do equilíbrio”, como a definiu, na passada Segunda-Feira, Fernando Medina, até porque é ela que deve ser a base sobre a qual devem ser construídos os projectos políticos, as próprias competições eleitorais e as soluções de governo. Mas essa função só pode ser desempenhada por um partido que seja já um pequeno universo onde se desenvolve uma vida autónoma e plural capaz de vir a alimentar as forças necessárias para a conquista da hegemonia ético-política e cultural, para a construção de um sólido bloco histórico e para a formação de governos competentes, densos e movidos exclusivamente pela ética pública. A política não é, de facto, uma arte para equilibristas talentosos, mas muito mais. E não é desvitalizando e tornando anémico o partido que depois se pode esperar sucesso na relação com a sociedade civil, nas políticas a desenvolver e nos agentes que têm por missão executá-las e promovê-las.
QUE DOUTRINA PARA O FUTURO DA UNIÃO EUROPEIA?
O mesmo vale para a política internacional e, sobretudo, para a política europeia, onde não se vê preocupação em posicionar o PS sobre as grandes questões que se põem à União Europeia no plano da sua evolução institucional como entidade política e como protagonista à escala mundial, vendo-se, isso sim, designadamente no Facebook, uns ou umas eurodeputadas a fazerem alegremente turismo pelo mundo fora. Nem se vê também preocupação da Foundation for European Progressive Studies, sediada em Bruxelas e dirigida por uma portuguesa, Maria João Rodrigues, produzir doutrina de fundo sobre o futuro da Europa, nem que seja para ajudar a que o PS tenha uma posição clara (que não tem) sobre o futuro da União e, em geral, para responder com novas ideias e propostas à crise por que estão a passar os partidos socialistas ou sociais-democratas da União Europeia. O que é grave, conhecendo nós a matriz europeísta do próprio partido, para a qual muito contribuiu o seu fundador Mário Soares.
Estamos, pois, numa situação que mereceria, agora que o PS tem meio século, uma atenção particular, fazendo um aggiornamento profundo que toque em todos estes aspectos e superando essa ideia que começa a singrar na opinião pública de que este partido já mais não é do que uma enorme federação de interesses pessoais em busca de colo na gigantesca máquina do Estado e uma boa plataforma para descolar em direcção a Bruxelas e a Estrasburgo. Mas não é essa a vocação do PS, nem o seu passado é compatível com essa condição.
OS MEUS PARABÉNS
É este o meu voto, crítico, mas auspicioso, no dia em que o PS faz 50 anos. Os meus parabéns pelo seu honroso passado e o meu desejo de que saiba sair desta situação anémica ou pantanosa em que se encontra para que o seu passado seja honrado com um futuro digno também de boa memória.

A POLÍTICA NA ERA DO ALGORITMO
As Três Fontes do Poder
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 04-2023
I. VEM AÍ A PÓS-DEMOCRACIA?
COMEÇO POR DIZER que quando usamos conceitos como pós-democracia ou pós-representação a referência é sempre a democracia representativa. Os teóricos têm de estar sempre a inovar, mesmo que isso represente alguma violência ao real. Mas a criatividade teórica, para ser eficaz, precisa de conceitos estimulantes e desafiadores. Ora estes dois conceitos parece indicarem que a democracia representativa está velha, se consumou, se gastou. O que não é verdade, porque ela é muito jovem, se a medida for o tempo histórico, a longa duração. E até poderemos afirmar, sem risco de errar, que a democracia representativa até pode ser considerada uma utopia difícil ou mesmo impossível de alcançar.
Sufrágio Universal e Democracia
Seja como for, a democracia representativa, que só existe desde que haja sufrágio universal, é, de facto, bastante jovem, pois ela não se identifica stricto sensu com sistema representativo, que é bem anterior, não sendo compatível com regimes censitários. O que tínhamos, pois, até ao sufrágio universal era simplesmente um sistema representativo em regime censitário. A sua história anda de braço dado com a assunção do sufrágio universal e, claro, com o sistema representativo. E é bastante jovem porque, neste sentido, a sua plena concretização histórica só se verificou verdadeiramente, passados três turbulentos e dramáticos decénios (1914-1945), na segunda metade do século XX, uma vez que, como disse, só da combinação do sistema representativo com o sufrágio universal poderá resultar a democracia representativa, sendo também certo que a pedra-de-toque que a distingue de todas as outras formas de democracia é o mandato não-imperativo. Ou seja, o mandato não revogável (sobre o conceito de representação veja-se o excelente texto de Diogo Pires Aurélio – Aurélio, 2009).
A Democracia como Utopia
DEPOIS, em boa verdade, ela configura-se como uma utopia se considerarmos que o voto, neste regime, tem poder constituinte, é individual, é secreto, é universal e convoca aquilo a que Kant chamou imperativo categórico, ou seja, que cada voto seja determinado pela ideia de que dele possa resultar uma legislação universal com poder impositivo. O que significa que este voto singular, exprimindo uma profunda convicção (fundamentada e argumentada), traz com ele uma responsabilidade absoluta, como se o mundo viesse a ser regulado por ele. Um acto singular com pretensões de validade universal e, consequentemente, associado ao princípio da responsabilidade. É neste princípio, difícil de atingir na sua plenitude, que se funda a democracia e que lhe dá um valor que nenhum outro regime consegue exibir. Um princípio que exige plena maturidade da cidadania. Através do princípio do mandato não imperativo o representante assume uma dimensão universal porque passa a ser titular do principal órgão de soberania, o Parlamento, esse mesmo que legisla segundo o mesmo princípio de universalidade, ou seja, de acordo com o interesse geral (da nação) e não de acordo com o interesse particular, seu, de classe ou regional. E nem sequer de acordo com o círculo eleitoral que o elege (1).
O Espaço Intermédio
Mas a verdade é que tudo está a mudar e, mantendo-se a matriz representativa originária, para a qual ainda ninguém conseguiu encontrar substituto válido, algo mudou no sistema representativo. E o que mudou reside, para além do sufrágio universal, na relação entre os representantes e os representados, aquilo a que alguém chamou “espaço intermédio” (Tagliagambe, 2009), aquele espaço que se situa entre a cidadania e o poder, entre a rua e o palácio, entre o acto do voto e o exercício do poder que resulta daquela relação e que se processa precisamente neste espaço. (2). Hoje tudo se sabe (a verdade e a mentira) e até é possível fazer política e comunicar para além daqueles que são os canais tradicionais de intermediação da política e da comunicação, partidos e media. Antes, não. E até era proibido (logo no século XVIII) informar acerca do que se passava no Parlamento. Ou seja, a participação política deixou de se reduzir ao (já tão reduzido, nos regimes censitários) acto de votar para designar a representação e legitimar o mandato. A ideia de participação cresce à medida que este “espaço intermédio” também cresce, ou melhor, à medida que ele vai sendo ocupado pelas plataformas de comunicação (social).
Desintermediação e Democracia Deliberativa
Isto aconteceu sobretudo com o aparecimento da televisão e, nos nossos dias, viria a aprofundar-se com a emergência da rede, das TICs e das redes sociais, ou seja, com a possibilidade de aceder ao espaço público deliberativo sem interferência dos chamados gatekeepers, dos mediadores, seja da comunicação seja da política. E foi por isso que o discurso sobre a pós-democracia (representativa) ganhou uma forte acuidade, lá onde o processo de construção do consenso e o processo de formação da decisão passaram a correr também noutros canais que não os tradicionais. Numa palavra, a política e a comunicação já estão desintermediadas, tendo terminado o monopólio da intermediação pelos tradicionais meios, media e partidos (Biancalana, 2020). Por isso, alguns consideram que estamos perante uma pós-democracia (representativa) porque a representação deixou de ser a fórmula exclusiva para o exercício do poder; outros, como eu, consideram que esta nova fase pode ser favorável, não à pós-democracia ou à pós-representação, mas ao relançamento da democracia representativa se ela evoluir para uma democracia deliberativa, uma forma superior de democracia representativa que, em parte, vem resolver o problema do decisionismo e da fractura entre representantes e representados. Ou seja, uma forma de inclusão da cidadania na política e na democracia através de uma qualificação do consenso e do processo decisional, da metabolização política, informal e formal (não simplesmente instrumental), pelos representantes, dos fluxos que correm na esfera pública deliberativa, onde hoje a cidadania pode intervir directamente sem mediações e gatekeeping. Numa democracia deliberativa a representação política mantém-se com as características de sempre, mas incorpora esse “espaço intermédio” que nos primeiros tempos do sistema representativo estava completamente vazio (após o voto, de resto, censitário, não era permitido conhecer o que se passava no palácio do poder, sendo crime a sua divulgação). Diria mais. Se, de facto, a política convencional desconhecer esta mudança radical estará condenada porque surgirão (como já acontece) forças que ocuparão este “espaço intermédio” contra a própria democracia representativa. O que já aconteceu, como se sabe: a intervenção da Cambridge Analytica no Brexit e nas Presidenciais de 2016 nos USA. A partidocracia e a mediocracia, ambas endogâmicas, representam esta cegueira relativamente ao que mudou radicalmente desde a criação do sistema representativo: da ocultação, legalmente sancionada, do exercício do poder (no século XVIII) passou-se à transparência total quer do exercício do poder quer dos seus próprios bastidores, devido à evolução dos meios de comunicação, ao sufrágio universal, ao progresso constitucional e, agora, ao novo espaço público deliberativo, com a network society e suas componentes orgânicas, ou à novíssima algorithmic society.
Participação e Representação
Vem este discurso a propósito de um pequeno ensaio de Michele Sorice, director do Centro de Investigação da Universidade Luiss (“Centre for Conflict and Participation Studies), de Roma, publicado como introdução ao volume da revista Culture e Studi del Sociale sobre “Conflito e partecipazione democratica nella società digitale” (Sorice, 2020). O ensaio tem precisamente como título “A participação política no tempo da pós-democracia” e o autor utiliza uma linguagem conceptual muito eficaz para abordar estas novas tendências em curso.
Michele Sorice vai ao tema directamente e chama a atenção para o esvaziamento da ideia de conflito na competição política, para a diferença entre representação e participação, a redução da política a “governance”, a excessiva fragmentação da intervenção política na era digital (hiperfragmentação) e a consequente despolitização que tem vindo a ser associada à “network society”, o “imperialismo das plataformas”, reforçado pelo desenvolvimento do chamado “capitalismo digital”, designado como “capitalismo das plataformas”, e ainda para o conflito entre “os velhos espaços públicos da sociedade de massas” e a “hiperfragmentação” induzida pela “network society”. Sorice cita Colin Crouch, em Post-Democracy After the Crises (Crouch, 2020), numa passagem em que este autor afirma que se tornou necessário rever as relações das redes sociais com a democracia e a pós-democracia, visto o uso que as grandes plataformas fazem dos perfis de milhões e milhões de utilizadores para fins de construção de um novo poder global precisamente pós-democrático e alternativo às elites tradicionais. E associa-lhes também as hiperlideranças, os populismos, os processos de despolitização e a chamada pós-esfera pública, induzida pela “platformization”. E chama ainda a atenção para a deslocação do poder das oligarquias ideológicas da política tradicional para as elites tecnocráticas, plenamente funcionais às dinâmicas de comercialização da cidadania, a sua valorização mais como valor de troca do que como valor de uso. O que diz tudo. O autor liga o processo de plataformização à pós-democracia e à chamada pós-esfera pública. E é neste quadro, que, segundo ele, se coloca a crise de legitimidade dos partidos, a transformação dos movimentos sociais, a emergência de novas formas de agregação, como, por exemplo, os movimentos urbanos, o desenvolvimento da cidadania activa e a afirmação de novas formas de acção social directa. Crise dos partidos e emergência das plataformas de mobilização – é nesta encruzilhada que irrompem estes fluxos sociais que podem mudar o panorama da democracia representativa. E é aqui que bate o ponto, segundo o autor, ou seja, na necessidade de mobilização da ideia de conflito (por oposição ao processo de anestesia política em curso) para uma revitalização da participação e da política. Esta ideia permite superar, por um lado, a simples ideia de representação, mas também o simples direito generalizado a tomar a palavra como paradoxal anestesiante político de massas, ou seja, a participação de todos como redução do poder da cidadania, enquanto ela pode induzir a ilusão de um autogoverno que, afinal, não decorre automaticamente deste tipo de participação. Uma ilusão, sim, porque esta participação é “hiperfragmentada” e não se encontra ancorada em novas formas culturais alternativas, em conflito com as formas hegemónicas, e não está inscrita, diria, com Gramsci, num “bloco histórico” capaz de se constituir como alternativa hegemónica. Mesmo assim, considero que este “poder diluído” (mas não hiperdiluído) da cidadania é superior ao exclusivo poder de delegação (regular e cíclico), em eleições, na representação, que tende a remeter a participação política para uma esfera residual, considerada até como potencialmente subversiva, e no establishment mediático, enquanto detentor do poder de representação social. Além disso, Sorice vê na relação do neoliberalismo com esta hiperfragmentação da cidadania uma tendência fatal porque se trata de uma participação ilusória e politicamente inócua, ou seja, não conflitual nem alternativa.
O Capitalismo da Vigilância
Sem dúvida que não é possível ignorar as “dinâmicas de poder presentes no ecossistema mediático nem as lógicas económicas e os mecanismos proprietários que regulam a actividade dos próprios social media”, como diz Sorice. E para ilustrar este último aspecto bastaria ao autor referir o livro da Shoshana Zuboff, “The Age of Surveillance Capitalism” (Zuboff, 2019), uma análise impiedosa do poder das grandes plataformas e da forma como o obtêm, evidenciando assim a desigualdade estrutural entre plataforma e utente, traduzida no uso abusivo de dados pessoais para efeitos de tratamento dos big data e de previsão dos comportamentos para fins comerciais e de poder financeiro, sim, mas também políticos. O autor sintetiza, e muito bem, esta questão, traduzida no capitalismo e no imperialismo digital desenvolvido no processo de plataformização das sociedades, entendendo por isso o domínio das grandes plataformas, como, por exemplo, a Google ou o Facebook, sobre as sociedades.
Conceitos
Esta linha crítica já tinha sido avançada pelo autor no livro que coordenei sobre “Política e democracia na era digital” (Santos, 2020), no capítulo de sua autoria e de Emiliana de Blasio (“O partido-plataforma entre despolitização e novas formas de participação: que possibilidades para a esquerda na Europa?”, pp. 71-101). E aqui, neste ensaio, insiste em chamar a atenção para reais tendências que estão a ocorrer na sociedade em rede e para os seus perigos, desvirtuando aquelas que eram, no início, reconhecidas como virtudes da novas tecnologias da libertação. Mas usa também um corpo conceptual que importa integrar na análise política dos actuais fenómenos políticos, sendo certo que a academia teima em não sair do velho sistema conceptual. Com efeito, Sorice dá palco a conceitos como “eco-sistemas comunicativos digitais”, “hiperliderança”, hiperfragmentação”, diferença entre participação e representação e entre “governance” e “e-government”, “platformization”, capitalismo e imperialismo digital, pós-democracia, pós-representação, “capitalismo das plataformas”, “network society”, participação sem conflito, participação conflitual, “comercialização da cidadania”, “pós-esfera pública”. Conceitos interessantes e fundamentais para aceder à política e à comunicação tal como hoje se configuram. E é claro que acompanho o autor nesta análise crítica.
Diria, todavia, que falta agora ver o lado positivo da emergência da rede, das TIC e das redes sociais (social media) seja do ponto de vista da comunicação seja do ponto de vista da política.
Quem ler o livro da Shoshana Zuboff, já referido, ficará muito bem elucidado sobre o processo de acumulação do novo capitalismo digital, ou “capitalismo da vigilância”, e também sobre o seu poder, sobre a passagem das tecnologias da liberdade a instrumentos de acumulação capitalística. Processo a que o autor também alude. E também é verdade que o acesso universal ao espaço público, a participação de todos, a integração política virtual podem tender a anular o conflito e a anestesiar a verdadeira participação política, fragmentando excessivamente uma intervenção sem novas formas culturais alternativas, sem uma cartografia cognitiva e com a ilusão de participação pelo simples direito de acesso à nova esfera pública. E ainda a favorecer hiperlideranças de inspiração populista ancoradas na relação directa e carismática com o povo da rede. Sim, tudo isto pode acontecer e, em parte, já está a acontecer, até porque a política clássica tem vindo a evoluir cada vez mais para uma lógica endogâmica que a afasta da cidadania e da realidade.
O Novo Mundo Digital
Mas também é verdade que a rede, em geral, as TIC e as redes sociais abriram canais de acesso e de participação absolutamente novos e praticamente livres de gatekeeping, essa forma de controlo do acesso ao espaço público. Acesso em dois sentidos: a) para obter informação em múltiplos suportes e em diversificadas fontes; b) e para intervir livremente no processo comunicacional e no processo político acedendo sem mediadores ao espaço público deliberativo. Estes canais de acesso valorizaram extremamente o espaço público deliberativo e deram origem a formas de organização autónomas do poder partidário, as plataformas digitais temáticas, como, por exemplo, moveon.org ou meetup, em condições de dar voz ao conflito e de mobilizar a cidadania. O exemplo da plataforma moveon.org nos USA é muito significativo. Por exemplo, apoiando Bernie Sanders, Barack Obama ou o Obamacare.
O que quero significar é que aos media tradicionais se veio juntar uma nova e poderosa realidade, a que chamo “espaço intermédio”, que permite um mais aberto e livre acesso ao espaço público na dupla dimensão da recepção de conteúdos e da produção de conteúdos, dando origem a um novo tipo de cidadania: a do prosumer. Este facto veio reforçar a importância do “espaço intermédio” enquanto espaço público deliberativo – por onde corre a relação entre representados e representantes – e tornar possível designadamente um revigoramento da democracia representativa e uma maior accountability quer do poder político quer do poder mediático, seu irmão gémeo. Na verdade, a mudança é profunda porquanto não só representa o alargamento do espaço público e o fim do gatekeeping, mas também porque representa uma mudança qualitativa na relação comunicacional com a evolução da “mass communication” para “mass self-communication” e com a transformação do cidadão em prosumer, em receptor e produtor de comunicação e política, dando assim efectividade política ao conceito criado por Alvin Tofler, em The Third Wave, em 1980 (Tofler, 1980; e Castells, 2007).
Não vejo, todavia, esta expansão gigantesca do acesso ao espaço público deliberativo nos dois sentidos acima referidos sem um enquadramento, uma cartografia cognitiva, uma bússola que conduza a cidadania num certo sentido. Neste caso, mais do que falar em novas formas de mediação, falaria em hegemonia, em conquista ético-política da esfera reticular e em capacidade de polarização da cidadania por novas formas culturais alternativas. Na verdade, do que se trata, com o novo espaço público deliberativo e com o novo tipo de acesso, é simplesmente da sua enorme expansão e de uma lógica de funcionamento totalmente distinta da que era dominada pelos senhores do gatekeeping comunicacional, mas também político. Nada mais. Mas que já é muito, lá isso é. E é por isso que concordo com Michele Sorice na ideia de que são necessárias novas formas culturais, que podem ser interpretadas e accionadas pelos partidos políticos desde que sejam capazes de responder, não transformisticamente, aos novos desafios. O fim dos monopólios que sirva, ao menos, para isso. E não creio que o chamado “capitalismo da vigilância” consiga controlar totalmente este novo mundo, tal como nem os chineses o conseguem controlar, apesar de, esses sim, procurarem hegemonizá-lo através das ideologias do nacionalismo e do consumismo, sem deixarem, todavia, de usar todos os instrumentos de controlo disponíveis, que são muitos e diversificados (Santos, 2017).
Não creio, pois, que seja boa ou viável a proposta pós-democrática ou pós-representativa porque, na verdade, os fundamentos e as funcionalidades da representação se mantêm. Pelo contrário, a democracia deliberativa, mantendo intacta a representação, reabre os canais de acesso à informação e à política e rompe com o monopólio e o exclusivismo da representação porque dão à cidadania a possibilidade de entrar em cena no palco da deliberação pública, influenciando não só a o processo de construção do consenso, mas também a própria produção da decisão. A política deliberativa enriquece a democracia representativa, mas não a substitui nem a diminui. Por um lado, ampliando o leque de possibilidades de empoderamento político da cidadania e, por outro, revigorando a própria representação e os partidos políticos, enquanto portadores de visões do mundo capazes de agregar a cidadania de acordo com as pertenças de cada um e com cartografias cognitivas que lhe sirvam de bússola. As plataformas temáticas têm o poder de se constituir como canais complementares de acesso ao espaço público deliberativo e deste modo influenciar decisivamente a política e a representação. A rede é um “espaço intermédio” incontornável e as redes sociais não são mais do que derivados orgânicos desta realidade. E por isso não é possível falar delas como se fala de media, tendo estrutura e lógica diferentes dos media convencionais. E também por isso não creio que seja útil abordá-las com a dicotomia tornada famosa por Umberto Eco: a dos apocalípticos e dos integrados.
II. O DOCUMENTÁRIO DA NETFLIX SOBRE “O DILEMA DAS REDES SOCIAIS”
Muito ilustrativo, mas unilateral, a respeito do que estou a dizer é o documentário da NETFLIX “O Dilema das Redes Sociais”, uma impiedosa análise crítica deste novo mundo a que me refiro. Unilateral sobretudo porque todo o enfoque consiste numa crítica apocalíptica, devastadora, não mostrando o que de positivo as redes sociais (a rede em geral) trouxeram à cidadania. E fez-me lembrar, de facto, os debates sobre apocalípticos e integrados a propósito da comunicação de massas e das indústrias culturais. E, naturalmente, o próprio livro de Umberto Eco, “Apocalittici e Integrati” (Eco, 1999), saído em 1964. A crítica devastadora à nascente cultura de massas, sobretudo à televisão, pelos apocalípticos, em geral identificados com as elites da alta cultura e maioritariamente de esquerda. E também me fez lembrar, claro, o grito contra o fim da sociabilidade com a irrupção deste tertium que passou a polarizar toda a atenção das salas, públicas ou privadas, ignorando a dimensão física do convívio a favor da dimensão simulacral. O mesmo que agora o documentário discute com dramatismo a propósito do domínio viciante das plataformas móveis sobre os adolescentes e sobre nós próprios, quando substituímos a conviviabilidade pelo fecho no universo digital próprio, de cada um. A força magnética das plataformas móveis, mais poderosa e individualizada do que o magnetismo da televisão. Já publiquei, em duas edições, um livro sobre esta questão, a propósito da televisão: “Homo Zappiens. O feitiço da televisão” (Santos, 2019). As críticas, muitas delas, eram e são justas. A sua diabolização, pelo contrário, é errada e irrealista. Afinal, a televisão continuou e permitiu o acesso à informação e ao entretenimento a milhões de pessoas e assumiu uma dimensão universal. Aponta-se o início dos anos noventa do século passado, com a Guerra do Golfo, como o início da era da televisão universal, com a CNN. Agora, depois do seu aparecimento como meio de comunicação já radicado socialmente, nos anos cinquenta, a televisão continua, com os seus defeitos e as suas virtudes, mas está a passar por um processo onde a sua dominância está a ser posta em causa pela emergência recente das redes sociais, com todo o cortejo de apocalípticos a voltar de novo à boca de cena, a gritar o caos e o fim do mundo.
Prosumer
Ao ver o Documentário (precisamente na NETFLIX, no meu IMac, não na televisão nem no cinema) fiquei até com a sensação de que este alinha claramente no combate radical que o poder convencional (mediático e político) está a promover contra as redes sociais e a rede em geral (um dos personagens diz que estava viciado em e-mails). E não me chega que no fim venham dar conselhos de bom comportamento na relação com a rede, até porque logo são acompanhados de conselhos militantes em defesa do abandono radical das redes sociais. Insinua-se a ideia errada de que a rede tem por detrás uma intencionalidade malévola, quando, afinal, ela é mais um espaço livre onde cada um pode, ao contrário da televisão, intervir em duas direcções: como receptor e como emissor, ou seja, como prosumer. O nível de controlo é aqui muito baixo e algumas vezes até é desejável, como no combate à desinformação (que já aconteceu, por exemplo, nas eleições para o Parlamento Europeu, em 2019, através de um protocolo assinado entre as grandes plataformas, Google, Facebook, Twitter, Youtube e a Comissão Europeia, e com resultados assinaláveis).
Crítica ou Apocalipse?
Bem sei que há nelas um potencial viciante, que é um imenso mundo onde tudo acontece, um gigantesco “espaço intermédio”, que são uma revolução na comunicação e que se torna necessário metabolizar racionalmente o seu uso, que os administradores dispõem de um potencial de vigilância enorme e que o poderão usar de forma abusiva (como já aconteceu com a Cambridge Analytica). Sei tudo isto. E sei ainda mais, agora que me apercebo do impacto mundial do fenómeno (viciante) do Tik Tok. E que estes elementos críticos são para levar a sério pelos poderes nacionais e supranacionais e por cada um, individualmente. E também sei que esta é uma revolução civilizacional como talvez nunca tenha existido na história da humanidade, pela sua rapidez e, sobretudo, por atingir a dimensão da inteligência e da comunicação com uma profundidade nunca vista. Sei isto e, neste aspecto, o documentário é útil porque alerta para os perigos. Mas é excessivo na crítica. Diria mesmo excessivamente militante e demolidor, com os operadores destas redes (que participaram no documentário) alcandorados à posição de filósofos do caos e do apocalipse, mais até do que da distopia a que se referem. Apetece-me dizer: a dependência nasceu com as redes sociais? Antes só conhecíamos a virtude?
Antes das Redes Sociais
Muitas coisas devem ser esclarecidas porque contrariam a posição de fundo do documentário, a começar pela militância dos intervenientes e do estratega do documentário. No fim, até se passou das redes sociais e das fake news para os perigos da inteligência artificial, em geral. Que são reais, como se compreende, mas algo desviantes, neste contexto. Falou-se excessivamente de dinheiro e de negócio, como se estes não fossem legítimos e estas multinacionais fossem as primeiras a existir no mundo globalizado. Leiam o excelente livro da Naomi Klein, No Logo, e logo verão o que já existia (e existe) antes das redes sociais e das grandes plataformas digitais. E falou-se também da educação dos próprios filhos, ensinados a estar longe das redes sociais, por eles, que, pelos vistos, as criaram e administraram. Não, não gostei porque mais me pareceram defensores militantes do poder convencional, assustados com o poder que as redes sociais podem dar e já estão a dar à cidadania. Depois, o tabloidismo desbragado da violência nas ruas, imputada implicitamente às redes sociais, como se não tivesse havido antes destas, e em pleno século XX, no arco de 30 anos, duas guerras mundiais que mataram dezenas de milhões de pessoas.
Os Filósofos do Apocalipse
Estes ex-funcionários das redes sociais surgem aqui como filósofos, psicólogos, políticos, sociólogos mais do que como técnicos, operadores, engenheiros e gestores das redes sociais a explicar-nos que vem aí o caos e o apocalipse. Só faltou mesmo dizer que boa era a ordem exclusiva do poder mediático e do poder das organizações mediadoras da política. Temo que o artigo alucinado de Miguel Sousa Tavares (“Desculpem-me se volto ao mesmo”), publicado no “Expresso” de 03.10.2020, sobre as redes sociais tenha sido agravado pelo visionamento deste documentário. Documentário por documentário, achei muito mais interessante o da jornalista do “The Observer”, Carole Cadwalladr, sobre “O papel do Facebook no Brexit e a ameaça à democracia” (2019) e a Cambridge Analytica, a que correspondera um ensaio seu e de Emma Graham-Harrison sobre a mesma matéria publicado pelo “The Guardian” (17.03.2018).
Mas vamos mais directamente ao assunto. Até há quem lhes chame tecnologias da liberdade. Isto lê-se nos livros de Castells, o grande sociólogo catalão (que foi Ministro do Governo de Pedro Sánchez), que tem desenvolvido abundante investigação sobre esta matéria. E lê-se no excelente ensaio de Jack Linchuan Qiu, investigador da Annenberg School for Communication, da Universidade da Califórnia do Sul e cofundador do “Grupo Electrónico de Investigação em Internet na China”, sobre “Internet na China: Tecnologias de liberdade numa sociedade estatista”, incluído no livro de Castells (Ed.) sobre “La Sociedad Red: Una Visión Global” (Castells, 2011: 137-167). A ele me refiro abundantemente no Ensaio que publiquei no número 17/2017 da Revista ResPublica (“A Emergência da Rede na Política. Os Casos Italiano e Chinês” – Santos, 2017: 51-78). O documentário não vê esta parte, a da liberdade, a que está confiada à cidadania, o processo de desintermediação da comunicação e da política, o livre acesso ao espaço público, o fim da exclusividade editorial e programática dos agentes orgânicos do poder mediático e do poder político, o fim do seu monopólio de “gatekeeping” sobre o espaço público. E depois não vê que o cidadão pode, também ele, protagonizar-se na Net, intervir no espaço público sem pedir licença aos “gatekeepers” de sempre (conhecemo-los bem, os “Donos de Toda esta Informação”), a maior parte das vezes descaradamente política, económica e ideologicamente alinhados. Sim, os nossos hábitos de acesso à rede são registados e analisados pelo algoritmo que depois torna possível vender-nos como consumidores de certos produtos, simbólicos ou não simbólicos. Sim, são os nossos hábitos, mas, no fim, só compramos se quisermos. E, pergunto, não somos também vendidos como consumidores enquanto espectadores das televisões? Bem sei que agora a comunicação de massas tem outra característica diferente porque se tornou “mass self-communication”, “comunicação individualizada de massas”, sendo possível devolver propostas de consumo em linha com as nossas preferências pessoais dominantes. É verdade, mas mantém-se a possibilidade de recusa em amplo espectro. O marketing 4.0 deve ser banido, por lei? Aliás, todo o marketing deverá ser banido, por nos instrumentalizar? Antes das redes sociais o mundo era perfeito? Segundo Miguel Sousa Tavares parece que sim.
Contra o Novo “Capitalismo da Vigilância”
Parece que este Documentário foi feito para combater o chamado “Capitalismo da Vigilância”, protagonizado pelos gigantes das plataformas digitais, Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc., mais do que para entender o que realmente é a rede e o que são as redes sociais. Na verdade, do que se trata, com a rede, é de um mundo digital onde se vive, se comunica e se produz. Mas este mundo não é alternativo ao mundo real. É complementar e dá oportunidades de que os cidadãos antes não dispunham. Quando a televisão apareceu e se impôs na política muitos diziam que, assim, a política não passaria de espectáculo enganador. É verdade, o palco televisivo permite encenações e representações que equivalem ao teatro e ao cinema. Mas também é verdade que levou a política a milhões, que permite ao mais humilde e pouco cultivado cidadão escolher o representante com base nos mesmos mecanismos cognitivos de escolha que usa na sua vida quotidiana (“olhando para o seu rosto, a este político eu não compraria um carro em segunda mão”), democratizou a informação e personalizou a política. E é aqui que o assunto bate com mais força: a rede, inaugurando um processo de desintermediação, permite uma vasta democratização dos processos comunicacionais e políticos. Sim, na rede não há uma certificação da comunicação como existe no mundo mediático, existindo apenas protocolos (assinados entre as plataformas e organismos nacionais ou supranacionais, como, por exemplo, a Comissão Europeia) que permitem aos gestores eliminar desinformação e conteúdos intoleráveis à luz das grandes cartas universais de direitos, sendo necessário promover a educação e uma vasta literacia digital, a começar logo na escola, que permitam uma efectiva auto-regulação, normas de uso inteligente da rede, cidadania digital. Mas, digam-me lá, o tabloidismo desbragado que todos os dias passa, em prime time, nas televisões de canal aberto é uma boa alternativa à rede? O “Correio da Manhã”, Jornal e Televisão, é uma boa alternativa à rede? E que dizer da Fox News? Os códigos éticos do jornalismo são praticados pelos próprios que os assinaram? Não, não são. E esta, ao contrário da rede, é informação que se pretende certificada, apesar de contrariar gravemente os próprios códigos éticos que criou e adoptou (e que, de resto, deve adoptar).
Uma Campanha Radical
A campanha dos poderosos contra as redes sociais existe. E continua. Nela entram as elites que estão nos interfaces da comunicação e que até há pouco detinham o poder exclusivo de acesso ao espaço público e ao espaço público deliberativo. O poder de “gatekeeping”. E entram os grandes meios de comunicação, argumentando que só eles podem dar informação certificada e em linha com as normas dos respectivos códigos éticos. E entra a política convencional porque também o seu poder exclusivo de intermediação começa a ser posto em causa. Há grandes plataformas digitais, como, por exemplo, a MoveOn.org, que já mobilizam mais a cidadania do que os partidos tradicionais. E já se fala de (e já existem) partidos-plataforma que partem da rede para a política e não da política para a rede. E este novo mundo já tem um novo conceito de cidadão: prosumer, simultaneamente consumidor e produtor de informação e de política. E, como disse, também a comunicação de massas está a ser substituída pela “comunicação individual de massas” de matriz digital. É uma revolução que o Documentário não regista, mas que torna possível uma enorme viragem civilizacional, cultural, na informação e na política, assim saibamos usar estes poderosos meios. O que, de resto, só acontecerá se os poderes maiores o permitirem, a começar pelo poder político. Mas até aqui a cidadania poderá obrigá-los a proceder em conformidade, usando a rede.
Este documentário inscreve-se na doutrina dos apocalípticos, que, neste caso, e paradoxalmente, são mais integrados do que os outros, os que estão a metabolizar a mudança reconhecendo que esta está inscrita na normal evolução das sociedades, sendo necessário metabolizá-la. E creio mesmo que, tal como aconteceu com a televisão, esta revolução será devidamente metabolizada pela História e conhecerá o destino que formos capazes de construir, agora que a cidadania tem meios para o fazer como nunca teve no passado.
III. ALGORITMOCRACIA
Este mundo é objecto de um interessante livro de Giovanni Gregorio, investigador na Universidade de Oxford, sobre Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society (Gregorio, 2022). Sociedade algorítmica, um nível acima da chamada digital and network society. O assunto é sério, urgente e interessante. E responde, em parte, às questões que têm sido levantadas, precisamente por Shoshana Zuboff, no seu A Era do Capitalismo da Vigilância (Zuboff, 2020), de resto, citado no livro ou pelo referido documentário da NETFLIX sobre as redes sociais. Vejamos, então, do que se trata.
Novos Conceitos
O autor usa interessantes conceitos para analisar a sociedade algorítmica. Vale a pena referir alguns: “algorithmic society”, “algocracy”, “automated decision-making processes”, “digital environment”, “extraction of value from information”, “online platforms vertically order”, “digital capitalism”, “digital liberalism”, “modulated democracy”, “constitutionalisation of online spaces”, “functional sovereignity” (que substitui a “territorial sovereignity”). Nos conceitos usados adivinha-se toda uma doutrina avançada sobre esta nova realidade, que muitos teimam em não reconhecer e assumir como algo a considerar muito seriamente, sobretudo nos domínios da política, da comunicação e do direito. “Sociedade algorítmica” – parece ser o conceito que vem substituir o de “sociedade digital e em rede” para indicar uma evolução das TICS e uma maior intervenção social da Inteligência Artificial (IA), o crescimento dos “automated decision-making processes”, subtraídos aos normais processos de “accountability”, a montante e a jusante. Tanto que até pode dar origem a uma Algocracy, a um sedutor regime do algoritmo, sucedâneo da Democracy. Bastaria para tal dar forma política à “sociedade algorítmica” e à correspondente automatização generalizada dos processos sociais. Uma utopia que parece ao nosso alcance e a breve prazo. Outro conceito a registar poderá ser o de soberania funcional, uma soberania pós-territorial, global, a das grandes plataformas digitais. Uma soberania diferente, que não reside na nação, no povo ou até nos grandes credores financeiros internacionais, mas nas grandes plataformas digitais privadas. Ou, ainda, a extracção da mais-valia, agora não já do trabalho, como em Marx, pelo prolongamento não remunerado da jornada de trabalho (a famosa mais-valia absoluta), mas pela informação acerca dos perfis dos seus utilizadores/consumidores para futura venda de preditivos comportamentais aos seus novos clientes. Poderia continuar, mas creio que já ficou claro o caminho traçado.
Soberania Funcional
Estamos, pois, a pisar terreno inovador, muito complexo, polémico e vital. O centro do problema reside na relação entre as grandes plataformas digitais, a cidadania e a autoridade pública, estando cada vez mais as grandes plataformas digitais privadas e globais a interpor-se entre a autoridade pública e a cidadania, gerando o que julgo ser já um problema de “constituency”, de uma nova “constituency”, vista a natureza e o alcance destes poderes privados globais. O conceito de soberania funcional é isso mesmo que indicia. Sim, um problema de “constituency” exactamente como acontece no caso das grandes plataformas financeiras, como veremos. Diferente, mas equivalente. Se estas actuam perante os Estados endividados como credores protegidos por contratos que intervêm no processo de gestão financeira dos Estados e até nos seus programas de governo (veja-se, como exemplo, o documento assinado – um autêntico programa de governo – entre o governo português e a troika que nos financiou), reivindicando o direito a verem satisfeitos os termos dos contratos de financiamento público, estas plataformas intervêm directamente sobre a cidadania consumidora de produtos digitais, gerindo um vastíssimo espaço social não regulado ou, então, ainda pouco e mal regulado, podendo mesmo, vista a matéria sobre a qual trabalha, condicionar a génese e a constituição do próprio poder político e, por essa via, condicionar decisivamente os processos de “decision-making” e os programas, a um nível que nunca o velho poder mediático atingiu. A passagem do conceito de mass communication (media) a mass self-communication (rede) dá-nos bem ideia da mudança. Esse terreno foi, por exemplo, e como já referido, explorado e usado para condicionar a eleição de Donald Trump e para favorecer o BREXIT. Ou seja, foi usado politicamente para instalar no poder determinadas soluções políticas. Uma nova “constituency”, portanto, a das plataformas.
As grandes plataformas movem-se num espaço global, interpelam biliões de consumidores, estabelecem códigos não contratualizados com eles e substituem-se aos Estados nacionais numa parte relevante da vida social, assumindo até funções que antes estavam exclusivamente confiadas aos poderes públicos, e têm orçamentos maiores do que muitos Estados nacionais. E, muito importante, intervêm directamente sobre os comportamentos, analisando-os e explorando-os comercial e politicamente. Há como que uma dualidade na relação dos poderes públicos e privados com a cidadania, podendo classificar-se como verdadeira partilha. Só que se uns respondem perante a cidadania, outros exercem directamente uma soberania funcional sem necessidade de prestarem contas, não estando o seu poder dependente de processos electivos. A rede é uma camada que está cada vez mais a sobrepor-se à realidade social e é governada segundo regras que não constam de uma constituição, não estando sujeitas a “accountability”, dispondo de informações sobre os cidadãos considerados individualmente numa dimensão tão profunda que nem os Estados nacionais se lhes podem comparar. Na verdade, esta transferência de funções e poderes para as plataformas digitais não conhece, pois, nenhum tipo de “accountability”, nenhum tipo de controlo, precisamente porque não estão sob a alçada de um constitucionalismo digital e funcional. O constitucionalismo digital constituir-se-ia, assim, como uma reacção aos novos poderes digitais. Reacção que nem é muito difícil de compreender e de aceitar – veja-se, por exemplo, o poder dos vários oligopólios instalados na sociedade portuguesa (operadoras de telecomunicações, redes de distribuição, marcas de combustíveis) e a impotência do cidadão singular perante os ditames destes oligopólios. No caso das plataformas digitais esta dimensão agiganta-se e não só em extensão, mas também em intensidade e em qualidade. Sim, estamos perante algo que precisa de ser regulado para que os seus efeitos positivos não desapareçam dando lugar a uma nova “constituency”, onde os cidadãos se transformam em súbditos e matéria-prima financeiramente explorada.
Da Sociedade Digital e em Rede à Sociedade Algorítmica
Na verdade, se, no início, as grandes plataformas representavam um incomensurável alargamento de direitos, de liberdade de comunicação e de participação nos processos de decision-making da cidadania, centrando-se a relação entre as plataformas e a cidadania exclusivamente neste plano, disputando poder ao establishment mediático para o devolver à cidadania (na figura dos users), depois haveria de se verificar um desvio de função, passando as plataformas a considerar como clientes, não os users, mas as empresas interessadas na determinação da previsão comportamental, tendo aqueles sido transformados em matéria-prima a ser trabalhada para extracção de mais-valia processada a partir da informação acumulada nos servidores e gerida pelas plataformas digitais junto dos seus novos clientes, que tanto podem ser empresas como forças políticas interessadas em sucesso eleitoral.
Como diz o autor: “Este é um livro sobre direitos e poderes na era digital. É uma tentativa de reformular o papel das democracias constitucionais na sociedade da informação ou em rede, que, nos últimos vinte anos, se transmudou em sociedade algorítmica como atual base societal que apresenta grandes plataformas sociais multinacionais ‘situadas entre os Estados-Nação tradicionais e os indivíduos comuns e o uso de algoritmos e de agentes de inteligência artificial para governar populações’” (Gregorio, 2022: 1). Portanto, forças intermédias dotadas de potentes e sofisticados meios de IA para gestão de processos sociais, económicos e comportamentais.
Estamos, pois, perante uma transição da “sociedade digital e em rede” para a “sociedade algorítmica”, a sociedade governada pelo algoritmo, pela inteligência artificial, através de “automated decision-making processes” que vêm a afectar “os valores constitucionais que sustentam o contrato social”, que superam a lógica de Vestefália, substituindo a soberania territorial por uma nova soberania funcional desterritorializada e global. É assim que funcionam as grandes plataformas digitais. Como diz, no prefácio Oreste Polliccino, “Giovanni explora a transformação de plataformas online de simples atores económicos em poderes privados capazes de competir com autoridades públicas” (Gregorio, 2022: xiii). A geometria do poder já não se resume a uma relação vertical, mas acontece cada vez mais na relação horizontal que “conecta indivíduos com poderes digitais privados que competem com, e muitas vezes prevalecem sobre, poderes públicos na sociedade algorítmica” (Gregorio, 2022: xiv). Assim sendo, “atores não estatais, corporações privadas e instituições supranacionais de governança contribuem para definir as suas regras e códigos de conduta cujo alcance global se sobrepõe à expressão tradicional do poder soberano nacional” (Gregorio, 2022: 311):
“Google, Facebook, Amazon or Apple are paradigmatic examples of digital forces competing with public authorities in the exercise of powers online. Within this framework, constitutional democracies are increasingly marginalised in the algorithmic society”.
Glosando o Michel Foucault de Surveiller et Punir, o autor afirma que “the paradigmatic idea of a public panopticon can be considered one of the primary concerns in the algorithmic society” (2022: 8; 15). É assim que:
“Digital firms are no longer market participants, since they ‘aspire to displace more government roles over time, replacing the logic of territorial sovereignty with functional sovereignty”. “These actors have been already named ‘gatekeepers’ to underline their high degree of control in online spaces. As Mark Zuckerberg stressed, ‘[i]n a lot of ways Facebook is more like a government than a traditional company’” (2022: 17; itálicos meus).
Substancialmente, o que acontece é um verdadeiro processo de livre constitucionalização dos espaços online, mas feito por instrumentos de ordenamento privado que moldam o alcance dos direitos e liberdades fundamentais de biliões de pessoas, adotando uma rígida abordagem top-down, sem exigências de accountability. E a pergunta poderia ser a mesma que faz Daniel Innerarity num artigo em “El País” (13.05.2022): não dispondo nós ainda de um dispositivo conceptual que nos instrua sobre a natureza do novo espaço digital e o seu significado democrático, teremos de começar por perguntar quem, neste novo universo digital, “é o soberano: o algoritmo, o consumidor ou o Estado?”.
Do Poder Económico ao Poder Político
Já temos que chegue. Está, de facto, a emergir uma terceira constituency, depois da dos contribuintes e da dos credores internacionais, que financiam a dívida pública (Streeck, 2013): a das grandes plataformas digitais que paulatinamente vão criando o seu universo societário de acordo com as suas próprias normas, superando o nível económico e atingindo já a dimensão da própria soberania (territorial): a soberania funcional. Basta pensar, como disse, na sua intervenção na eleição de Trump ou no Brexit. Se antes se podiam considerar verdadeiramente tecnologias da libertação relativamente aos poderes públicos instalados e aos poderes que os acompanhavam e reflectiam (o establishment mediático), agora, com a determinação preditiva de comportamentos em larga escala, elas dão lugar a uma intervenção que já supera a mera dimensão económica: “[i]n a lot of ways Facebook is more like a government than a traditional company”. Se antes o poder do establishment mediático já era enorme, colocando-se mesmo em directa competição com o poder político (3), agora, as plataformas digitais online representam um enorme upgrade, um poder muito mais forte que deve ser constitucionalmente regulado para que “dentro deste modelo, os indivíduos” não se encontrem eles próprios “in a situation which resembles that of a new digital status subjectionis”. Um novo estado de sujeição, súbditos, em vez de cidadãos. Bem pelo contrário, diz, seguindo Vestager, podendo ter as plataformas um enorme impacto no modo como vemos o mundo à nossa volta e tornando-se, por isso, um sério desafio à nossa democracia “so we can’t just leave decisions which affect the future of our democracy to be made in the secrecy of a few corporate boardrooms” (2022: 287). Existindo uma regulação constitucional feita pelos poderes públicos através de correctos procedimentos políticos e institucionais seria possível recuperar o primeiro impulso destas tecnologias, valorizando-as como tecnologias de libertação, sem as impedir de desenvolverem o seu processo de acumulação, mas respeitando os direitos e as garantias individuais, sendo certo que elas fornecem à cidadania, aos utilizadores, fantásticos instrumentos de comunicação, de automobilização, de participação e de conhecimento a custo zero e numa escala de liberdade que nunca os media conseguiram atingir. O que naturalmente tem um custo. Que tem, todavia, de corresponder a um “preço justo”. O autor sublinha bem este aspecto positivo das grandes plataformas, mas considera que se torna necessário reconduzir todo o processo à “constituency” originária, aquela que verdadeiramente é a legítima e com dimensão ontológica porque o segundo fôlego das plataformas as levou por um caminho que pode atingir o coração da democracia e daquilo que ela tem de mais sagrado: a ideia de soberania popular ou de soberania da nação, centradas na autodeterminação individual. O que não é possível é os poderes públicos continuarem a proceder como se esta realidade não existisse, emitindo deliberações que são totalmente desprovidas de valor perante estas novas realidades. Por exemplo, se a ERC para reconhecer uma publicação “on line” lhe aplicar os critérios que, no essencial, são aplicáveis às publicações “on paper”, então, a entidade reguladora revelará (mais uma vez) a sua perfeita inutilidade. Mas este é um simples e minúsculo exemplo. De resto, nem me parece que a ERC esteja muito preocupada em compreender este gigantesco universo com o qual nos estamos já a confrontar em larga escala.
É claro que esta transição para a sociedade algorítmica permite reforçar os argumentos contra as plataformas por parte daqueles que antes tinham o monopólio do acesso ao espaço público e o monopólio da opinião socializada. Por outro lado, de repente, os radicais descobriram um novo imperialismo, a que chamaram capitalismo da vigilância, evidenciando somente o enorme poder das plataformas on line e imputando-lhes o roubo de direitos e de titularidades aos cidadãos. Precisamente aquilo que aqui está em causa e que merece um novo e necessário constitucionalismo digital que possa regular as relações destes poderes quer com os Estados nacionais ou a União Europeia (sobretudo com esta) quer com a cidadania, não se limitando a simples códigos de conduta, como o que já foi (e bem) assinado, a códigos próprios assumidos de forma discricionária ou a disposições legais de aplicação meramente comercial. Como diz Gregorio, só assim será possível usufruir do melhor que as grandes plataformas digitais podem dar, evitando que deslizem para a produção de lucro puro e duro sem regras nem fronteiras ou de poder de natureza política. O que não se deve é ver nelas apenas poder, totalitarismo, capitalismo globalitário e imperialismo digital. História com barbas – o radicalismo reinventa-se sempre para sobreviver, mantendo acesa a velha chama. Como se para ele nada significasse esta enorme possibilidade que o cidadão passou a ter de acesso ao espaço público deliberativo, de se informar sem limites a partir de casa, de se automobilizar sem intermediações, de retirar o monopólio do acesso ao espaço público ao establishment mediático e às respectivas elites (o poder de gatekeeping), de se protagonizar singularmente e de se organizar autonomamente através de plataformas livres que possibilitam uma eficaz conectividade democrática bottom-up, em condições de promover uma autêntica democracia deliberativa. Sim, tudo isto. Mas, sim, também à necessidade de se construir um novo constitucionalismo digital à escala europeia (a que melhor pode dialogar com as poderosas plataformas digitais) que, interpelando com seriedade estas plataformas para promover uma resposta integrada às ameaças e aos riscos, dê maior protagonismo digital aos Estados nacionais e à União, inovando politicamente para melhor consolidar e aprofundar a ainda jovem democracia representativa, hoje seriamente ameaçada por forças que, à esquerda e à direita, vêem na sua matriz liberal originária o inimigo a abater. “The rise of European digital constitutionalism”, diz Gregorio, “can also be read as a reaction against the power of online platforms to set their values on a global scale on a discretionary basis” (2022: 287). Mas reacção como uma “terceira via” entre humanismo digital e capitalismo digital (2022: 284) – uma Europa consciente do papel que a IA pode representar para o progresso e o próprio empoderamento da cidadania, mas também dos riscos de concentração de poder sem controlo, não só do ponto de vista da caça ao lucro desmesurado e desumano, mas também de um poder capaz de condicionar decisivamente o curso da democracia e até mesmo de a destruir. A famosa transição digital tem de contemplar não só os progressos da IA, assumindo um protagonismo que lhe tem faltado e promovendo um fortíssimo investimento nesta área, designadamente na infraestruturação das redes digitais, na construção de próprios motores de busca e na literacia digital, mas terá também de integrar esta revolução num novo paradigma constitucional que a reconduza aos parâmetros e às exigências de uma autêntica democracia deliberativa. A ideia de um constitucionalismo digital europeu é fundamental sobretudo porque estamos a falar de poderes muito fortes e muito sensíveis e num terreno onde tem faltado não só regulação, mas também sensibilidade constitucional para a desenvolver.
IV. GLOBALIZAÇÃO, CAPITALISMO E DEMOCRACIA
No momento conturbado como o que vivemos à escala global com a pandemia e, agora, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com um ameaçador alarme comunicacional mundial, numa crise que representa um sério risco, por um lado, de perigosa escalada de uma guerra convencional, e por outro, de uma guerra económica e financeira global, atingindo todos, faz todo o sentido reflectir sobre a ideia de globalização e os seus efeitos sobre a democracia, ao dar origem àquilo que já designei por segunda constituency, entre a do cidadão que paga impostos (a primeira: “no taxation without representation) e a das plataformas (a terceira, a que já me referi).
Posto isto, começo por dizer que a ideia de globalização corresponde a um processo e só depois, consequentemente, se torna também um posicionamento cognitivo. É por isso que continua a ser muito importante clarificar o conceito de globalização, para melhor compreender os seus efeitos. Segundo alguns, o conceito estará a cair em desuso e com isso talvez a perder clareza conceptual, em parte certamente por ter caído na esfera da linguagem comum, da trivialidade discursiva. O que é verdade. Mas também por algum afunilamento que sofreu ao deslizar progressivamente para a esfera da economia, mais concretamente, confundindo-se com esses mesmos mercados financeiros globais que têm vindo a capturar irremediavelmente a política e a confiscar soberania ao cidadão. No plano financeiro, esta tendência até já conheceu uma sofisticada teorização por parte de um reputado académico alemão, Wolfgang Streeck, em Gekaufte Zeit. Die vertragte Krise des democratischen Kapitalismus (Streeck, 2013), quando fala da emergência de uma segunda constituency ao lado da constituency da cidadania. Ou seja, da “constituency” dos credores. Credores que na maior parte dos casos são, de facto, players globais. Não partilho da visão de Streeck, um regresso à moeda nacional, mas reconheço pertinência e originalidade à sua sugestiva análise. Sobretudo porque ela ajuda a explicar a evolução para a terceira constituency, protagonizada pelas grandes plataformas digitais.
Mas antes de entrar directamente no mérito da questão permitam-me que faça um pequeno excursus e chame a atenção para a obra de Naomi Klein, No Logo, a bíblia dos movimentos anti-globalização, publicada em 1999. E começo, citando, a este propósito, Ulrich Beck, na sua obra sobre “O que é a Globalização”:
«poder-se-ia dizer que aquilo que, para o movimento dos trabalhadores do século XIX, foi a questão de classe, no limiar do século XXI é, para as empresas que agem numa dimensão transnacional, a questão da globalização. Com a diferença essencial, todavia, de que o movimento dos trabalhadores agia como um contra-poder, enquanto as empresas globais até agora agem sem um contra-poder (transnacional)» (Beck, 1999: 13-14; itálico meu).
Estamos a falar de um mundo novo e de uma realidade que configurou o mercado de trabalho à escala mundial. Mais: um mundo que deslocalizou o processo produtivo de tal modo que também deslocalizou o emprego, fazendo recair o ónus, por um lado, sobre os trabalhadores do chamado primeiro mundo e, por outro, sobre os trabalhadores que vivem a sua situação laboral em regime de tipo militar. Estou a falar das famosas EPZ, referidas abundantemente por Naomi Klein. Ou seja: as pessoas que trabalham nas cerca de 1000 EPZ (Export Processing Zones) são (ou eram, há mais de vinte anos) 27 milhões, em todo o mundo e em cerca de setenta países. Indonésia, China, Sri Lanka, México, Filipinas, Nigéria, Coreia do Sul (conhecida nos anos oitenta como a «capital mundial dos ténis para ginástica»), Hong Kong, Guatemala, etc., etc., para outras tantas marcas multinacionais, Nike, Reebok, Burger King, Disney, Levi’s, Wall-Mart, Champion, General Motors, Shell, McDonald’s, Coca-Cola, Starbucks, Pepsi-Cola, Microsoft. De resto, algumas destas multinacionais têm PIBs superiores aos de muitos Estados. Entre os cem melhores sistemas económicos do mundo 49 são países e 51 são empresas multinacionais (Klein, 2001).
Globalização
Vejamos, então, este conceito-chave. Na verdade, a globalização não é propriamente uma doutrina ou uma teoria a partir da qual possamos compreender o mundo, como se se tratasse de uma alavanca cognitiva arquimediana. A globalização é, sim, antes de mais, um processo que está aí e perante o qual temos de nos posicionar, agindo material e intelectualmente. A globalização é, antes de mais, a coisa anterior à teoria. Assunto diferente é o que diz respeito à lógica globalitária ou à mundividência globalitária, ou seja, por um lado, à dinâmica que está inscrita nela, por outro, ao modo como, a partir dela, olhamos para a realidade. Estas, sim, surgem como visões que tendem a impor comportamentos e chaves de leitura do mundo contemporâneo. Mas, no essencial, a ideia de globalização tem sido associada sobretudo à dimensão financeira. Esta dimensão, sendo global, está de tal modo no interior dos territórios nacionais que, como disse, já se fala de uma nova constituency (precisamente a nível nacional), a dos credores, ao lado da cidadania. Todos sabem do que falo, sobretudo se a explicitar referindo-me aos famosos mercados financeiros internacionais, essa estranha relação que se transformou num fetiche parecido com aquele que Marx identificava no primeiro livro de Das Kapital com a mercadoria, ou seja, um estranho sujeito relacional, mas também sensitivo, com qualidades e sensações humanas, ou, então, referindo-me aos globalitários fundos de pensões ou às famosas agências de rating, sobretudo às três (Moody’s, Standard&Poors e Fitch) que detêm 96% do mercado de notação financeira e que em 2011 exibiram um volume de negócios de cerca de 46 mil milhões de dólares, sendo detidas sobretudo por especuladores financeiros. Falando de globalização, também todos sabem do que falo se me referir à rede, às lógicas e aos processos universais induzidos por ela (para o bem e para o mal), sendo certo que, no plano comunicacional, antes do boom das redes sociais já existia uma televisão global, sobretudo a partir da primeira guerra do Golfo, a CNN, havendo até – imaginem – quem considere que foram os portugueses a promover a primeira globalização, no século XV, na época dos descobrimentos. Se bem me recordo era o que dizia Holland Cotter, do NYT, a propósito da exposição Encompassing the Globe, promovida por Portugal nos Estados Unidos, em 2007: “A little-known fact: A version of the Internet was invented in Portugal 500 years ago by a bunch of sailors with names like Pedro, Vasco and Bartolomeu” (NYT, 29.06.2007). Ou, então, se me referir aos processos migratórios que, sobretudo a partir da presidência de George W. Bush, alastraram como mancha de óleo sobre os territórios nacionais, designadamente da União Europeia, por via marítima, aérea ou terrestre. Ou ainda se me referir, como já fiz, às famosas EPZ, Export Processing Zones, tão bem retratadas por Naomi Klein, em No Logo.
Uma globalização com estes ingredientes suscita certos requisitos críticos. Ou seja, trata-se, sim, de uma certa globalização. A mesma a que nos referimos quando falamos das lógicas neoliberais. E, já agora, também pode ser uma globalização que num certo momento parecia conhecer um único player com força para se impor hegemonicamente no mundo, o Império, de que falavam Michael Hardt e Antonio Negri, os Estados Unidos da América, sobretudo logo após a fracassada tentativa de Gorbatchov de reformar o sistema soviético e o fim do bipolarismo estratégico, político, económico e ideológico. Mas sendo certo que bem depressa se viu que o jogo internacional se estava a tornar bem mais complexo e que a lógica da guerra convencional já estava ultrapassada em grande medida por outras lógicas, sobretudo pela lógica financeira e pela lógica comunicacional. Como, de resto, já se está a verificar nesta crise, onde a dimensão global, do ponto de vista estratégico, comunicacional e económico-financeiro está a sobrepor-se ao real conflito armado convencional e localizado, na Ucrânia.
Cosmopolitismo
NA VERDADE, embora a globalização tenha vindo a conhecer uma lógica sobretudo de tipo globalitário, ela também tem desenvolvimentos num sentido bem mais interessante e progressivo, ou seja, em sentido cosmopolítico. E a polémica em torno da globalização não pode também deixar de reconhecer este sentido preciso. O que se passou, verdadeiramente, foi o seguinte: 1. na modernidade, a lógica comunitária fragmentou-se e deu lugar à lógica societária; 2. esta, por sua vez, expandiu-se e deu lugar a uma lógica cosmopolítica. Ou seja, da comunidade, à sociedade, à cosmopolis. O que, entretanto, aconteceu por via da afirmação e do triunfo do neoliberalismo foi que a lógica cosmopolítica de inspiração iluminista acabou por dar lugar a uma lógica globalitária centrada na financiarização da economia e num mercado financeiro mundial.
Esta expansão – e com estas características – provocou implosões internas e produziu, à maneira hegeliana, um efeito de superação, fragmentando e integrando numa unidade superior. O que aconteceu foi que a extrema expansão do sistema o levou a afastar-se do seu núcleo duro, a lógica comunitária, tornando-se extremamente volátil. Isso implicou que o velho núcleo comunitário se tivesse fragmentado cada vez mais em microcomunidades e que a sua função aglutinadora originária fosse substituída por uma nova função de tipo mais superestrutural e volátil. Na nova cosmopolis, de forma reactiva, tendem, pois, a formar-se microcomunidades resistentes às novas funções globalitárias e superestruturais que acabaram por se impor. Foi esta evolução da cosmopolis que motivou os movimentos antiglobalização de vários matizes e expressões.
O que, com isto, pretendo dizer é que a nova cosmopolis global é favorável ao desenvolvimento de microcomunidades sectoriais, de natureza localista, mas também de natureza ético-política (os movimentos por causas), tendencialmente resistentes às novas funções globalitárias. É que elas pretendem exprimir a estrutura enquanto a nova função é essencialmente de tipo superestrutural. Uma função que inclui, como disse, uma dimensão essencialmente económica, mas sobretudo financeira (globalização), e uma dimensão essencialmente comunicacional cosmopolita ou globalitária, quando ancorada nos colossos – grupos de media e plataformas digitais – da informação mundial.
A função globalitária possui, pois, duas dimensões: a primeira é identificada com a expansão universal de um concentrado poder económico-financeiro; a segunda, com a lógica da comunicação global. A primeira é dominantemente intensiva (as concentrações mundiais de natureza económico-financeira, incluídas as do sector mediático); a segunda é dominantemente extensiva (a expansão universal e capilar da comunicação). Esta função tende a homogeneizar os conteúdos e a tudo transformar em mercadoria. Incluída a própria informação. E para isso contribuem decisivamente as grandes concentrações de poder. A globalização, induzida pela lógica globalitária, nasce assim a partir dos vértices dos poderes económico-financeiro e mediático. Para se afirmar democraticamente, ela deveria, pelo contrário, partir das exigências concretas de vida, da base dos sistemas sociais, como parece já estar a acontecer, em parte, com a expansão da rede, ao serviço do indivíduo singular. De qualquer modo, a rede possui uma virtualidade insurgente que não se verifica nos media tradicionais. Assim não sendo, há que a considerar potencialmente perigosa para as próprias democracias nacionais. Só assim se explica a polémica em torno da globalização. Mesmo no plano da rede e das chamadas tecnologias da libertação aquilo a que também estamos a assistir é a uma excepcional concentração de poder por parte das grandes plataformas, dando lugar àquilo que Shoshana Zuboff chama capitalismo da vigilância e ao seu poder preditivo do comportamento humano vertido, depois, em manipulação comercial e política da cidadania mundial.
Esta tendência está a gerar contestações porque surge como uma imposição unilateral, sem base de legitimação e sem eficazes e legítimos controlos políticos, porque sem referentes políticos equivalentes. O conceito de função globalitária serve assim, apropriadamente, para designar a unificação forçada daquilo que se mantém substancialmente diferente. Outra coisa é a cosmopolis, legítima herdeira do iluminismo progressista. A construção progressiva de uma democracia europeia representa esta herança, já que se funda num movimento ascensional que evolui para uma concreta forma de cosmopolitismo, bem radicado em exigências internas dos próprios Estados nacionais. Ela constitui, assim, exemplo virtuoso de um cosmopolitismo politicamente sustentado, bem diferente, pois, da globalização económico-financeira. O verdadeiro cosmopolitismo é incompatível com o «colonialismo» tendencial das funções globalitárias. Mas, felizmente, parece que começa a emergir um novo cosmopolitismo de natureza reticular muito resistente à natureza impositiva da lógica globalitária, porque orgânico ou funcional a uma dinâmica ascendente da livre expressão das expectativas individuais. Isto, apesar de também ele trazer consigo uma correspondente função globalitária, precisamente a das grandes plataformas e da gestão da informação acerca dos perfis dos utilizadores para efeitos de desenvolvimento de estratégias preditivas do comportamento humano com objectivos comerciais e políticos, oportunamente denunciados pela Zuboff e pela NETFLIX no seu documentário sobre as redes sociais. Duas dimensões presentes na rede, mas onde a componente libertária tem um papel que pode ser decisivo para esse novo cosmopolitismo antiglobalitário e que, por isso, aguarda, também ele, desenvolvimentos virtuosos que contrariem a evolução negativa do controlo mundial da informação pelas plataformas. E aqui cabe, como já vimos, o constitucionalismo digital, regulador e que reconduz o poder das plataformas ao fundamento legitimador da cidadania.
A Crise Adiada do Capitalismo Democrático
A crise que teve início em 2008 é uma típica crise da globalização: das finanças à economia real, às dívidas soberanas, ao euro, à União Europeia. Insegurança, incerteza, volatilidade, retracção no investimento, desemprego, recessão, instabilidade social e política. Estas palavras traduzem-na bem. A solução passou por uma forte intervenção dos Estados com injecção de dinheiro nas economias, gerando aumentos insustentáveis da dívida pública em muitos países, com as agências de rating a sublinharem a incerteza acerca da capacidade de os países pagarem as suas dívidas. E com o consequente serviço da dívida a atingir níveis incomportáveis pelas brutais subidas de juros que se seguiram às notações das agências, criando-se um problema verdadeiramente novo nos processos críticos.
E é precisamente por estas razões que esta minha incursão no tema da globalização presta atenção às reflexões de Wolfgang Streeck sobre esse modelo que ele designa por “Estado democrático endividado”, (2013: 127-143), ou seja, daquele Estado que se seguiu ao “Estado democrático fiscal” e que passou a apresentar uma dupla e nova constituency: a dos cidadãos e a dos credores, que já enunciei antes. Entro, por isso, agora, directamente neste tema, ou seja, na questão da dívida soberana e suas incidências na estrutura nuclear da democracia representativa e no modelo que, nas últimas décadas, lhe está associado, o modelo social europeu, que, como sabemos, se viria a tornar crucial na crise pandémica e na crise bélica que estamos a viver. Com este modelo, o do Estado endividado, sem dúvida muito sugestivo e, no meu entendimento, muito eficaz, na medida em que gera automaticamente um link entre economia e política, será possível compreender as principais variáveis envolvidas na crise que classifico como crise da globalização (4). Como diz Streeck, na obra já referida:
“Há muitos motivos para considerar que o surgimento do capital financeiro como um segundo povo – um povo do mercado, que rivaliza com o povo do Estado – constitui uma nova fase da relação entre o capitalismo e a democracia na qual o capital deixou de influenciar a política apenas indiretamente – através do investimento ou não em economias nacionais -, e passou a influenciá-la diretamente – através do financiamento ou não do próprio Estado” (2013: 134; itálico meu).
Quem tem prioridade, nesta equação, o povo do mercado ou o povo do Estado? Os credores internacionais ou os cidadãos? Deve-se evitar a “inquietação” dos mercados ou a dos pensionistas e dos cidadãos/clientes do Estado Social/contribuintes fiscais (2013: 137-138)? É por isso que, para responder com eficácia a este dilema, Streeck afirma que “o melhor Estado endividado é um Estado com uma grande coligação, pelo menos na política financeira e fiscal” (2013: 138-139). É que, deste modo, é possível garantir a confiança dos mercados, na medida em que desaparece a alternativa às políticas restritivas e de austeridade, ficando os eleitores impossibilitados de provocar mudanças políticas. Compreendem? Estão a ver bem por que razão muitos queriam o bloco central, em Portugal ou na Espanha? A verdade é que esta solução amputaria a democracia de um instrumento essencial: a possibilidade de escolha em alternativa. Confiscaria poder aos cidadãos. Por outro lado, como diz Streeck, “o facto de a governance internacional ter sido encarregada da supervisão e regulação orçamental de governos nacionais ameaça fazer com que o conflito entre o capitalismo e a democracia seja decidido durante muito tempo, se não para sempre, a favor do primeiro, dada a expropriação dos meios políticos de produção dos Estados” (2013: 144). A posição de Streeck é muito clara: o neoliberalismo tem vindo a impor, sobretudo a partir dos fins dos anos ’70, o triunfo da justiça de mercado sobre a justiça social (5), através da confiscação do poder da cidadania pelo poder dos mercados. O modelo de Streeck centra-se em três momentos essenciais na evolução do Estado: o Estado democrático fiscal, que alimentava o orçamento do Estado através dos impostos, deu origem ao Estado democrático endividado, através da dívida pública, que alimentava os orçamentos sobretudo através do endividamento externo, do recurso aos mercados financeiros internacionais (e não tanto do mercado interno); depois, segundo Streeck, passou-se à fase do Estado de Consolidação, que é o ponto em que nos encontramos. O modelo é assim formulado por Streeck:
“O Estado democrático governado pelos seus cidadãos e, enquanto Estado fiscal, alimentado pelos mesmos, transforma-se no Estado democrático endividado mal a sua subsistência deixa de depender exclusivamente das contribuições dos seus cidadãos para passar a depender, em grande parte, também da confiança dos credores. Ao contrário do povo do Estado fiscal, o povo do mercado do Estado endividado está integrado a nível transnacional. A única ligação que existe entre os membros do povo do mercado e os Estados nacionais é a dos contratos: estão ligados como investidores e não como cidadãos. Os seus direitos perante o Estado não são públicos, mas sim privados: não se baseiam numa constituição, mas no direito civil. Em vez de direitos civis difusos, passíveis de ser alargados do ponto de vista político, os membros do povo do mercado possuem direitos perante o Estado cuja aplicação pode ser exigida em tribunais cíveis e terminar através do cumprimento do contrato. Enquanto credores, não podem eleger outro governo em vez daquele que não lhes agrada; mas podem vender os seus títulos de dívida ou não participar nos leilões de novos títulos de dívida. O juro pago por estes títulos, que reflete o risco estimado pelos investidores de não recuperação total ou parcial dos seus investimentos, constitui a ‘opinião pública’ do povo do mercado – e uma vez que esta é expressa de forma quantificada, é muito mais precisa e legível do que a do povo do Estado. O Estado endividado pode esperar lealdade do seu povo, enquanto dever cívico, enquanto no que diz respeito ao povo do mercado tem de procurar conquistar a sua ‘confiança’, pagando devidamente as suas dívidas e provando que poderá e quererá fazê-lo também no futuro” (2013: 130-131).
Este modelo explica a crise através de uma mudança nas relações entre administração fiscal, cidadão, credor, eleições, mercado e Estado. É um modelo sugestivo e parece ter sido extraído directamente da crise de 2008, designadamente inspirando-se nos casos dos países intervencionados: Grécia, Irlanda e Portugal. É um modelo muito sugestivo, mas continua subsidiário do subsistema económico-financeiro. Nisto não se desvia dos modelos tradicionais de explicação da crise, sendo certo que a sua própria solução, a de Streeck, acaba por afunilar na proposta de reposição das moedas nacionais e na reintrodução do mecanismo da desvalorização. Neste sentido, não me revejo nele.
Com efeito, a perspectiva de Streeck, que vê na União monetária e na União política uma tentativa de coroamento do percurso neoliberal iniciado nos anos setenta, além de errada e, diria mesmo, injusta, resume-se, afinal, ao fim do euro (ou à sua conversão em simples moeda-referência) e à reposição das moedas nacionais para que possa ser repristinado o mecanismo de desvalorização, enquanto único meio que, a seu ver, poderá repor a liberdade e a autonomia nacionais, evitando a confiscação da democracia pelo sistema financeiro internacional, ou seja, pelo capitalismo, em face da tentativa totalizante (ou mesmo totalitária) de construção de um mercado mundial autorregulado e autorregulador, uma espécie de “mão invisível” mundial, para fazer jus aos diletos discípulos de Smith e de Hayek. Como diz o próprio:
“Nas circunstâncias actuais, uma estratégia que aposta numa democracia pós-nacional, na sequência funcionalista do progresso capitalista, não serve senão os interesses dos engenheiros sociais de um capitalismo de mercado global e autorregulador; a crise de 2008 constituiu uma antevisão daquilo que este mercado pode provocar” (Streeck, 2013: 274).
Mas Streeck acaba por citar (favoravelmente) uma interessante resposta de Juergen Habermas relativa ao actual panorama crítico da União no sentido de uma abertura no plano do mercado, mas também de uma evolução política com um nível mais elevado e alargado de integração social: uma “dinâmica capitalista (…) que pode ser descrita como uma interação entre uma abertura forçada em termos funcionais e um fecho integrador do ponto de vista social a um nível cada vez mais alto”. É claro que quem conhece a obra de Habermas sabe que se trata de fazer interagir de forma mais intensa a integração sistémica, no plano económico-financeiro, com a integração social, mas agora num plano pós-nacional (de cidadania e institucional), desencadeando um novo e mais alargado processo de relegitimação e integração social. Esta perspectiva é, no meu entendimento, a única que poderá responder à actual crise europeia. E, na verdade, Habermas, num ensaio publicado em Maio de 2013, na Revista alemã “Blätter für Deutsche und Internationale Politik” (Habermas, 2013), critica exaustivamente a posição de Streeck, acusando-o de querer, contraditoriamente, responder com soluções nacionais a uma crise que está centrada em mercados irreversivelmente globalizados: “não é o reforço democrático de uma união europeia até agora construída só a metade a dever recolocar num equilíbrio democrático a relação tresloucada entre política e mercado” – diz Habermas, criticamente, referindo-se à posição de Streeck. “Wolfgang Streek não se propõe completar a construção europeia, mas sim desmontá-la” – continua; “quer regressar às fortalezas nacionais dos anos sessenta e setenta, com o objectivo de ‘defender e reparar tanto quanto possível os restos daquelas instituições políticas graças às quais talvez se pudesse modificar e substituir a justiça do mercado com a justiça social’. Esta opção de nostálgico fechamento em concha na soberana impotência de nações já arrasadas é surpreendente se considerarmos as transformações epocais dos Estados nacionais que antes tinham os mercados territoriais ainda sob controlo e que, hoje, pelo contrário, estão reduzidos ao papel de autores enfraquecidos e inseridos, por sua vez, nos mercados globalizados” (Habermas, 2013).
A posição de Habermas é conhecida. E aqui parece haver um grande consenso: é preciso encontrar soluções políticas supranacionais para problemas globais. Romper com o desfasamento entre problemas globais e soluções nacionais. Esta é também a posição do neoconservador Fareed Zakaria, no seu famoso “Capitalist Manifesto: Greed is Good”. E a do francês e ex-colaborador de Pierre Mauroy, Jean Peyrelevade: “a política de que temos necessidade para regular a mundialização deve ser, ela própria, mundializada” – (2008: 104; a obra é de 2005, muito anterior à crise de 2008). A posição de Habermas, no plano europeu, aponta, de facto, para um reforço da União política europeia, chegando a propor, por um lado, (a) “uma moldura institucional para uma política europeia fiscal, económica e social comum que pudesse criar as condições necessárias para a possível superação dos limites estruturais de uma união monetária imperfeita”; e, por outro, (b) uma “participação paritária do Parlamento e do Conselho na legislação e uma Comissão que responda a ambas as instituições” (Habermas, 2013).
Os cidadãos, neste processo, desempenhariam um importante papel quer enquanto membros dos Estados nacionais quer enquanto membros da União Europeia. Esta posição, está bem de ver, não confina nem a explicação nem a solução da crise em mecanismos meramente sistémicos (de controlo) ou, mais especificamente, a puros mecanismos de carácter financeiro, ainda por cima centrados numa solução política e financeira nacional, como propõe Streeck. Ela não prescinde da política e da integração social, ou seja, na resolução da crise é imprescindível a intervenção da componente subjectiva das sociedades, seja no plano da cidadania seja no plano institucional. Teoricamente, Habermas considera que o conceito de crise engloba necessariamente uma componente subjectiva (6). De resto, sabemos que a crise de ’29 e a subsequente Grande Depressão não foram corrigidas somente com mecanismos sistémicos e financeiros, mas sim com um relançamento da capacidade política de intervenção do Estado, designadamente com o New Deal. Embora saibamos também que, pelo menos na interpretação de Peyrelevade, “os Estados Unidos chegaram mais cedo que nós a um capitalismo amplamente desintermediado”, graças precisamente à crise de 1929: “O desmoronar da Bolsa causou a falência de centenas de bancos que tinham considerado boa ideia investir nela as poupanças que lhes estavam confiadas e, depois, por ricochete, a ruína de milhões de depositantes”. As estruturas de intermediação falharam e, por isso, acabaram por antecipar o nascimento nos Estados Unidos do capitalismo directo, a entrada em cena no mercado financeiro dos detentores individuais de capital, que está na origem do actual modelo financeiro mundial (2008: 36-37).
De qualquer modo – e não obstante a solução proposta por Streeck, aqui criticada, por errada -, temos, portanto, um primeiro modelo explicativo da crise, o do Estado fiscal que se torna Estado endividado e que, assim, altera profundamente a estrutura de suporte do edifício democrático, transferindo soberania do cidadão para o credor e transformando, deste modo, os mandatos de natureza política em mandatos de natureza financeira. Sabemos bem o que é isso por via da entrada da Troika no nosso País, onde o programa de governo pós-eleições, em Junho de 2011, ficou consignado em memorando de natureza financeira negociado com os credores. Houve eleições, sim, para os representantes, mas o programa de governo dos partidos candidatos ao executivo (PS e PSD) até poderia ter sido exactamente o mesmo memorando, porque seria esse a ser realmente executado.
Este modelo de análise tem a virtude de conjugar conceptualmente política e economia na óptica da tendência de confiscação daquela por esta, lá onde, como muito bem demonstra Peyrelevade (2008), a emergência dos mercados financeiros globalizados leva à confiscação da soberania de um cidadão doravante politicamente impotente perante a força sistémica dos mercados globais, pelo menos enquanto não dispuser de equivalentes alavancas políticas supranacionais com suficiente força para substituir, num plano mais elevado, aquela que foi a tradicional regulação centrada no poder dos velhos Estados nacionais territoriais. Peyrelevade expõe o problema de forma muito interessante e convincente:
“Assim, o cidadão, cuja existência está ligada ao território nacional, é vítima da sua própria esquizofrenia, dado que as suas escolhas, na qualidade de consumidor ou, se for esse o caso, de acionista, alimentam e reforçam um capitalismo mundializado que implica a diminuição da sua própria soberania. (…) Exemplo puro de dissociação individual, o desejo de enriquecimento que têm leva-os a repudiar a sua própria cidadania” (2008: 118; itálico meu).
O que Peyrelevade diz poderia ser transposto para o caso do poder das plataformas digitais e para a relação que se estabeleceu entre elas e os users. Sem tirar nem pôr. E também aqui a solução parece ter de residir na criação de um modelo supranacional de regulação que impeça que os cidadãos se transformem em obedientes, voluntários e dissociados súbditos que abdicam da própria cidadania em troca do acesso ao maravilhoso e libertário mundo das redes sociais.
Greed Is Good
FAREED ZAKARIA tem da crise uma visão optimista. Apesar de tudo, ainda iremos querer, no futuro, mais capitalismo. Mas não centrado no Estado-Nação. Porque a crise não se resolve regressando a uma soberania nacional que já acabou de fazer todo aquele percurso que iniciou com a construção dos Estados nacionais, no início da Modernidade. Na verdade, esta crise é também resultado de uma globalização que não conhece ainda meios (políticos e institucionais) de autorregulação e de governo, tal como ele defende no seu ensaio “A Capitalist Manifesto: Greed is Good” (2009). Diz-nos Zakaria:
“More, the fundamental crisis we face is of globalization itself. We have globalized the economies of nations. Trade, travel and tourism are bringing people together. Technology has created worldwide supply chains, companies and costumers. But our politics remains resolutely national. This tension is at the heart of the many crashes of this era – a mismatch between interconnected economies that are producing global problems but no matching political process that can effect global solutions”.
E esta ideia colhe uma das principais questões que se pode pôr hoje a propósito da própria ideia de crise. O desfasamento entre a dimensão do problema e a dimensão da solução. Ou o desfasamento entre o patamar da crise e o patamar da solução. Em primeiro lugar, é importante perceber como uma crise que surgiu, tal como já foi referido, nos EUA, em 2008, acabou por ser uma crise que afectou ou implicou o mundo inteiro; em segundo lugar, é muito importante aquilo que Zakaria diz quanto ao facto de, apesar de ser uma crise global, apesar das “empresas e dos clientes” serem do mundo inteiro, a resolução política se ter mantido a um nível nacional ou local; ou, então, como, paradoxalmente, o próprio Streeck acaba por propor como solução aquilo que, na realidade, se configura como o problema. Na verdade, parece ser difícil resolver um problema global, e criado por todos, sem ser de uma forma igualmente forte e institucionalmente concertada, mas sobretudo sem ser através de mecanismos adequados, que só podem ser supranacionais. Um problema global exige uma solução global. Mas Zakaria avança mais na sua reflexão sobre esta crise de 2008 no seu todo e toca em pontos fundamentais: a instabilidade como condição inerente ao capitalismo e/ou à evolução, logo, como condição inerente à crise; e a moralidade, ou a falta dela, como possível razão de escolhas que agravam a própria crise. Este último aspecto, mas também aquela dimensão subjectiva da crise, de que fala Habermas no livro Spaetkapitalismus, ficou bem patente na crise de ’29, tanto do lado dos economistas e dos jornalistas (muitos), como do lado dos políticos (que quiseram lavar as mãos deste processo, como se vê claramente na descrição milimétrica que nos oferece Galbraith na obra de 1954 sobre a crise de 1929) ou do lado dos banqueiros, financeiros e especuladores. Zakaria acaba mesmo o seu ensaio com uma frase elucidativa em contexto de crise, ao dizer que “há muitas coisas para resolver, no sistema internacional, nos governos nacionais e nas próprias empresas, mas a maior mudança tem de ser em cada um de nós”.
Em boa verdade, e sem colocar a questão na ótica de uma ruptura radical do sistema, “do que se trata, de facto, é de uma profunda mudança de paradigma em todas as esferas da sociedade” (Santos, 2013). Ou seja, a crise de 2008 só é compreensível no quadro de uma mudança de paradigmas. Incluído o civilizacional e o cultural. E não só o político, o jurídico, o económico, o tecnológico ou o comunicacional. Uma compreensão de fundo capaz de nos ajudar a fazer face à crise, já que ela está inscrita no nosso próprio processo evolutivo. Capaz, pois, de nos ajudar a sobreviver no interior dela, não a olhando de forma negativa. Bem pelo contrário, olhando para ela de forma positiva. Na verdade, quando se fala em “crise de crescimento” ou em “resultados do sucesso”, como faz Fareed Zakaria no seu ensaio, é disso mesmo que se fala: da crise que nos faz crescer. Outra coisa é a ruptura radical, para a qual aponta a teoria marxista da crise e de que são exemplo a ruptura com o Ancien Regime e, em parte, a Revolução Soviética, a famosa “revolução contra o capital” (de Marx), na expressão de Antonio Gramsci. Só que esta acabaria por ser reabsorvida setenta anos depois, em 1989.
Diz ele, Zakaria (7) (mas sobre o assunto também Galbraith reflecte no seu livro “ The Culture of Contentment”), que os bons tempos levam sempre a uma espécie de auto-satisfação que privilegia o bem-estar e o lucro imediatos. E também que, de facto, se estava num período em que se verificara um enorme crescimento: num longo período de estabilidade política, a economia global cresceu exponencialmente, duplicando entre 1999 e 2008 e tendo, entre 2006 e 2007, 124 países crescido ao ritmo de 4% ao ano, ou mais; a inflação baixou para níveis jamais vistos; as recessões passaram a ser controladas muito mais rapidamente do que outrora; milhões de pessoas foram retiradas da pobreza; deu-se a revolução da informação e da Internet; emergiram novas potências económicas, como a China, gerando novas interdependências financeiras com fortes consequências no crédito ao consumo (designadamente nos USA; veja-se os índices apontados por Peyrelevade, 2008: 74-75). Uma visão optimista da crise, a de Zakaria, ainda que a exigir uma resposta capaz de a pilotar no sentido do progresso, em particular através da criação de mecanismos globais que respondam a problemas que já são também eles globais.
V. CONCLUSÃO
Na verdade, tudo isto viria a gerar efeitos em cadeia para os quais não havia mecanismos de gestão e de controlo. Zakaria usa a metáfora do carro sofisticado que já ninguém sabe conduzir. Daqui, o desastre ou, melhor, a crise. Daqui também que ainda não se tenham verificado respostas eficazes para uma crise que acabou por se revelar como, certamente, crise financeira, mas também da democracia, da globalização e mesmo da ética. Auto-satisfação, como resultado do crescimento, que produziu lassidão, sofreguidão e processos especulativos em escala alargada? Certamente. Mas o que está em jogo é provavelmente muito mais do que isto. O que está em jogo são os vários paradigmas que enquadram o nosso funcionamento societário e que, em grande parte, são subsidiários da revolução moderna que se iniciou no século XVIII ou mesmo com o próprio Renascimento e as revoluções científicas que se lhe seguiram. A questão que se põe a propósito deste ensaio de Zakaria é a de saber se será verdade que “daqui por alguns anos, por estranho que isso possa parecer, nós podemos todos achar que estamos ávidos de (mais) capitalismo, não de menos”. Zakaria está certamente a pensar que, tal como a democracia, o capitalismo é o pior dos sistemas, à excepção de todos os outros. Não acontecerá, pois, na sua óptica, uma derrocada do capitalismo como fora profetizado pela teoria marxista. Como sabemos, o que viria a acontecer seria precisamente o contrário, a derrocada do socialismo de Estado e a sua reabsorção histórica. Mas de que capitalismo estamos a falar, do capitalismo total, financeiro, accionista, daquele que se separou da economia real, passando, depois, a dirigi-la de acordo com as suas próprias performances em matéria de lucro? Daquele “capitalismo sem projecto” (Patrick Artus) que se identifica exclusivamente com o lucro e, se possível, com o lucro imediato, constante e progressivo (Peyrelevade, 2008: 90)? Do capitalismo da vigilância, de que fala a Soshana Zuboff, que gera essa terceira “constituency” e que transforma o cidadão em súbdito voluntário mediante a troca entre acesso ao espaço digital e a cedência de dados biográficos para a determinação de modelos preditivos de comportamento de natureza económica, mas também de natureza política, com a consequência de, com isso, se dissociar, abdicar da sua soberania individual, necessária à legitimação do poder político?
Se, com a globalização, for este o capitalismo que acabará por se impor, então, o que acontecerá será a sua libertação dos vínculos da política, do Estado, do trabalho e, finalmente, da própria cidadania, que acabará substituída pela soberania dos accionistas e dos credores, das grandes plataformas financeiras e digitais, numa palavra por uma soberania dominantemente funcional,. que prescinde da velha soberania territorial. O que parece que hoje já temos é uma convivência ainda um pouco indefinida entre três “constituencies”: a do cidadão, a dos credores e a das plataformas digitais. Esta situação nebulosa não poderá manter-se, devendo ser clarificada, pelo menos, por um lado, através do reforço da resposta financeira própria às exigências das dívidas soberanas e, por outro, através da criação de um constitucionalismo digital que regule o novo mundo digital. Mas isto só pode ser feito através de uma política que não esteja capturada por aqueles poderes, mas esteja centrada na própria cidadania.
NOTAS
1.Veja-se sobre a natureza do mandato o Art. 7, Secção III, Cap. I, Título III, da Constituição francesa de 1791.
2. Sobre o “espaço intermédio” veja também “A Política, o Digital e a Democracia Deliberativa”, capítulo de minha autoria, em Camponez, Ferreira e Rodríguez-Diaz, Estudos do Agendamento, Covillhã, Labcom, 2020, pp. 137-167.
3. Veja-se o meu Media e Poder, Lisboa, Vega, 2012, pp. 259-264).
4. Isto não significa que partilhe da perspectiva de Streeck, que assume, nesta obra, uma posição completamente diferente da que advogo, ou seja, a necessidade de um aprofundamento político da estrutura institucional da União Europeia e de uma constituição para a União.
5. Veja-se, a este propósito, a posição do Prémio Nobel Friedrich von Hayek, e pai dos neoliberais, sobre a desvalorização do próprio conceito de justiça social (Hayek, 1978), que ele próprio afirma nem saber o que é.
6. Sobre o conceito de crise. Olhemos para a origem da palavra crise. A palavra crise vem do grego: krísis (-eôs): 1. separação, discórdia, disputa; 2. Escolha; 3. decisão, êxito, sucesso; decisão: a) decisão judiciária; pôr um processo a alguém, juízo, condenação; b) tribunal, direito, castigo; c) crítica estética. São estes os significados que encontramos num bom dicionário de grego antigo. A palavra (um substantivo) vem do verbo krínô e tem a ver com: separar, dividir, decidir, julgar, condenar. Poder-se-ia dizer que, no sentido etimológico, há uma ideia de rotura, de separação, de decisão com reais efeitos, mas também de intervenção da vontade, da razão e da consciência (podendo implicar juízos de valor, como veremos). E é na decisão que separa, com intervenção da razão, da consciência e da vontade, ou seja, na intervenção do elemento subjectivo, que assentará a ideia de Crise, muito ligada à ideia de revolução. Num importante livro de 1973, Legitimationsprobleme im Spaetkapitalismus (Habermas, 1973), Juergen Habermas analisa o conceito de crise nas suas várias dimensões, desde a dimensão simplesmente médica, onde a crise é provocada por algo que é exterior ao paciente, algo objectivo sobre o qual ele não pode influir, por agentes externos. E, todavia, essa crise não é separável da visão interna de quem a ela está sujeito. Ou seja: com as crises, nós ligamos a ideia de uma potência objectiva que subtrai a um sujeito uma parte da soberania que lhe é normalmente garantida. E, todavia, no seu entendimento, a ideia de crise só é compreensível se incluir a percepção dela por parte dos agentes a ela sujeitos, mesmo que não tenham poder para interferir nela enquanto provocada por agentes externos. Com efeito, segundo Habermas, a ideia de crise na dramaturgia clássica – de Aristóteles a Hegel – já implica a presença de sujeitos, de protagonistas. A crise, na verdade, só se configura como tal quando, de algum modo, os que a ela estão sujeitos têm dela consciência, mesmo que a sofram sem terem capacidade para nela interferir. Esta variável subjectiva torna-se ainda mais decisiva no plano histórico-social. Trata-se aqui da relação entre consciência-vontade e estados de facto. Pode não haver ligação, mas estes elementos têm de estar presentes na Crise e na própria ideia de Crise. Habermas: “Die Krise ist nicht von der Innenansicht dessen zu loesen, der ihr ausgeliefert ist” (Habermas, 1973: 9). “Mit Krisen verbinden wir die Vorstellung einer objektiven Gewalt, die einem Subjekt ein Stueck Souveraenitaet entzieht, die ihm normalerweise zusteht” (1973: 10).
7. Sigo aqui a interpretação de Santos (2013: 43-45).
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, G. (2010). Estado de Excepção. Lisboa: Edições 70.
AURÉLIO, D. P. (Coord.). (2009). Introdução a Representação Política. Lisboa: Horizonte, pp. 9-51.
BECK, U. (2013). A Europa Alemã. De Maquiavel a “Merkievel”: as estratégias de poder na crise do Euro. Lisboa: Edições 70.
BECK, U. (1999). Che cos’è la globalizzazione. Roma: Carocci.
BECK, U. (1991). Politik in der Risikogesellschaft. Essays und Analyse. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
BIANCALANA, C. (Coord). (2018). Disintermediazione e nuove forme di mediazione. Verso uma democrazia post-rappresentativa? Milano: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
CADWALLADR, C. & GRAHAM-HARRISON, E. (2018). “Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach”. In “The Guardian”, 17.03.2018.
CASTELLS, M. (2007). “Communication, Power and Counter-power in the Network Society. In International Journal of Communication 1 (2007), 238-266.
CASTELLS, M. (ED.) (2011). La Sociedad Red: Una Visión Global. Madrid: Alianza Editorial, pp. 137-167.
CROUCH, C. (2020). Post-Democracy After the Crises. Cambridge: Polity.
DE BLASIO, E. & SORICE, M. (2020). “O partido-plataforma entre despolitização e novas formas de participação: que possibilidades para a esquerda na Europa?”. In Santos, 2020, pp. 71-101.
ECO, U. (1999). Apocalittici e Integrati. Milano: Bompiani.
GALBRAITH, J. K. (1993). A cultura do contentamento. Mem Martins: Europa-América.
GALBRAITH, J. K. (1954). A crise económica de 1929. Lisboa: Dom Quixote.
GRAMSCI, A. (1958). Scritti giovanili. Torino: Einaudi.
GREGORIO, G. (2022). Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society. Cambridge: Cambridge University Press.
HABERMAS, J. (2012). Uma Constituição para a Europa. Lisboa: Edições 70.
HABERMAS, J. (2013). “Democrazia o capitalismo? La miseria capitalistica di una società planetaria integrata economicamente e frantumata in Stati nazionali”. In: http://www.resetdoc.org/story/00000022342
HABERMAS, J. (1973). Legitimationsprobleme im Spaetkapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
HAYEK, F. v. (1978). “Liberalismo”. In Enciclopedia del Novecento. Istituto dell’Enciclopedia Italiana. Roma. Vol. III.
KLEIN, N. (2001). No Logo. Milano: Baldini&Castoldi.
OFFE, C. (2013). “The Europe In the Trap”. http://www.eurozine.com/pdf/2013-02-06-offe-en.pdf
PEYRELEVADE, J. (2008). O Capitalismo Total. Lisboa: Vega.
SANTOS, J. A. (Org.). (2020). Política e Democracia na Era Digital. Lisboa: Parsifal.
SANTOS, J. A. (2017). “Mudança de Paradigma: A Emergência da Rede na Política. Os casos Italiano e Chinês”. In ResPublica, 2017, 17, pp. 51-78.
SANTOS, J. A. (2001). “Cosmopolis. Categorias para uma nova política”. In Vários (2001: 61-89).
SANTOS, J. A. (2013). À Esquerda da Crise. Lisboa: Vega.
SORICE. M. (2020). “La partecipazione politica nel tempo della post-democrazia”. In Culture e Studi del Sociale-CuSSoc, 2020, 5(2), pp. 397-406.
STREECK, W. (2013). Gekaufte Zeit. Die vertragte Krise des democratischen Kapitalismus. Berlin: Suhrkamp Verlag. Edição Portuguesa: Tempo Comprado. A crise adiada do capitalismo democrático. Coimbra, Actual, 2013.
TAGLIAGAMBE, S. (2009). El Espacio Intermedio. Madrid: Fragua.
TOFLER, A. (1980). The Third Wave. New York: William Morrow.
ZAKARIA, F. (2009). “Capitalist Manifesto. Greed is good”. In Newsweek, Junho de 2009.
ZUBOFF, S. (2019), The Age of Surveillance Capitalism. USA: Public Affairs.
ZUBOFF, S. (2020). A Era do Capitalismo da Vigilância. Lisboa: Relógio d’Água. JAS@04-2023.

A LAVANDARIA SEMIÓTICA
E Outras Coisas Do Mesmo Jaez
MANIFESTO
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 04-2023
I. POLITICAMENTE CORRECTO
COMEÇA A SER PREOCUPANTE esta higienização da língua, da arte e da história que grassa por aí. Agora são os livros da Agatha Christie, os de Roald Dahl ou os de Ian Fleming sobre o famoso James Bond, o Agente 007, a sofrerem a purga linguística; há também a correcção de títulos de documentos históricos, bem datados; ou a professora que, numa escola dos Estados Unidos, teve de se demitir por ter mostrado aos alunos fotos do David de Michelangelo; a cobertura dos genitais em obras de arte de grandes e historicamente consagrados artistas por ofenderem a moral pública – pornografia da pura, corruptora dos grandiosos princípios da moral; o derrube de monumentos de arte pública, num denodado esforço de punição do passado que sobreviveu sob forma de obra de arte; a Universidade de Manchester que, em nome de uma linguagem inclusiva e neutra, criou um guia de boas práticas linguísticas, um “guide outlines how to use inclusive language to avoid biases”, para seu uso e consumo. Ou seja, uma enorme galeria de gestos purificadores, procurando trazer o passado e o presente aos princípios destes apóstolos da virtude, desta santidade ideológica que não admite que o real tal como ele foi ou tal como é seja sequer nomeado. Uma autêntica revolução semiótica em busca de hegemonia universal. Vamos, pois, a isso, que se faz tarde.
1.
Nem mais nem menos – é mesmo assim. Agora até as palavras pai e mãe, irmão e irmã, homem e mulher e marido e mulher saem do culto glossário manchesteriano para serem substituídas preferencialmente (rather than, é a fórmula usada) por parent ou guardian, por sibling, por person ou por partner, respectivamente. Tudo deve ser asséptico. Isto numa Universidade de um país que se preza de conservar e dignificar as suas tradições. Não numa creche (e ainda bem). Eu, que tenho dois filhos, se algum deles me tratar por guardian não vou mesmo gostar. Sou pai e esta palavra traz consigo um imenso afecto que não pode ser reduzido à categoria de guardião, de tutor ou do que lhe quiserem chamar os arautos do linguajar puro e cristalino.
2.
Esta visão clínica, ou mesmo cínica, da linguagem, esta limpeza linguística, esta lavandaria semiótica ao serviço de uma visão do mundo politicamente correcta e woke, devidamente esterilizada e pasteurizada, já está mais institucionalizada do que parece e acompanha, naturalmente, aquela outra desse revisionismo histórico que já está a chegar também à literatura, passando pelos monumentos e pela pintura. O revisionismo em todo o seu esplendor. Uma cruzada em pleno desenvolvimento pronta a bater-se pela novilíngua universal contra os infiéis, os apóstatas sem vergonha perante as malfeitorias dos seus antepassados. Uma nova santa inquisição que espreita à esquina, com manuais de boa conduta à mão, e que promove blitzkriege contra os símbolos da opressão línguística, artística e histórica. Eles, os apóstolos da nova inquisição, já andam a catar a gramática e a semântica, já andam pelos museus e pela arte pública a punir os desmandos do passado e seus testemunhos. Ainda os havemos de ver a chicotearem estátuas no pelourinho electrónico, tal a fúria castigadora destes arautos da novilíngua. A minha linguagem, dirão, é pura, foi devidamente descontaminada das abomináveis componentes tóxicas da história, desinfectada, esterilizada e pasteurizada, podendo ser tomada em grandes doses sem perigo de infecção e de contágio.
É preciso começar por algum lado, acham eles. Pois então comece-se pela língua, pela arte e pela história. A língua espelha a história de um país e, se condenarmos o seu passado, como condenamos, pelas suas práticas incorrectas e imorais, ao longo de séculos ou mesmo de milénios, desde o tempo dos homens das cavernas, em nome dos valores que hoje consideramos absolutamente correctos, então temos de efectuar uma limpeza, não só da língua e dos rastos e restos que a iniquidade histórica deixou nela, higienizando-a, esterilizando-a, pasteurizando-a e purificando-a das impurezas e das bactérias que historicamente se foram sedimentando até nas suas próprias estruturas formais (exemplo, o domínio do género masculino na gramática e os sinais de diferença sexual ou mesmo de classe no próprio direito, também com inadmissíveis marcas masculinas ou burguesas), mas também das obras de arte onde possam ser encontrados resquícios ou marcas de um passado construído com os valores que hoje execramos (na arquitectura, na escultura, na literatura, na pintura, na música). Marcas que nem para a sucata hão-de servir, não vão os sucateiros reciclar tão deletérios produtos. Produtos-símbolo da exploração, mas também do sexismo unilateral e dsavergonhado que lhes estava associado.
3.
O que é curioso é que isto está a acontecer nos países que mais progressos civilizacionais fizeram e que coexistem com outros países onde o básico nem sequer está garantido à generalidade das populações. Um gigantesco salto em frente – esperando-se que não seja para o precipício -, em vez de uma viagem aos passados que coexistem connosco e que estão aqui ao nosso lado, bem à vista, merecendo uma preocupação absolutamente prioritária relativamente às marcas visíveis do passado na gramática, na semântica ou na arte. Estes passados estão a chegar à União Europeia pelo Mediterrâneo, querendo tornar-se presente. Sim, mas o passado ficou lá nas suas terras, nas suas casas. E é lá que reside o problema principal.
Mas é por aqui, pela limpeza semiótica, que esta luta civilizacional está a avançar com enormes vitórias nas próprias instituições internacionais, com sinais que são verdadeiramente preocupantes porque nos arriscamos a que esta se torne uma visão hegemónica, com expressão jurídico-normativa, e que acabe por assumir uma natureza inquisitorial, um policiamento das consciências, através da língua, da arte e da história e que nos amarre ao universo da narrativa e das palavras autorizadas. Numa sintomática revisitação de Orwell. Uma matriz claramente antiliberal e uma palavra de ordem que é o oposto do que ficou consignado no documento que representa a matriz da nossa modernidade, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão – Art. 5: “Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas”. Pelo contrário, é proibido tudo aquilo que não é permitido. Não só proíbem determinadas palavras, como também impõem o uso de outras. Começa-se logo pelo dicionário, pelo uso de certas palavras, o que lembra os tempos da ditadura. Por exemplo, não é permitido (ou, pelo menos, não é aconselhável) o uso das palavras mãe ou pai. O problema é que esta é a zona onde a liberdade vive de mãos dadas com o afecto, ficando o seu exercício seriamente diminuído, precisamente num tempo em que os mesmos gritam pela defesa da privacidade e pela liberdade individual. Se nem numa Universidade inglesa, onde a liberdade deve ser o primeiro princípio a estar garantido, já se podem usar as palavras homem-mulher, pai-mãe, marido-mulher, irmão-irmã que acontecerá noutras áreas de grande intensidade social?
4.
Do que se trata verdadeiramente é de uma luta pela hegemonia, uma luta que não tem verdadeiramente o sabor de um confronto cultural, mas sim o de uma batalha administrativa pelo controlo formal da língua e da narrativa acerca da história, da arte, da moral e da sociabilidade. E de onde é que lhes vem tanta força, aos revisionistas da língua e da história e arautos de uma nova moralidade? A força vem do facto de se considerarem os verdadeiros intérpretes das declarações universais de direitos. Numa lógica de kamikaze. É daqui que lhes vem a força e a legitimidade. Só que o que eles verdadeiramente fazem é uma luta pela imposição administrativa e directa, sem mediações, destes direitos, princípios e valores, num discurso de pensamento único que absolutiza valores que são tão históricos como os outros o foram, no seu tempo. O que eles postulam verdadeiramente é o fim da história. Um momento omega que seja a medida de todas as coisas e do próprio tempo. O Fukuyama deve estar a rir-se. Na verdade, o que praticam é um absolutismo axiológico que querem ver imposto administrativamente naquelas que são as sociedades mais avançadas do planeta, numa vertiginosa fuga para a frente relativamente a sociedades que ainda não viram satisfeitas sequer as condições básicas da existência. E, claro, esta fuga administrativa para a frente deixa-os insensíveis à necessidade da sua presença lá onde eles seriam mais precisos, ou seja, nas sociedades que precisam de conhecer um mínimo de desenvolvimento, de direitos e de bem-estar. Mas isso daria imenso trabalho, seria desconfortável e muito arriscado, preferindo, pois, fazer a sua luta nos lugares onde já há liberdade, segurança e bem-estar. O tempo de revolucionários como Che Guevara já passou. A revolução faz-se em casa, eventualmente à frente de um computador e com ar condicionado. Sem riscos ou até mesmo como oportunidade para singrar comodamente na vida. Ousaria até dizer: como um novo nicho de mercado.
5.
Mas o problema é que os progressos civilizacionais e culturais não se podem impor administrativamente. A sua conquista levou séculos, lutas, sacrifícios, morte. Não se obtiveram ao virar da esquina, com a redacção de um manual, pela simples razão de que a vida e a história não cabem em dois ou três breviários. Bem sei que eles têm pressa, muita pressa, eventualmente o tempo que a sua construção psicológica lhes impõe, porque têm noção de que o tempo de hoje é um tempo tão acelerado que já nem parece ser tempo histórico. Sim, é isso mesmo: o problema parece ser o do reconhecimento da temporalidade histórica. Mas a verdade é que os progressos requerem investimento projectado num tempo com profundidade, para o passado e para o futuro, trabalho complexo, longo e livre de formação, de educação, de cultura, de ciência. Um processo que não pode começar pelo confinamento da língua, da história ou da arte, ou seja, pelo confinamento dos espaços onde a liberdade deve ditar lei, mas sim pelo investimento público na educação, na cultura, na arte e na dotação pública das respectivas infraestruturas como condição essencial do crescimento e da autonomia individual para um futuro exercício consciente e plenamente responsável da cidadania, sem necessidade de guiões morais que pré-determinem o comportamento. Tomo como referência as visões do alemão Friedrich Schiller, nas Cartas sobre a Educação Estética do Homem (de 1792), e do poeta americano Walt Whitman, em Democratic Vistas (de 1871), e as suas propostas sobre a arte como motor de uma sociabilidade humana harmoniosa e sensível. No caso do poeta de Leaves of Grass, o lugar destinado à essencialidade histórica da poesia. Uma arte que nunca poderá ser encapsulada em códigos ou manuais de bom comportamento linguístico. Ou seja, o desenvolvimento é algo bem diferente das cartilhas que nos querem impor como padrão que impede comportamentos moral e civilizacionalmente desviantes e até puníveis por lei ou por regulamentos administrativos. Um admirável mundo novo com sacerdotes que aspiram a guiar as nossas vidas.
6.
Como se sabe, o famoso acordo ortográfico, a forma como se escreve as palavras, não conhecerá paz enquanto o poder político não fizer uma reflexão profunda sobre a língua portuguesa, maltratada por alguns académicos pouco sensíveis à delicadeza da cultura e da ciência, e enquanto várias gerações se mantiverem em vida. Trata-se simplesmente da forma de escrever algumas palavras. Imaginemos, então, acordos semióticos na língua portuguesa em chave inclusiva e neutra (um extraordinário incentivo ao culto da poesia, diga-se) e a dureza da batalha que os seus fautores terão de enfrentar antes mesmo que isso se converta numa ainda mais dura batalha política, quando os nacionalistas se aperceberem de que essa é a batalha das suas vidas, a batalha que mais lhes interessa porque é aí que melhor poderão afirmar as suas razões, contra os novíssimos “chiens de garde” do politicamente correcto e da ideologia woke.
A verdade é que esta higienização da língua, esta limpeza linguística e cultural imposta por via administrativa, mas que aspira a transformar-se em hegemonia ético-polítca e cultural nas sociedades mais avançadas, enquanto crescem e se impõem ditaduras, regimes de cariz populista e regimes de miséria um pouco por todo o lado, não deixa de ser preocupante até por abrir um vasto flanco à entrada em cena de todos aqueles que são pouco amigos da democracia, da igualdade e da liberdade. Parece-me até que os mais acérrimos defensores da limpeza semiótica, da arte e da história mascaram de progressismo a sua indigência cultural e científica ou mesmo a sua indisfarçável e prepotente ignorância. Afinal, empenham-se nestas batalhas porque não têm outras bem mais importantes e urgentes para propor.
Não tarda, estarão a propor uma alteração do nome da Declaração de 1789.
II. WOKE
Afinal, o que é a ideologia woke? É uma ideologia? Sim, é, e tem todas as características de uma ideologia: uma visão parcial da realidade que aspira a tornar-se norma de comportamento universal, invertendo a ordem das coisas. Etimologicamente, deriva de wake, woken (acordar, acordado). E há duas referências que importa assinalar: o famoso artigo de William Melvin Kelley, no New York Times, em Maio de 1962, “You’re woke, dig it” e o activismo do movimento Black Lives Matter. Segundo Juan Meseguer, este movimento “combate a injustiça social, mas também tudo aquilo que considera fonte de opressão: a heteronormatividade, o ‘privilégio cisgénero’, o modelo da família nuclear, o capitalismo, etc.” (Meseguer, 2022).
A ideologia woke refere-se, pois, à injustiça racial e social, podendo-se mesmo entendê-la como uma vasta moldura que integra a política identitária, o politicamente correcto, a famosa teoria crítica da raça e, em geral, a luta contra a discriminação de género, racial e de orientação sexual. A ideologia woke é protagonizada por uma certa esquerda de elite e de um bom nível económico. Não representa necessariamente, do ponto de vista sociológico, os grupos sociais a que se aplica. É uma ideologia de vanguarda e tem todas as características de uma ideologia: apresenta-se como uma mundividência com valor universal, apesar de ela própria combater o universalismo. Sim, a ideologia woke, a que nos diz para estarmos acordados, atentos, congrega a política identitária, a ideologia de género, o anti-racismo radical, o revisionismo histórico, o politicamente correcto, a cultura do cancelamento, o triunfalismo e o orgulho LGBT, o maximalismo da velha teoria da diferença sexual (tão em voga em Itália nos anos oitenta), o multiculturalismo radical. É forte no mundo universitário e já penetrou em importantes instituições nacionais e internacionais. Identifica-se como nova esquerda e, mais uma vez, o seu adversário histórico é o liberalismo. O mesmo que, curiosamente, é também o adversário histórico da direita radical. A história repete-se mais do que parece, como veremos.
1.
Com certeza que devemos estar atentos às injustiças raciais, sociais e de género, mas também devemos estar atentos às próprias formas de combate, seja à esquerda seja à direita. Sim, atentos desde que estar atento não signifique partilhar formas absolutas de intolerância que ponham em causa o universalismo que integra a matriz da nossa civilização, fonte de tantos e reconhecidos progressos civilizacionais, provavelmente os maiores que o mundo alcançou até hoje, e que promovam uma lógica de antagonismo radical, sucedânea da luta de classes, como lei fundamental da sociedade. Porque é disso que se trata. Na verdade, a matriz da nossa civilização acolhe a diferença e procura integrá-la, exprimindo-a em cartas universais de princípios que são já património mundial: a Declaração do Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2000-2009. E esta matriz não é mesmo compatível com formas de policiamento da linguagem e do pensamento, com a intolerância moral e histórica, com a dialéctica negativa amigo-inimigo como lei fundamental da realidade societária, com o cancelamento da temporalidade histórica e a absolutização do presente como norma selectiva do passado, com a fragmentação identitária da sociedade ou com o neocorporativismo orgânico, disfarçado de religião da igualdade.
2.
O combate woke ao universalismo de matriz liberal é uma discriminante fundamental que precisa de ser clarificada. Pelas razões que Juan Meseguer evidencia:
“Nos anos oitenta, um grupo de juristas jovens retomaram a preocupação de Derrick Bell (…) para demonstrar como o Direito servia para mascarar o ‘racismo sistémico’ ou ‘institucional’. (…) Inspirando-se na teoria crítica da Escola de Frankfurt, de orientação neomarxista, estes juristas propõem o estudo crítico do Direito e tentam demonstrar como a moldura jurídica da democracia liberal joga a favor da ‘hegemonia branca’ através de ideias como o Estado de direito, a objectividade da lei, a neutralidade do Estado ou o mérito” (Meseguer, 2022).
Ora aqui está uma boa formulação do problema: um claro desafio aos fundamentos da ordem liberal. A mesma que está na matriz da nossa ordem civilizacional. Mas esta visão não é nova. Já os românticos os combateram, ao combaterem o iluminismo, o liberalismo e o legado da Revolução Francesa. Sobre a convergência do pensamento conservador com o pensamento marxista fala Karl Mannheim num belo ensaio sobre “O Pensamento Conservador” (veja Santos, 1999: 71-87), não só na marcação de um inimigo comum, o Iluminismo, mas também naquele elemento comum a que Mannheim chama “quiliástico”. Estas visões tiveram, naturalmente, os seus intérpretes e a sua representação política ao longo da história, como se sabe. Por exemplo, num plano mais radical, o nacional-socialismo construiu a sua visão do mundo a partir de Arthur de Gobineau (1816-1882) e da sua teoria da raça, no Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, de 1855, ou seja, tentou reconstruir a unidade humana a partir de uma sua parte, a raça ariana. O socialismo real fê-lo a partir da ideia de classe. Hipóstases que – tal como nos movimentos identitários – elevam artificialmente à universalidade uma parte do real, de onde, depois, toda a realidade passa a ser derivada, deduzida de forma apodíctica. O mesmo mecanismo de construção e de funcionamento da ideologia (veja Santos, 2019, pp. 67-85). O filósofo italiano Galvano della Volpe e a sua escola desenvolveram uma sofisticadíssima rede conceptual de desmontagem deste processo. Sintetizando: as categorias ideológicas funcionam como abstracções indeterminadas (della Volpe) ou como significantes vazios (E. Laclau) que se elevam acima das concretas determinações do real para que, depois, as possam sobredeterminar (Althusser) – por exemplo, a classe ou a raça que, por um passe de magia ideológica, se convertem em povo, de onde, depois, derivam todas as consequências políticas. A obra de Hegel assenta na tentativa de fundação da universalidade do Estado e do direito ao desenvolver a dialéctica do conceito não a partir da ideia de interesse (como acontecia com os contratualistas, contaminando, deste modo, a ideia de Estado), mas, sim, a partir de uma exigência lógica (a da relação entre a unidade e a multiplicidade, o uno e o múltiplo). Por exemplo, a igualdade de todos (multiplicidade) concebida a partir da lei (unidade), que é geral e abstracta. O que não é o caso, por exemplo, do chamado direito soviético, o direito de classe, ou o caso onde as discriminações (na lei) ditas positivas têm a pretensão, em nome de critérios sociológicos, de ser a regra no universo do direito ou, ainda, onde se considera que o secular património jurídico ocidental está ferido irremediavelmente pela diferença de género (a favor do género masculino). A questão real é a da universalidade do Estado e da lei perante a contingência e a particularidade do real, da sociedade civil. Este processo é muito diferente do processo ideológico, sendo mais sólido. E, todavia, estas escolas que acabo de referir reduzem-no a pura ideologia.
Vejamos o caso da crítica do conservador e precursor do romantismo Joseph de Maîstre. Ficou famosa a sua afirmação, nas Considerações sobre França, de 1797, sobre este legado: “A constituição de 1795, como em todas as suas predecessoras, é feita para o homem. Ora não existe homem no mundo. Vi na minha vida Franceses, Italianos, Russos, etc.; até sei, graças a Montesquieu, que é possível ser persa; mas, quanto ao homem, declaro que nunca o encontrei na minha vida; a não ser que exista sem que eu saiba” (De Maistre, 1829: 94). De que falam, afinal, estas constituições? Precisamente de direitos do homem. Em comentário a esta posição, Karl Mannheim, no seu excelente Conservative Thought, junta-lhe, depois, uma afirmação vinda da esquerda, de Marx, na Introdução à Crítica da Filosofia Hegeliana do Direito: “Mas o homem não é um ser abstracto, aninhado fora do mundo” (“Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, ausser der Welt hockendes Wesen”, Marx, 1981, I, 378). Há nesta posição uma evidente identidade entre os conservadores e a esquerda marxista, de resto já assinalada por Mannheim: a recusa do homem abstracto, político, artificial, alegórico, sob forma de cidadão, por exemplo, em Zur Judenfrage (Marx, 1981,I, 369-370). Com efeito, Marx, nesta obra e na Kritik des Hegelschen Staatsrechts , desenvolve uma crítica estrutural quer do Estado representativo, como formulado por Hegel nos Princípios de Filosofia do Direito (Hegel, 1976), quer dessa universalidade abstracta e irreal do cidadão. No fundo, o que ele diz é que esta universalidade irreal (unwirkliche Allgemeinheit) e abstracta aprofunda a separação, o fosso entre o cidadão (Staatsbuerger) e o homem concreto e privado (Lebendigen Individuum), permitindo que as desigualdades efectivas se intensifiquem e reproduzam na sociedade civil, no lugar próprio do homem privado e egoísta, legitimando e preservando, deste modo, a ordem instalada (veja Santos, 1986: 117-148). Esta universalidade abstracta fora teorizada pelos contratualistas e, depois, embora de forma diferente, precisamente por Hegel, naquela obra. Ora é precisamente por aqui que, consciente ou inconscientemente (com ou sem Harvard a legitimá-los cientificamente), navegam os identitários, embora alargando a esfera das identidades ou dos sujeitos históricos para além do indivíduo concreto ou da classe social, por exemplo, à mulher ou à raça, enquanto comunidades. Mas há mais. Em relação à universalidade do direito, desenvolveu-se mesmo uma doutrina marxista do direito (o chamado direito soviético) que reconduz o ordenamento normativo à classe dominante. Falo de Pashukanis, de Stuchka e de Vishynsky, entre outros, este último o famoso procurador-geral de Stalin. O que diziam eles? Que o direito é de classe, não universal. Ou burguês ou operário e socialista. Mas de classe. Um identitarismo de classe, aqui não de raça ou de género, mas mais geral e abstracto, no qual assentaria a redenção futura do ser humano, através da reapropriação da sua identidade, através da reabsorção daquele cidadão abstracto no ser humano concreto e emancipado, enquanto tal (na sociedade sem classes), promovida por este sujeito histórico axialmente centrado na verdadeira linha evolutiva da história, a classe operária. Esta posição está muito bem exposta no famoso livro de Lukács, História e Consciência de Classe, de 1923. Todos os teóricos do direito soviético consideram que a universalidade do direito é uma ficção para mascarar o efectivo domínio de classe (independentemente das discussões que houve sobre saber se o direito era, ou não, um ordenamento normativo). Posição que viria a ser totalmente refutada nos anos cinquenta por Hans Kelsen no célebre livro sobre A Teoria Comunista do Direito (Kelsen, 1981). O que daqui resultou foi que o sujeito da história era uma classe, uma concreta identidade, que se afirmaria por supressão de outra identidade (a burguesia), no interior de uma dialéctica negativa (a da luta de classes). A recusa do universalismo é a isto que conduz.
3.
Por que razão falo disto? Porque a política identitária também nega esta universalidade, considerando-a fictícia, enganosa e instrumental, em nome da verdade que se exprime nas diversas identidades que compõem o corpo social, sejam elas de género, étnicas ou de orientação sexual. O facto é que, segundo Kelsen ou Bobbio, o direito (e para além do conteúdo concreto das normas) tanto pode ser válido numa formação social capitalista como socialista, precisamente porque não é de classe nem pode ser identificado com um sujeito histórico em particular. Mas a sociedade, contrapõem os identitários, como já o tinham feito os marxistas, não se resolve na abstracção normativa, que cobre o real domínio de uma raça sobre outra ou de um género sobre outro, tornando-se necessário promover uma viragem que ponha no centro do discurso as identidades sufocadas por essa ficção da universalidade abstracta da lei ao serviço do domínio dos mesmos de sempre (brancos e homens). Ou seja, eles apontam ao universalismo (formal) do direito e do Estado a mesma crítica que a teoria crítica da ideologia aponta à ficção ideológica, que acima expliquei. Neste sentido, a linguagem torna-se decisiva, sendo imperativo e urgente proceder à sua revisão institucional para a corrigir, a tornar politicamente correcta e resolver os desvios e as marcas de classe, de género ou de raça que ela transporta consigo como linguagem de dominação, através da sua inscrição no direito e no Estado. O mesmo vale para a história, que conta a longa dominação de uns pelos outros, tornando-se necessário proceder também à sua revisão institucional e ao cancelamento dos seus símbolos mais odiosos, aos seus testemunhos de rua, de praça ou de museu, nas cidades, por esse mundo fora (revisionismo histórico). É, pois, também urgente e necessário reconhecer as sociedades como realidades multiculturais integradas por identidades ou sujeitos irredutíveis ao velho universalismo abstracto, irreal e artificial. Esta ideologia woke é animada por um revanchismo histórico que põe no centro do discurso as diversas identidades, anulando a sua pertença a uma dimensão integradora e comum, logo, universal. O Estado e o direito têm essa dimensão e, por isso, falam esta linguagem. O direito, por exemplo: a lei é geral e abstracta. É essa a regra e não a excepção, ao contrário do que dizem os identitários e os apóstolos da ideologia woke. Precisamente porque quer o Estado quer o direito são universais e constituem a unidade da diversidade, o uno do múltiplo, o comum do diferente, tornando assim possível a promoção da intercambialidade entre aquilo que é diferente, entre as diferentes identidades, partilhando e participando no que é comum. E é comum enquanto forma reguladora das relações sociais (independentemente do conteúdo concreto da norma). Pelo contrário, elevar a diferença a norma significa torná-la irredutível, convertendo, deste modo, a lei social em dialéctica do conflito por falta de terreno comum para a partilha e a composição de interesses e valores. Alguém disse, e com razão, que as identidades não são negociáveis e por isso a sua lei é a do conflito permanente (Fernandes, 2022). A narrativa contratualista sobre o Estado e sobre o direito (centrada na ideia de interesse) ou a sua conceptualização hegeliana (centrada numa exigência lógica) tinham precisamente este objectivo: resolver superiormente a guerra de todos contra todos, dando unidade à diversidade caótica da sociedade civil. É precisamente esta unidade que torna possível a afirmação livre e pacífica de todas as diferenças, a sua intercambiabilidade, o compromisso e a composição de interesses. Um terreno comum de negociação, portanto. E hoje este terreno comum até tem uma tradução constitucional, que se funda precisamente no património universal dos princípios constantes das cartas universais. Juergen Habermas, falando da União Europeia e das identidades nacionais que a integram, propôs um “Verfassungspatriotismus”, um “patriotismo constitucional” referido a um universo comum (a constituição) que torne possível a livre expressão de todas as identidades, nacionais, étnicas, regionais, de sexo, de língua, etc., etc. (Habermas, 1991: 132). Pelo contrário, a política identitária não tem chão comum, precisamente porque nega esta universalidade e afirma a primazia das identidades sobre a lógica e a unidade societárias, ao identificá-las como pura máscara do domínio do homem branco e masculino sobre a raça negra e sobre a mulher ou sobre outras identidades. Como se só uma viragem, que antes se chamava revolução, pudesse acabar com esta evolução por inércia (ou por defeito, como diria uma deputada do PS, como veremos) do domínio histórico de um sobre todos (homem e branco), através do artifício da pretensa universalidade. As identidades, sendo irredutíveis, inegociáveis e não intercambiáveis, por falta de um espaço comum, desencadeiam uma lógica que só pode ser a da dialéctica amigo-inimigo, uma dialéctica negativa e uma lógica de conflito radical que visa a aniquilação do outro, precisamente como se verificava com a luta de classes: a eliminação da burguesia. O universalismo, dizem, encobre o domínio de uns sobre os outros e é nele que se centra a representação política, a passagem do particular para o universal, do indivíduo para o cidadão, da sociedade civil para o Estado e para o ordenamento jurídico. Acabar com um significará, pois, acabar com a outra, repondo a centralidade das múltiplas identidades como expressão orgânica ou corporativa de interesses e valores próprios. Entramos, assim numa lógica puramente corporativa que anula a representação e a individualidade singular e repõe a centralidade e a exclusividade da pertença comunitária. Não se vê, deste modo, como poderá falar-se de interesse geral e de vontade geral, uma vez que estes conceitos implicam um plano que só pode ser o de uma universalidade integrativa, que tem na constituição a sua carta expressiva, a única que, aliás, pode permitir uma pacífica dialéctica de identidades, com os seus interesses e valores, desde que no interior de um efectivo “patriotismo constitucional”.
4.
O que aqui temos, na ideologia woke, é, de facto, uma alteração substancial do sistema representativo ou mesmo a sua supressão: não há “representação política” do indivíduo singular, mas a projecção institucional da comunidade em que se integra (somente através dela a singularidade pode ser reconhecida), numa lógica corporativa ou de comissariado; não há “mandato não imperativo”, porque este resulta de uma separação ou corte entre a génese do mandato e o mandato propriamente dito, como acontece no sistema representativo clássico; o mandato deixa de se referir à nação ou ao povo, mas sim à identidade, ao sujeito identitário, ou seja, não é universal, como o “mandato não imperativo”. Mesmo assim, coisa bem diferente era a classe como identidade ou sujeito, pois ela coincidia com a totalidade, ou seja, ocupava o eixo histórico evolutivo da história, como teorizado por Lukács na obra acima referida, não correspondendo a concretas determinações, como a de raça ou a de género, por exemplo, porque a classe podia integrar em si todas as determinações que hoje são diferenciadas como identidades ou sujeitos sociais comunitários (por exemplo, no chamado “Estado de todo o povo” soviético, gerido pela classe). E só por isso a teoria podia postular que, no fim, as diferenças de classe iriam desaparecer, na “sociedade sem classes”. A classe operária teria em si o gérmen da sua própria anulação/superação. A fase do “Estado de todo o povo” é já uma fase de transição para a de uma sociedade sem classes. O que é de todo inconcebível com as identidades – por exemplo, a extinção dos géneros ou das raças.
Estas são as consequências desta teoria elevada a modelo de sistema social, não contendo sequer alguns dos pressupostos que a teoria marxista podia apresentar, ao elevar a classe a sujeito histórico apontado ao futuro. Mas estas são características das chamadas teorias críticas, que mais não são do que puras ideologias de combate. E, por isso mesmo, elas devem ser também combatidas com as armas da crítica, sim, mas também com as da democracia representativa.
5.
Esta conversa, como se vê, tem barbas e nada tem de original. E até possui menos coerência do que as suas antecessoras. O que foi (ou foram) e onde levou (ou levaram) todos sabemos. E onde levará, se a cavalgada da ideologia woke continuar, também todos sabemos. Os únicos que parece não saberem são os tradicionais partidos da alternância que já se deixaram infiltrar, à grande, por este falso progressismo pós-moderno que hoje se tornou o principal alimento do combate da direita radical, com os sucessos que todos lhe conhecemos. Se quisermos encontrar entre nós esta presença da linguagem “woke” basta ler alguns projectos de revisão constitucional que estão em debate parlamentar. Com uma agravante: a direita radical atribui esta mundividência a forças políticas que na sua matriz nada têm a ver com a ideologia woke ou a política identitária, mas que se deixaram seduzir por elas quando lhes faltou o conteúdo ideal que não souberam renovar ou que trocaram por um pragmatismo de governo axiologicamente asséptico e em molho “algebrótico”, como diria um psicanalista meu amigo, ao resumir, com uma só palavra, o linguajar exclusivo dos números e das estatísticas que a maior parte dos políticos exibe a propósito e a despropósito. As linhas de força deste universo problemático estão aí bem visíveis e se as forças moderadas que se reconhecem na matriz moderna do nosso quadro civilizacional não puserem cobro a esta cavalgada será a direita radical a promover o seu combate e a ganhar com isso fortes consensos eleitorais que continuarão a levá-la ao poder, como tem vindo a acontecer.
III. OS NOVOS PROGRESSISTAS
Há algum tempo publiquei um pequeno ensaio sobre “A Esquerda e a Natureza Humana” (Santos, 2021). A questão era mais ou menos a mesma que aqui estou a analisar, embora o ângulo de abordagem fosse diferente porque se centrava sobretudo na esquerda clássica e nos seus desafios. Mas o que hoje me interessa, com a crise da esquerda clássica e do seu paradigma, é saber como está ela a ser representada pelos novos movimentos. A clarificação é delicada e um pouco complexa, mas oportuna e necessária, sobretudo quando nos defrontamos com uma tendência que, supostamente à esquerda, está a tentar impor a sua hegemonia no terreno da sociedade civil, estando a conseguir bons resultados até nos chamados “aparelhos de hegemonia” ou mesmo nas próprias instituições internacionais. Refiro-me ao multiculturalismo, à chamada política identitária à ideologia woke, aos paladinos do politicamente correcto. Não há, no meu entendimento, uma linha clara de evolução da esquerda clássica para estas formas de esquerda ou progressismo de tipo civilizacional, apesar de algumas afinidades, designadamente no seu organicismo antiliberal.
Tradicionalmente, os progressistas identificavam-se com “grandes narrativas” que propunham uma visão articulada, com profundidade temporal, da história como horizonte a partir do qual era assumido o compromisso político. Estas “grandes narrativas” estavam ancoradas em classes sociais, propunham uma utopia como objectivo último da sociedade, promoviam a transformação social através da vontade política das classes sociais e das elites (através de partidos ou movimentos) e centravam em clivagens estruturais (como, por exemplo, o antagonismo entre capital e trabalho) o funcionamento da sociedade, propondo-se intervir sobre elas rumo à utopia, situada no futuro. Eram animadas por um optimismo histórico com profundidade temporal que dava alento à esperança em dias melhores, para todos. A revolução (ou a reforma, nas tendências mais moderadas) era a solução e a chave do progresso.
1.
Estas “grandes narrativas” políticas perderam a centralidade, dando lugar ao que Jean-François Lyotard, em “La Condition Postmoderne” (Lyotard, 1979), chamou sociedade pós-moderna. A “grande narrativa” ancorada no industrialismo e em classes sociais antagonistas tornou-se residual, sendo substituída por outras formas mais ancoradas na “superestrutura” do que nas fracturas estruturais. E é aqui que nos encontramos. Num mundo sem profundidade temporal e fragmentário, mas globalizado e de alta mobilidade migratória a caminho de um melting pot global. E é neste mundo fragmentário que nasce o discurso multiculturalista, o identitarismo comunitário e o politicamente correcto, ou seja, uma linguagem asséptica para a identificação das identidades comunitárias politicamente emergentes, sejam elas de género, de raça, de orientação sexual, de cultura ou de língua. Um desvio e uma significativa mudança na natureza das novas fracturas relativamente às clássicas fracturas estruturais. Por exemplo, a identidade de género e a sua dialéctica interna não tem características que possam ser identificadas com as da dialéctica entre classes. A sociedade é vista não como um complexo integrativo de indivíduos singulares, qualquer que seja a sua identidade (a visão liberal), nem como resultado de um antagonismo estrutural entre duas classes fundamentais (o marxismo), mas como um complexo de comunidades diferenciadas, cada uma com a sua identidade e a sua densidade histórica e social, a que é preciso dar voz, emancipar, autonomizar e protagonizar, reconhecendo-a na linguagem dos novos direitos emergentes ancorados numa sociedade multicultural, sem centro nem periferia e onde o direito à diferença rivaliza com o direito à igualdade, podendo até sobrepor-se-lhe. Mas a falta de uma “grande narrativa” deu lugar à busca de um colante que permitisse repor a hegemonia ético-política e cultural progressista. Encontraram-na numa leitura focada e extensiva das grandes cartas universais de direitos e deram início a uma tentativa em larga escala de transformar certos direitos nelas consignados não só em normas de comportamento universais obrigatórias e moralmente vinculativas, mas também em mundividências ancoradas em concretas comunidades sociais que passaram a funcionar como ordens de valor absoluto e com pregnância social formal e linguisticamente reconhecida e formalizada. Do que se trata, então, é de promover essas comunidades a eixo decisivo das sociedades modernas, considerado condição nuclear da harmonia social e do progresso civilizacional. Essas comunidades são os novos sujeitos (ainda) subalternos a que é necessário e justo dar voz. As linhas de fractura situam-se todas elas entre a sedimentação histórica resultante do processo evolutivo das sociedades desenvolvidas e o presente, reconfigurado à luz dos novos direitos. Elas não só aspiram à igualdade universal de direitos como também aspiram ao direito à diferença, a uma identidade própria não subsumível na totalidade social e ao alargamento do espectro das diferenças no interior do sistema social, plasmadas numa linguagem limpa das conotações negativas ou discriminatórias do legado histórico, ao reconhecimento social e formal da própria identidade e até a um poder socialmente reparador e sancionatório. O objectivo é o da igualdade de reconhecimento colectivo, mas inscrita no direito à diferença. Atingir a igualdade através do reconhecimento do direito substantivo à diferença. Estas comunidades vêem assim as suas identidades ser catapultadas a modelos a partir dos quais juízos de moralidade poderão ser pronunciados em função da medida dos novos direitos identitários. Identidades de género, de raça, de orientação sexual, de cultura e de língua, tratadas historicamente, no passado, como comunidades subalternas e discriminadas, a exigirem, agora, reconhecimento através de uma nova visão do mundo e da história centrada nos direitos multiculturais e às quais a linguagem comum se deve adaptar para não carrear consigo a marca e a mancha da sua génese histórica e das respectivas contingências ao longo do martirizado processo histórico. Linguagem expurgada das sedimentações históricas que se foram depositando nela e que são testemunho da iniquidade histórica.
2.
Vejamos um pequeno exemplo de resgate da iniquidade histórica. Bia Ferreira, conhecida cantora negra, brasileira, activista da comunidade LGBT: “eu vou”, à festa do Avante, “para denunciar os estragos que o povo português deixou aqui no Brasil”; “o que incomoda mesmo é a denúncia que eu faço: que o seu antepassado escravizou o meu povo, aqui no Brasil, e que a gente paga essa conta até hoje” (Expresso, 26.07.2022). Os portugueses considerados como causa remota dos males que hoje atravessam a sociedade brasileira, isto dito por uma militante orgânica e qualificada de uma (ou mesmo de várias) destas comunidades. Ditadura, Bolsonaro, qual quê? Portugueses. Está tudo dito. Agigantar uma causa, ainda que remota e explicável pelo tempo histórico em que aconteceu, cobre outras causas, mais próximas, mais reais e mais activas. Trata-se de um perigoso desvio anacrónico que polariza a atenção para uma falsa explicação, encobrindo e deixando por explicar a realidade efectiva. Um exemplo concreto muito elucidativo.
Do que se trata verdadeiramente é de um processo de conquista da hegemonia que já vai bastante avançado porque está a ser assumido acriticamente pelas instituições nacionais e internacionais como uma forma de progressismo civilizacional, construído à revelia da matriz iluminista e liberal.
Outros exemplos: em plena União Europeia classifica-se uma Unidade de Investigação e Desenvolvimento (UI&D) com base na ideia de simetria de género (transpondo para a ciência um critério especificamente social); exige-se o uso generalizado de linguagem neutra e inclusiva (através de uma limpeza ética do património histórico de uma língua ou do próprio património histórico em geral); ou, como no caso ridículo da empresa EMEL, do Município de Lisboa, fazem-se inquéritos a cisgéneros masculinos e femininos, a transgéneros masculinos e femininos e, mais interessante ainda, a outros (sexos), talvez géneros neutros. Isto para não falar da credibilidade mundial que vem sendo dada às inacreditáveis iniciativas do movimento #Me Too, algo que me faz pensar a um processo de streeptease emocional em diferido (vista a distância temporal entre o acto e a sua denúncia judicial e moral). Ou seja, está a propagar-se uma tendência ideológica multiforme que já capturou as instituições nacionais e internacionais e que está a assumir a forma de controlo administrativo e moral da linguagem e dos comportamentos inscritos nessa linguagem, não explicitamente enquanto directo controlo estatal dos comportamentos (com graves incidências sobre o Estado), mas enquanto controlo social sancionatório dos comportamentos e da linguagem que os exprime. A isto chama-se hegemonia, no seu sentido mais amplo, que não o estritamente político. Uma hegemonia, contudo, que, mais do que ético-política e cultural (no sentido gramsciano), é imposição administrativa, moral e institucionalmente coerciva, de tipo policial (polícia dos costumes).
3.
Como em todas as ideologias a carga semântica destas identidades elevou-se a absoluto, dando vida àquilo que Max Weber um dia designou como wertrational, racional em relação ao valor, substitutivo quer do zweckrational (próprio do capitalismo e da sociedade mercantil) quer do traditional (próprio das sociedades onde impera a tradição). O valor passou a ocupar, em linguagem weberiana, o centro do discurso identitário, alcandorando-se a politicamente correcto. Nada havendo contra a elevação do valor a critério comportamental, como é óbvio, o que não é defensável é que ele se torne absoluto e exclusivo polarizador do comportamento social, como nas religiões (nas teocracias) ou nas grandes narrativas políticas. A identidade comunitária passou a ocupar o centro do discurso progressista, num registo totalmente diferente da ideia de comunidade defendida pela esquerda clássica, porque agora se trata de múltiplas comunidades, novas identidades ou novos sujeitos sociais multiculturais, sem centro nem periferia e não subsumíveis numa qualquer ordem ou unidade superior nem remissíveis a uma fractura socialmente estruturante. Do que se trata é de uma luta pelo reconhecimento ancorada no direito à diferença e no valor da diferença. Uma lógica que contrasta com a matriz liberal da nossa civilização, como, de resto, acontecia com a visão marxista, mas que se diferencia do organicismo da esquerda clássica, ancorado na centralidade da classe. As comunidades são agora os sujeitos para onde remete a vida societária. A igualdade tem agora na diferença o seu contraponto reconhecido e validado pela sociedade, no direito, na língua, na política, na economia e na cultura. Em todas estas instâncias as identidades comunitárias devem ver garantido o reconhecimento institucional e social em formas substantivas. Uma dinâmica que tem demonstrado capacidade de imposição hegemónica na sociedade civil e até nas instituições.
4.
E é aqui que estamos. As tradicionais classes sociais do marxismo deram lugar ao multiculturalismo e às identidades comunitárias, que se elevaram a alfa e omega do progresso social e da linguagem societária, num processo que só poderia evoluir mediante uma filosofia organicista de novo tipo e uma crítica do universalismo iluminista e liberal. As comunidades integram a sociedade de forma orgânica. Se o centro era o indivíduo ou, então, a classe, agora não há centro porque há multiculturalismo, múltiplas identidades diferenciadas sem centro nem periferia. Tudo se esbate perante o emergir das comunidades e da diferença que aspira a tornar-se a regra número um das sociedades. É o multiculturalismo pós-nacional que resiste à cultura dominante, à matriz nacional do Estado, a qualquer tipo de integração superior, que é vista sempre como ameaça de domínio ilegítimo. O Estado passa a ser um conglomerado de comunidades e o garante da diversidade multicultural e das identidades comunitárias. O indivíduo cede o lugar à comunidade e a classe fragmenta-se em microcomunidades. As fracturas estruturais tornam-se “superestruturais” e a dialéctica é a da luta pelo reconhecimento e pela afirmação da identidade comunitária, seja étnica, de género, de orientação sexual, de língua ou de cultura. Assim se dilui a matriz e o património liberal, emergindo mesmo o problema da unidade nacional, da universalidade da lei e do Estado e da língua como colante nacional. Esta passa a ter como função a promoção identitária das comunidades, erradicando (de si própria) todos os vestígios que possam evidenciar marcas e manchas do passado histórico, sedimentações consideradas impróprias à luz dos supremos critérios da nova visão multicultural e da novilíngua que a exprime. O revisionismo histórico e linguístico passou a ser a marca de água da nova mundividência. Nada é mais importante do que a identidade comunitária. Tudo o resto fica na sombra, de tão intensa ser a luz multicultural e identitária e de tão imperativa ser a sua moralidade. O reconhecimento comunitário e identitário passou a ser a nova palavra de ordem em nome dos novos direitos, do progresso e da moralidade social. A assepsia linguística é a garantia visível e palpável do reconhecimento e equivale ao triunfo do presente sobre a profundidade temporal e os desvarios da história e da contingência própria do tempo histórico.
Nem a esquerda clássica aqui cabe, tal como não cabe a sua leitura acerca da fractura estrutural da sociedade capitalista, nem a visão liberal, com o seu universalismo e a promoção da centralidade do indivíduo e direitos correlativos, é compatível com esta doutrina. Findas as grandes narrativas irrompem os movimentos por causas centrados nas identidades comunitárias. Renasce um organicismo de novo tipo, agora ancorado no direito pleno à diferença em nome da afirmação da identidade das comunidades que passaram a ocupar o centro discursivo da sociedade como forma única de emancipação numa sociedade entendida como conglomerado multicultural, onde a diferença é a lei que domina. Uma inversão relativamente à conquista liberal da igualdade contra o privilégio. Mas também uma regressão nos próprios conceitos de Estado e de sociedade.
É aqui que se inscreve o politicamente correcto com pretensões de poder sancionatório e de reconfiguração “superestrutural” da sociedade, pondo na sombra, nesta luta, as questões que antes a esquerda punha no centro do combate político, a classe ou o povo oprimido, os sujeitos onde se ancorava a revolução. Mas pondo também em causa o universalismo liberal e a defesa dos direitos individuais. A comunidade orgânica, não a sociedade, é o lugar deputado onde se pode afirmar a individualidade. É através dela que o indivíduo se pode afirmar na sociedade. A lógica societária já não pode prescindir da lógica comunitária, acabando por lhe ficar subordinada. A centralidade do indivíduo passa a ser uma ficção que a nova mundividência nega e combate em nome da identidade comunitária e da sua pregnância social. Um certo retorno ao pré-mopderno.
5.
Será, portanto, este progressismo aceitável na forma como se tem vindo a exprimir, ou seja, nas suas pretensões hegemónicas e na sua vocação totalizadora, para a social-democracia ou para o socialismo democrático? No meu entendimento, não. Logo a começar pela sua caracterização como movimento orgânico e fragmentário que ilude fracturas que são essenciais para o progresso dos povos, mas também porque é um movimento sem densidade e profundidade temporal ao querer resolver no presente toda a temporalidade histórica, chegando ao extremo de querer anular radicalmente a diferença histórica, extirpando-a da própria linguagem comum e das formas de expressão pública (da arte pública, por exemplo, ou dos livros de ensino público) do tempo histórico. Por outro lado, o organicismo é tão inimigo da democracia representativa como amigo do corporativismo. E aqui a ideia de liberdade sofre uma contracção inadmissível para quem se revê na nossa matriz civilizacional e na própria razão de ser da social-democracia. A ideia de contingência histórica é recusada por imposição dos valores do presente como valores absolutos, como fim da história, como triunfo do wertrational – a orientação menos conforme à lógica inscrita nas democracias representativas e na sua matriz liberal. É claro que a própria social-democracia deverá reinventar-se para além das clássicas formas que foi assumindo ao longo do tempo, designadamente do Estado Social e de um certo comunitarismo tradicional radicado num classismo residual que nunca foi plenamente extirpado. Mas deverá também, et pour cause, rever a sua resistência espontânea e matricial à filiação no primeiro liberalismo anti-absolutista e anti-privilégio que determinou a matriz da nossa actual civilização e das mais avançadas formas de gestão política das nossas sociedades: o sistema representativo, a democracia representativa, o Estado de direito e a racionalidade do mercado. Basta ler a Declaração dos Direitos do Homem (palavra que na novilíngua acabará substituída por Ser Humano ou por Direitos Humanos) e do Cidadão. É certo que esta tendência teria sentido e seria até desejável se absorvida por uma política progressista que fosse capaz de a reposicionar no seu devido lugar histórico, limitando a sua pretensão hegemónica em vez de a promover no interior das suas fileiras, sem compreender que esta tendência hegemónica que vai avançando assume cada vez mais a forma de uma inaceitável opressão simbólica, de vigilância policial da história, da palavra e do pensamento, incompatíveis com a vida democrática e com a liberdade que lhe está na raiz. Parecendo constituir um progresso, esta mundividência, com as pretensões hegemónicas que tem vindo a revelar e com o seu organicismo, na realidade é um profundo recuo relativamente à matriz liberal da nossa civilização e um grave atentado à liberdade.
IV. IGUALDADE DE GÉNERO E LUTA DE CLASSES
Não é raro encontrar tomadas de posição, pelas defensoras de uma política para a igualdade de género, que, de tão radicais, mais pareça transporem para a luta política a lógica da luta de classes. Uma luta pelo poder entre quem o tem e quem o não tem. Assim, sem mais. Ou seja, a mesma filosofia e a mesma lógica que viam a classe operária como classe explorada pelo poder derivado da revolução industrial. Marx explicou bem a razão desta posição. As duas classes centrais na sociedade e na história eram a classe dos proprietários dos meios de produção e a classe dos produtores. Uma detinha todo o poder, a outra sofria-o. Hoje, nesta visão aggiornata, as mulheres representariam o grupo social dominado e explorado pela própria dinâmica interna de um sistema construído segundo a lógica do poder masculino. Um sistema, afinal, muito mais antigo do que a própria revolução industrial. No discurso feminista radical esta foi, é e continua a ser a contradição principal, apesar da igualdade perante a lei e das conquistas que foram alcançadas, sobretudo ao longo do século XX. E convenhamos que, apesar dos enormes progressos alcançados relativamente ao que se verificou durante séculos e séculos, a generalidade das sociedades desenvolvidas ainda não conseguiu atingir a igualdade substantiva, que não a legal, entre homens e mulheres. Até porque a lei não está concebida para tratar das identidades de forma diferenciada, porque, por definição, é geral e abstracta, sendo o seu referente a cidadania, e não as identidades. Não há, na matriz liberal do direito, nem um direito de classe, como queriam os teóricos do chamado direito soviético, nem de género ou de raça. E isto faz a diferença.
1.
Poderia fazer aqui uma exaustiva análise das etapas de evolução da relação homem-mulher, desde o conceito romano de filiae loco (e não de uxor) até Kant, onde à mulher não é reconhecida “personalidade civil”, sendo a sua “existência de qualquer modo somente inerência”, “porque a conservação da sua existência” não depende do próprio impulso, mas do comando de outrem (“Metafísica dos Costumes”, II, §46). Por isso, não lhe é reconhecido, pelos liberais, em geral, o direito de voto. Ou, depois, a situação nos USA até à XIX Emenda da Constituição, de 1920, onde finalmente acabaria por lhe ser reconhecido o direito de voto. Ou ainda toda a legislação que determinou uma sua dependência formal do marido. E por aí em diante, numa clara discriminação histórica de metade da humanidade. Bastaria ver a evolução do sufrágio universal para se ficar logo com uma visão dos termos e da iniquidade política desta relação ao longo da história.
Na verdade, se as desigualdades subsistem – e não é só, ou particularmente, entre homens e mulheres, mas entre homens e homens e entre mulheres e mulheres -, o objectivo deverá ser o da promoção progressiva de condições gerais que tornem possível a qualquer cidadão dispor das mesmas oportunidades. O Tocqueville chamava-lhe “igualdade de condições”. O Estado e a lei devem distribuir os bens públicos necessários a essa igualdade geral de condições e de oportunidades. Mas isso não significará automaticamente que todos aproveitem essas condições de base para atingirem os mesmos resultados, por várias e complexas razões. Justiça distributiva e justiça comutativa são os dois conceitos que distinguem, neste aspecto, a visão liberal da visão social-democrata e socialista. No caso da relação homem-mulher a questão é mais clara e pode ser isolada, removendo, finalmente, todos os obstáculos a que uma mulher, seja de que condição for, possa atingir com sucesso os mesmos resultados que os homens. E a primeira dessas condições deve ser, claro, a igualdade perante a lei, devendo-se, depois, proteger as diferenças específicas de género de modo a que não sejam impeditivas de obter resultados equivalentes. Por exemplo, a condição de mãe e todas as variáveis que decorrem dessa condição.
Políticas progressivas na relação homem-mulher tal como nas relações de cidadania são necessárias. Até mesmo recorrendo a medidas de discriminação positiva que ajudem a promover a igualdade de condições e de oportunidades, na relação homem-mulher ou, por exemplo, nas relações entre um interior deprimido e um litoral desenvolvido, desde que isso não se transforme em regra, castigando a universalidade e o carácter abstracto da lei.
2.
Mas o que não me parece aceitável é identificar a relação homem-mulher simplesmente como uma relação de poder, centrando nela toda a atenção e transformando-a na clivagem central das sociedades desenvolvidas. Até porque nestas sociedades o que legalmente é possível fazer já foi feito ou está a ser feito. E se é verdade que a relação homem-mulher é central na sociedade, ela não o é porque se trate fundamentalmente de uma relação de poder de um sobre o outro. É central porque é uma relação ontológica que garante a reprodução da espécie. Sendo uma relação social, ela é também uma relação natural. E é, e também por isso, uma relação com uma dialéctica de afectos que vai para além da própria relação de espécie, elevando-se à dimensão universal de género, sem perder a sua dimensão natural. Sobre isto Marx tem uma página muito interessante nos “Manuscritos de 1844”, no 3.º Manuscrito. Cito duas frases (MEW, 1981: I, 535): “A relação imediata, natural, necessária do ser humano com o ser humano (Menschen) é a relação do homem (Mannes) com a mulher (Weibe). (…). A relação do homem (Mannes) com a mulher (Weib) é a mais natural relação do ser humano com o ser humano (Menschen zum Menschen)”. Sublinho: relação natural do ser humano com o ser humano. Ou seja, nesta relação a natureza humaniza-se e o ser humano exprime-se como ser natural. Melhor ainda, com Umberto Cerroni: a relação homem-mulher “torna-se a medida de toda a civilização no específico sentido de que ela é a primeira relação natural do género humano e a primeira relação humana da sensibilidade natural” (Cerroni, 1976: 59). Mas ela é também constitutiva dessa comunidade de base que é a família com toda a série de vínculos inerentes, a começar nas relações de parentalidade e nas responsabilidades inerentes a essa condição. Esta relação é, pois, muito mais complexa do que uma relação de poder. Identificá-la, como faz, por exemplo, a deputada socialista Isabel Moreira (num artigo no “Expresso”, de 07.05.2021), como relação de poder é amputá-la das outras dimensões ou talvez seja mesmo amputá-la da sua dimensão essencial. Uma sociedade que veja desse modo esta relação – como relação de poder – tornar-se-á uma sociedade onde não se poderá viver porque atravessada por uma tensão permanente que destruirá a própria essencialidade, complexidade, riqueza e extrema delicadeza desta relação. Ela é uma relação ontológica que traduz não só o grau civilizacional de uma sociedade, mas também a sua moralidade, a sua cultura, a sua relação com o afecto, com a sensibilidade, com a beleza e com o futuro. Numa palavra: ela é mais, muito mais do que uma relação de poder. Identificá-la assim significa diminuí-la e reduzi-la a uma mera relação política, esquecendo que ela é uma relação ontológica primordial, como muito bem viu Marx, em 1843.
3.
Confesso que fiquei impressionado com este artigo da deputada, pelo seu radicalismo. Se este artigo fosse um poema, até teria gostado. Mas não, este é um grito de uma mulher que se sente assediada pelo mundo masculino mesmo na sua posição de poder, como deputada da Nação, titular de soberania no poder legislativo, mas também no poder comunicacional, onde também ocupa uma posição regular. Dir-se-á: é o grito de uma representante. Só que ela não representa as mulheres, representa a Nação. Não pode, pois, pôr o Parlamento, a que pertence, a gritar contra a outra parte da Nação.
Cito o início do seu artigo, que é todo um programa de combate:
“Todas as mulheres sabem que lhes falta poder. Aquele poder. O poder que o sistema atribui por defeito aos homens. O mundo avança, mas o mundo ainda é (em tudo) ‘masculino por defeito’ (…) e qualquer comportamento nosso é filtrado, e por isso enviesado, por essa distorção”.
O poder masculino não é, pois, conquistado pelos homens, mas funcionalmente atribuído pelo sistema, “por defeito”, ou seja, automaticamente. O sistema tem sexo e é masculino. Consequência? Mudar o sistema. Pela revolução?
Outra citação:
“As múltiplas convenções internacionais (…) deviam fazer pensar que a nossa morte acontece porque há um sistema de poder machista que passa por tudo, sim, por tudo, desde a linguagem que nos omite à organização do poder político”.
É mesmo uma questão de sistema. Faça-se o que se fizer, o sistema estará sempre lá para atribuir o poder aos homens e silenciar as mulheres. Consequência? Mudar o sistema. Pela revolução?
Finalmente:
“Todas as mulheres sabem o que é não ter poder, o mesmo é dizer que todas as mulheres sabem o que é ser mulher”.
Todas as mulheres sabem o que é não ter poder. Todas? É um problema de poder dito por uma mulher de poder a milhões de homens sem poder algum. O outro lado do poder é a mulher, na sua visão. Definir o poder pela negativa, por aquilo que não é, só é possível pela definição do que é ser mulher, o seu contrário. A contradição principal que se deduz de toda esta narrativa é a que se verifica entre poder (masculino) e mulher. No mínimo, é um modo um pouco estranho de encarar o poder e as desigualdades sociais. Muda-se o sistema para resolver esta contradição e, ipso facto, resolve-se todas as outras? Marx dizia que esta era uma relação natural já com dimensão social e que era a primeira relação social com dimensão natural. Dimensões que superam de longe a relação de poder entre ambos (uma relação social), porque se trata, afinal, de uma relação constituinte, enquanto relação de espécie e relação social primigénia, onde a dimensão cooperativa é, sem dúvida, determinante.
4.
A mim parece-me exagerada esta maneira de ver o mundo, sobretudo nos países desenvolvidos, onde a igualdade perante a lei, a igualdade de condições e a igualdade de oportunidades atingiram níveis de concretização muito assinaláveis. É um olhar zangado sobre o mundo. Depois, é uma visão anti-sistema, vinda de alguém que ocupa um importante lugar no sistema, pertencendo a um partido que não é, julgo eu, anti-sistema. Vendo bem, a culpa nem é da masculinidade em si, mas do sistema que a adoptou, uma espécie de “mão invisível” que tudo controla e domina. Um sistema com sexo pré-determinado no seu ADN. Sexualidade sistémica, diria. Masculina, por defeito. Depois, a consequência: a ruptura com o sistema e com o poder que dele resulta. E a pergunta natural: para populismo anti-sistema não chega já o CHEGA ou é preciso que os deputados eleitos nas listas do PS também passem a interpretar este papel?
Resumindo, poderia dizer que na relação homem-mulher converge o essencial da ideia de vida (Lebenswelt) e, por isso, não é me parece aceitável reduzi-la a uma mera relação de poder.
V. OS REVISIONISTAS E OS SEUS AMIGOS
É por estas e por outras que as agendas pública e política andam estranhas, com enchentes diárias de notícias alarmistas e de desperdício informativo nos telejornais, no prime time, que não há algeroz que as escoe. Sim, mas também com as notícias que referi no início deste Manifesto. O imenso lamaçal do revisionismo histórico, levado às costas sobretudo pelos talibãs do politicamente correcto e pelos profissionais de causas fracturantes, que aparecem sempre de mãos dadas com os cruzados radicais da ideologia de género, os que substituíram a luta de classes pela luta de género, num mortal combate corpo-a-corpo entre homens e mulheres, produzirá resultados políticos catastróficos se não fizermos, nós, a cidadania, um combate frontal, num tempo em que a gravidade do presente está a dificultar o olhar sobre o futuro. Na verdade, o novo progressismo dá cada vez mais o melhor de si, propondo uma limpeza ético-política da nossa história, que nem em D. Afonso Henriques acabará. Viu-se já um debate inflamado sobre heróis da guerra colonial, falando de uns (fracturantes) e esquecendo outros (não fracturantes), trazendo ao topo da agenda o tema do ódio racial – mate-se o homem branco colonialista, assassino e racista que existe em cada um de nós, desde tempos imemoriais -, num país que convivia tranquilo com o bom e o mau da sua história passada e que já estava a confiar os juízos sobre o passado aos historiadores, em espelho mais ou menos fiel e desapaixonado, onde cada um de nós serenamente poderia sempre rever, com a objectividade possível, o nosso passado colectivo. Vê-se pretensos académicos a catarem o racismo nas obras-primas da literatura portuguesa (onde se vislumbra “uma descomunal admiração pela brancura” ou crises “de melancolia negra”) e outros que, inadvertidamente (por enquanto), mas por imperativo de coerência lógica, acabarão por mandar derrubar esse pecaminoso (mas não por causa do Canto IX) cântico aos descobrimentos que tem por nome “Os Lusíadas”, esses colonialistas. Vê-se gente a considerar o colonialismo mais mortífero do que o antissemitismo germânico, numa lúgubre contagem de milhões de mortos com a lente da doutrina pós-colonial, quando a querer fazer contagens bem podia mais facilmente somar as vítimas das duas grandes guerras e constatar que nelas houve (na Europa, do Atlântico aos Urais) dezenas e dezenas de milhões de mortos, pondo, assim, o holocausto no devido lugar, em vez de, desta forma, o branquear, ainda por cima invocando vizinhança académica com a Vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Vê-se gente que quanto mais fala de colonialismo menos informação nos dá sobre a actual cartografia política, económica e social da África descolonizada ou da América Latina de hoje. Vê-se gente a questionar se os portugueses foram vítimas ou cúmplices da polícia política do regime do Estado Novo, sem cuidar de não generalizar, logo no título, o que indicia uma imensa ignorância e simplismo – desrespeitando os tantos que activamente ou em silêncio sofrido execraram este regime e, em geral, a generalidade dos portugueses. Vê-se gente – que ainda por cima representa, ou representava, a Nação – a clamar por um sofisticado corte epistemológico, com sangue e mortos, que, diz, não teria acontecido, mas que, na verdade, aconteceu, e da melhor maneira possível, ao passarmos, sem violência digna de registo histórico, de uma ditadura para um regime livre e democrático e para o fim da guerra colonial. Vê-se gente a clamar pela destruição de monumentos históricos em nome da sua visão clínica da história e da sua epistemologia caseira, até que numa progressão lógica do seu avançado pensamento acabe por abjurar “Os Lusiadas”, qual cântico ao pecado original que estaria na origem do colonialismo. Vê-se gente a usar o ofício de jornalista para promover e publicar aterradoras agendas doutrinárias inquisitoriais mais próprias de um procurador-geral ao estilo de Vichinsky e de uma visão policial da linguagem publicamente expressa do que de um jornalismo são, imparcial, objectivo e neutral, que deixa que seja o cidadão a avaliar a informação e não a encharcá-lo com idiossincrasias e agendas militantes pouco jornalísticas, fazendo da profissão um autêntico púlpito militante de causas idiossincráticas. Sim, infelizmente, vê-se isto e muito mais.
VI. FALAR NEUTRO E INCLUSIVO - Um exercício de divagação em torno da novilíngua, para desanuviar
EU ESCREVO MUITO, como se vê. Se calhar até escrevo demais. E ainda por cima em português, não em inglês, o que seria mais aceitável. Por isso, já comecei os treinos de escrita – embora timidamente, porque ainda pouco convencido da justeza da causa – em neutro e inclusivo. Nada fácil. Sobretudo escrever em neutro, porque gosto sempre de tomar posição. Não necessariamente pelo masculino ou pelo feminino. Pode até ser pelo neutro. Mas confesso que depois de tantos anos a escrever – e em várias línguas – tenho tido muitas dificuldades em escrever nesta novilíngua, apesar de estar habituado ao grego, ao latim ou ao alemão. Todas estas línguas têm o neutro. Por exemplo, der, die, das, em alemão, onde, inexplicavelmente, até a palavra cavalo é neutra: das Pferd. Mas em português, em italiano, em espanhol ou em francês não há neutro, julgo eu, embora haja sobrevivências latinas. Por exemplo, curriculum, em português. É neutro, em latim, mas não inclusivo (felizmente): o meu (não o teu) curriculum. Em português passou a ser masculino. Mesmo para mulheres. No inglês é mais fácil: o artigo é só um, nem masculino nem feminino nem neutro (nem plural): “the”. Que distância (e não só temporal) vai entre o inglês e o grego antigo! Três a um… para o grego. Mas se, mesmo com curriculum neutro (convertido, agora, em masculino), falar e escrever em neutro é difícil, já em inclusivo é mais fácil, apesar de tantas vezes termos de praticar e de exibir o exclusivo. Por exemplo, em textos originais, sobretudo em dissertações e em teses (o que é cada vez mais raro). Mesmo assim, a dificuldade é menor. Agora, o neutro é quase impossível. À primeira, escrever em neutro significa não tomar posição. Nem os jornalistas o praticam, apesar de a neutralidade (e a imparcialidade) estar inscrita como princípio em quase todos os códigos éticos. Escrever sobre um assunto é também refutar certas posições que se considera erradas, ou não? Não se deve ser neutro, na minha humilde opinião. Mesmo onde ainda sobrevive, na língua, o neutro. Andar de bissetriz em bissetriz é que não. Isso é o que fazem os temperadinhos do Camilo Castelo Branco. Eu creio que escrever e falar neutro equivale a não escolher e, logo, a nada fazer. Tenho, por isso, tido muitas dificuldades em escrever correcto, pela primeira vez na minha vida, depois de passar décadas a escrever como profissional. Até dificuldades de natureza psicológica. Logo eu, que gosto tanto de fazer coisas e, sim, de tomar posição. Mesmo em textos simples e formais. Um toque pessoal fica sempre bem, não é? Mas agora imaginem o que é escrever um poema ou pintar um quadro… em neutro e inclusivo. E nem sei o que pensará disto um compositor, mesmo que já tenha sido inventada uma notação musical neutra e inclusiva. Aqui fica-se mesmo literalmente perdido. Sem palavras. E sem cores. E sem notas. Fica-se neutro, parado. Nem inclusivo nem exclusivo. E, chegado aqui, é assim que, paradoxalmente, me sinto: neutro. Para começar, o que já não é mau.
1.
Não sei quem inventou esta novilíngua, não, mas a verdade é que os manuais já proliferam por aí. Manuais de bom comportamento linguístico. E até leis (por exemplo, a lei 4/2018, de 09.02, art. 4). A escola primária (e até o liceu ou mesmo a universidade) já não chega. Agora é aprendizagem ao longo da vida. E têm razão, tal como Sócrates, o grego, a tinha: só sabia que nada sabia. Neutralidade primordial. Por isso, declaro que hei-de estudar todos os manuais (num gesto inclusivo), por exemplo, o Manual de Linguagem Inclusiva do Conselho Económico Económico e Social ou o Guia da CCIG, para ver se aprendo a escrever sem erros semiológicos. Bem li e estudei o da Universidade de Manchester, mas soube-me a pouco. E confesso que até me assustou. O problema é que – e tenho bem consciência disso -, falando e escrevendo assim, para além da dificuldade (e até da canseira) de estar sempre a ser neutro e inclusivo, gastando toda a minha criatividade e todo o latim, o grego ou o alemão nisso, o risco é nunca tomar qualquer decisão, porque decidir é escolher e escolher é excluir, ou seja, é não ser neutro nem inclusivo. Mas a verdade é que as musas são nove, correndo-se sempre o risco de excluir alguma delas. Eu temo sempre esquecer-me de Terpsicore ou de Melpomene em algum dos meus poemas, excluindo-as, como Musas, e arriscando-me a ser atingido por um raio lançado a partir do Monte Parnaso ou do Olimpo. Se já é tão difícil escrever um poema, mais difícil será escreve-los na novilíngua. Uma nova tendência poética ainda pouco conhecida. Ouvir dizer “a poética do JAS é neutra e inclusiva” talvez fosse lindo. Mas temo que isso não venha a acontecer. Porque se já era difícil escrever, por exemplo, poemas meta-semânticos, esta nova escola é, por certo, muito mais difícil e complexa. Digamos, é meta difícil de alcançar, vista a escassez de recursos que se prenuncia. Naquela, pelo menos, sempre há um Fosco Maraini, com quem aprender. O “Lonfo” tanto pode ser neutro e inclusivo, como parcial e exclusivo. Será aquilo que um poeta quiser. Até porque “Il lonfo non vaterca né gluisce e molto raramente barigatta”. Não há, pois, na poesia meta-semântica problemas de maior com o neutro e o inclusivo. O “Lonfo” só aparentemente é masculino. Na verdade, ele “non vaterca né gluisce”. Mas, agora, com esta nova tendência, aprendo com quem? Só se for com a senhora deputada do PS Isabel Moreira. Se calhar, uma língua meta-semântica poderia ser a solução. Depois, pintar também de forma neutra e inclusiva é tremendo. Digo eu, que pinto. As cores, ah, as cores, como faço a ser neutro e inclusivo? Pintando sempre com todas as cores, sejam elas apropriadas ou não? E, depois, quem me compra os quadros? Os que gostam de azul, mas não de verde nem de vermelho (e são imensos)? Os que gostam de cores quentes, mas não suportam cores frias, nem sequer em Agosto? A preto e branco ainda vá que não vá: fifty/fifty. Mas, sendo neutro, não será inclusivo porque deixa de fora todas as (outras) cores. Bom, sempre poderei ficar conhecido como o pintor do preto e branco, ou do branco e preto (não sei se aqui a ordem dos factores será arbitrária), embora não saiba se estas duas palavras são eticamente aceitáveis na estética e na semiótica da novilíngua. Creio que não e, então, desabafando, perguntar-me-ei: “Ora bolas, como faço?”.
2.
O PROBLEMA já nem será conseguir escolher, num mais restrito léxico, as palavras (ou as cores) e com elas montar um belo texto (ou um belo quadro) e dizer alguma coisa que valha a pena. Não, a tarefa principal será escolher e usar (dicionário, pincel e manual à mão) palavras (e cores) neutras e inclusivas. Isto é que interessa. E, já agora, dizer e pintar o menos possível, porque quanto mais dizes e pintas mais escolhes e, logo, excluis. Que diabo, não se pode estar sempre a incluir. Até porque cansa. Incluir, cansa mesmo, apesar de o velho Marx dos “Grundrisse” ter dito, acerca da realidade, que o concreto é a síntese de múltiplas determinações (não confundir, todavia, com múltiplas e com terminações). Ou seja, o concreto até parece, pois, ser, pelo menos tendencialmente, inclusivo, na visão do grande intelectual da luta de classes. Oxímoro? Talvez. Mas disse. E o concreto também é neutro? Suponho que não, porque, caso contrário, não haveria línguas com o masculino, o feminino e o neutro, como o alemão. Mas, mesmo assim, vem-me a dúvida. E o pior é que nem lhe, ao Marx, posso perguntar, porque já se finou há muito tempo. E que pensar do velho Jean-Paul Sarte, que dizia, na peça “Huis Clos”: “l’enfer c’est les autres”? Inclusivo, ele, o pai do existencialismo? Não, claro que não… e muito menos neutro. Bom, se calhar era a influência de uma guerra que matou dezenas de milhões de pessoas. Ali, ou matavas ou morrias. Ali, o inferno eram mesmo os outros, os que estavam do outro lado das trincheiras. A inclusividade e a neutralidade não eram possíveis. Mas eram outros tempos. Agora, o que é preciso é ser neutro e inclusivo, precisamente para não haver guerras, a não ser, claro, contra os que não são neutros e inclusivos. Oh, é mesmo isso. Uma nova teoria da paz. Vou perguntar ao Johan Galtung se esta teoria é possível e desejável. Uma teoria da paz neutra e inclusiva, mas que não dê tréguas aos que não são neutros nem inclusivos? Hum…
3.
Seja como for, se com esse monumento à simplicidade e à estupidez, diga-se em abono da verdade, que é o acordo ortográfico, nunca se consegue escrever um texto sem misturar a velha ortografia com a nova (e é por isso que eu nem tento, e aqui não sou militante neutro nem inclusivo, sou mesmo contra), mesmo andando com manuais de neo-ortografia no bolso, imagine-se o que será construir um texto com algum nexo e sentido totalmente neutro e inclusivo. Porque ou me preocupo em ser neutro e inclusivo ou me preocupo em dizer e fazer alguma coisa de jeito, sem pôr travões às quatro rodas na linguagem. As duas coisas ao mesmo tempo é difícil, a não ser para os profissionais do semioticamente correcto. Mas, mesmo esses, duvido que consigam. E até duvido que consigam vender um livro que seja. Artigos, vá que não vá, sempre podem publicá-los no “Expresso”. Mas é difícil, talvez porque se trate de coisas contraditórias (conjugar liberdade com manuais). Não sei, porque ainda não consegui entrar nos meandros desta novilíngua, na sua deontologia, na sua semântica, mas sobretudo na sua especialidade estética. Até porque, certamente, será preciso muito estudo, muito treino e sobretudo longas investigações sobre obras exclusivas e parciais (se é que este é o verdadeiro antónimo de neutro) para sabermos como não deveremos falar e escrever. Talvez estudando, por exemplo, o Eça de Queiroz (já comecei com “Os Maias”). O certo é que a literatura terá de recomeçar, voltar a ter fraldas para chegar a um vestuário neutro e inclusivo. Sobretudo no inverno, que faz frio. Bom, mas confesso que, infelizmente, talvez já não tenha idade para recomeçar tudo de novo. Tentarei, mas, se não conseguir, que é o mais provável (a idade não perdoa), continuarei com o fato e as gravatas que tenho vestido até aqui, sem receio de ser execrado pelos sacerdotes e sacerdotisas do semioticamente correcto, ficando de consciência tranquila porque, ao menos, e embora cheio de dúvidas, comprei e estudei todos os manuais da novilíngua (num generoso gesto inclusivo, como disse). Tudo bem, mas talvez seja também uma questão de liberdade e não só de dificuldade. Poder-se ser não-neutro, apesar de se tentar ser o máximo inclusivo. E se calhar é mesmo por isso que não me entendo com esta novilíngua. Aqui sou mesmo muito sensível. A verdade é que, durante o “Estado Novo”, me treinei a resistir aos manuais do politicamente integrado, inclusivo e neutro e a lutar por uma linguagem livre, tendo sido apanhado, pelo menos duas vezes, por não ter usado linguagem neutra, que era o que os do regime queriam. E assim continuarei – acabo de decidir, quase já no fim do Manifesto -, seguindo o conselho da Anne Rosencher em “L’Express” (1-7.04.2021, p. 8), que referia uma espécie de “espiral do silêncio” (E. Noelle-Neumann) que já está a tomar conta dos franceses, tendendo estes cada vez mais a silenciar-se com receio de se verem socialmente execrados por um uso menos politicamente correcto da linguagem. E o caso acontece logo com o francês, uma língua bué difícil, sofisticada e até um pouco exclusiva e “chic”, confessemos (as senhoras, antigamente, eram consideradas prendadas quando “parlaient français e jouaient le piano”). Mas, citando Marcel Gauchet, ia mesmo mais longe: falava de uma espécie de denegação linguística dos franceses. O seu conselho foi, pois, o de que “il faut se donner un peu de courage”, antes que a “espiral do silêncio” se instale e a novilíngua tome conta definitivamente de nós, nos entre pela boca adentro e acabe por nos sufocar a alma e o verbo. Que assim não seja. Amen.
REFERÊNCIAS
CERRONI, U. (A cura di) (1964). Teorie Sovietiche del Diritto. Roma: Giuffrè.
CERRONI, U. (1976). Il rapporto uomo-donna nella civiltà borghese. Roma: Riuniti.
DE MAISTRE, J. (1796; 1983). Considérations sur la France. In
FERNANDES, P. (2022). “A Viragem Identitária”. In “Observador”, 05.12.2022.
GOBINEAU, A. (1983). Essai sur l’inégalité des races humaines. In: Oeuvres, Tomo I. Paris: Gallimard. E em:
Click to access essai_inegalite_races_1.pdf
HABERMAS, J. (1991). “Cittadinanza e Identità Nazionale”. In Micromega 5/91, pp. 123-146.
HEGEL, G. H. (1821;1976). Grundlineen der Philosophie des Rechts. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp.
KANT. I. (1983). Metafisica dei Costumi. Roma-Bari: Laterza
KELSEN, H. (1955;1981). La Teoria Comunista del Diritto. Milano: SUGARco.
LYOTARD, J.-F. (1979), La Condition Postmoderne. Paris: Minuit.
MANNHEIM, K. (1953). Conservative Thought. In Essays on Sociology and Social Psychology. London: Routledge & Kegan, pp.74-164.
MARX, K. (1843-44). Zur Judenfrage. In MEW (1981). Berlin: Dietz Verlag, I, pp. 347-377.
MARX, K. (1843). Kritik des Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In MEW (1981). Berlin: Dietz Verlag, I, pp. 378-391.
MARX, K (1843). Kritik des Hegelschen Staatsrechts. In MEW (1981). Berlin: Dietz Verlag, I, pp. 203-333.
MARX, K. (1981). Oekonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In MEW, Ergaenzungsband, Schriften bis 1844, I. Berlin: Dietz Verlag, 1981.
MESEGUER, J. (2022). “El gran despertar: Qué es y por qué importa la revuelta woke”. In Nueva Revista, 181, 21.07.2022: https://www.nuevarevista.net/el-gran-despertar-que-es-y-por-que-importa-la-revuelta-woke/.
SANTOS, J. A. (2019). Homo Zappiens. Lisboa: Parsifal.
SANTOS, J. A. (1986). O Princípio da Hegemonia em Gramsci. Lisboa: Vega.
SANTOS, J. A. (1999). Os Intelectuais e o Poder. Lisboa: Fenda, pp. 71-87.
SANTOS J. A. (2021). “A Esquerda e a Naturesa Humana”. In
https://joaodealmeidasantos.com/2021/04/
SCHILLER, F. (1992). Lettres sur l’Éducation esthétique de l’homme. Paris: Aubier (Edição bilingue alemão-francês)
WEBER, M. (1980). Economia e Società. Milano: Edizioni di Comunità, I, 21-23; 207-268.
WHITMAN, W. (2009) Democratic Vistas. Iowa: University of Iowa Press. JAS@04-2023
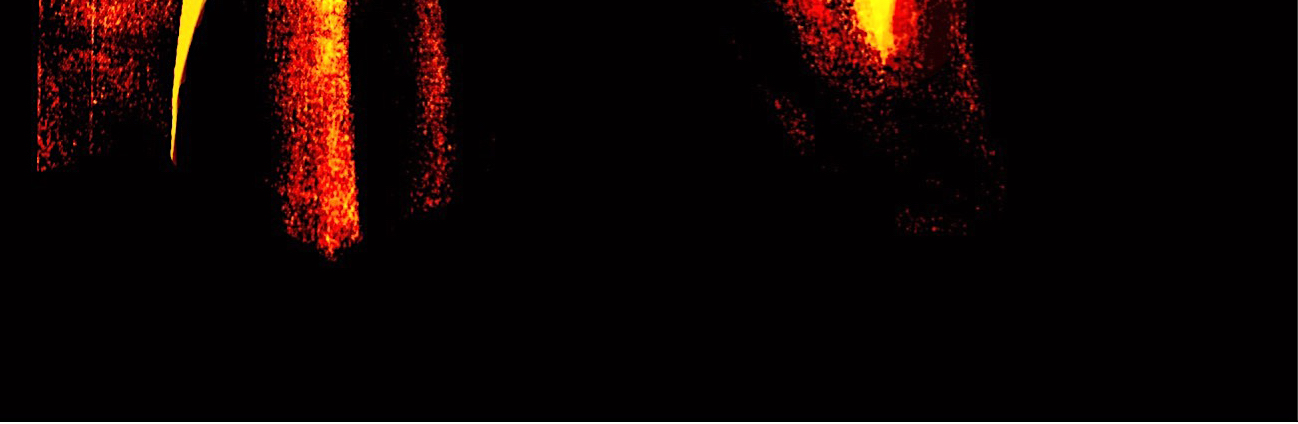
A DOR E O SUBLIME
Ensaios sobre a Arte
João de Almeida Santos
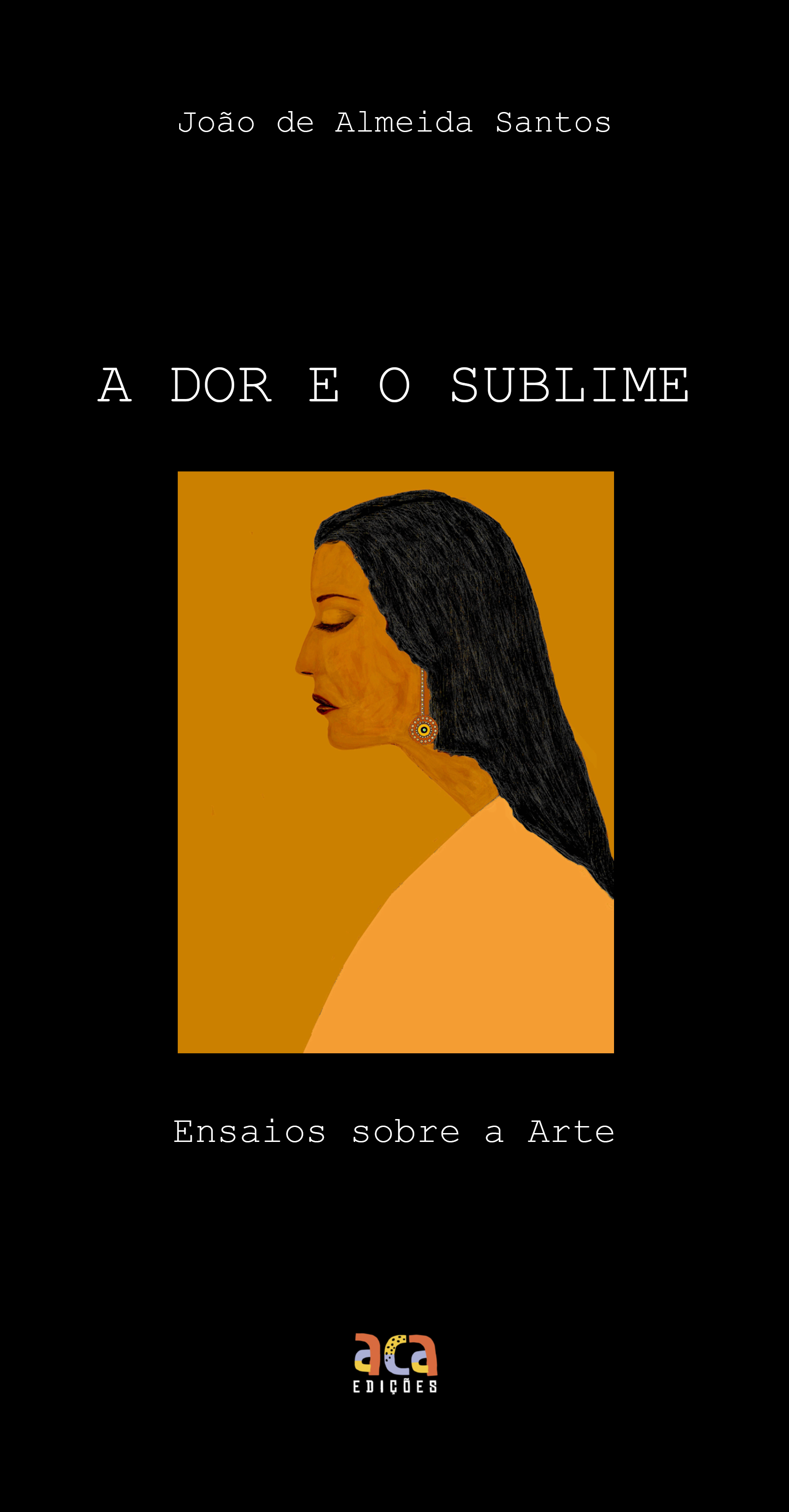
Pintura da Capa: “Perfil de Mulher”. 94×114, em papel de algodão Hahnemuehle. JAS, 2022. Colecção Particular.
EM BREVE SERÁ PUBLICADO este livro de Ensaios sobre a Arte, de minha autoria. Esta obra sairá, primeiro, em versão digital, de acesso livre, aqui e no site da Associação Cultural Azarujinha-ACA, e, depois, on paper, em edição limitada, mediante encomenda prévia. Por estar para muito breve a sua publicação digital, antecipo aqui não só a capa do livro, mas também a Introdução.
João de Almeida Santos
A DOR E O SUBLIME Ensaios sobre a Arte S. João do Estoril
ACA Edições, 2023
INTRODUÇÃO
ESTE LIVRO reúne Ensaios sobre a Arte, escritos sobretudo com o objectivo de confrontar a minha própria experiência estética, enquanto produtor de arte (romance, poesia, pintura), com o que grandes poetas produziram, mas também, ou sobretudo, com o que escreveram sobre a poesia. Verificar se neles se encontram as clivagens essenciais com que me confronto na minha experiência poética. Dominam, por isso, as reflexões sobre a poesia, que, afinal, constituem o núcleo essencial deste livro. Escolhi, pois, os meus interlocutores pela sua dupla condição de poetas e pensadores ou críticos (como Eliot, Poe ou Baudelaire, por exemplo), levando muito a sério essa afirmação do Edgar Allan Poe, em “Carta a B”, que sugere que as melhores críticas de poesia são as que são feitas precisamente por poetas:
“Tem-se dito que uma boa crítica a um poema pode ser escrita por alguém que não seja ele próprio poeta. Sinto que isto é falso, de acordo com a sua e a minha ideia de poesia – quanto menos poético for o crítico, menos justa será a crítica e vice-versa (Poe, 2016: 5; Poe, 1903)”.
Estas palavras valem o que valem, que não é pouco, ditas por quem as diz, mas são sugestivas e correspondem, no essencial, ao que eu próprio sinto e penso. Ou seja, tratando-se de uma arte muito especial, normalmente activada por intensas exigências interiores, talvez mesmo por imperativos existenciais, em virtude de um forte sentimento de dor, por melancolia, por perda ou por intensa nostalgia, ela solicita, na tentativa de compreensão e interpretação, algo que se assemelha a empatia, ao que os alemães designam por Einfühlung ou, então, no significado grego original de pathein ou pathos, palavras gregas que significam sentir/sentimento, doer/dor, comover/comoção. Só quem experimentou o estado de comoção (poética) está em condições de compreender em profundidade a poesia, ou seja, os poetas, por mais que eles procurem traduzir em linguagem universal o que, de certo modo, é inefável, a sua própria experiência interior. Eles convertem, como diz Bernardo Soares, os seus “sentimentos num sentimento humano típico” (Pessoa, 2015: 230) para que possam ser compreendidos, suscitando estética partilha. O inefável pode ser poeticamente convertido através desta operação, mas, mesmo assim, são os poetas aqueles que melhor podem aceder, nem que seja por processo analógico, ao que o poeta sente na sua experiência interior. Eles experimentam a Einfühlung em profundidade e por isso podem aceder a essa experiência originária, seminal. Uma experiência de delicado e incompleto acesso, portanto. Não basta, todavia, aos que procuram aceder ao discurso poético que experimentem eles próprios comoção ou dor, é preciso estar em condições de as metabolizar poeticamente e como imperativo, como exigência. É esta a condição do ser-poeta. Porque “dizer-se é sobreviver”, como dizia o Bernardo Soares no Livro do Desassossego (2015: 55). Mas esta é também, em parte, a condição dos amantes de poesia. Sim, dos amantes, para retomar a célebre frase de García Lorca: “la poesía no quiere adeptos, quiere amantes”. Ser “adepto” não garante, pois, autêntico acesso à experiência poética. É preciso amá-la e sofrê-la. Senti-la por dentro, transportando-se para o interior das estrofes, experimentar o sentido e sentir a vibração da toada que se desenrola verso após verso. Esta é a sua diferença, talvez mesmo uma diferença ontológica, a que a coloca num patamar muito especial entre as artes e a distingue da mera experiência do sentir. Há um “quid” na experiência poética que não se compadece com uma aproximação meramente ornamental e exclusivamente física. A poesia não tem exterior, evolui de dentro para dentro sem concessões ao artifício ou à pura fisicidade. Para o poeta, mas também para o amante de poesia.
*
SÓ NO CASO DE HEMANN HESSE me ative exclusivamente à sua poesia, embora tivesse sempre presente no meu espírito a famosa viagem existencial de Siddharta. Na verdade, a exigência radical do discurso poético levou-me a revisitar poetas de topo mundial, sim, mas aqueles que foram também, ao mesmo tempo, críticos literários de igual e relevantíssima dimensão. Basta pensar em Eliot ou em Baudelaire para se compreender o que pretendo significar. De certo modo, a minha própria experiência serviu-me de suporte e de guia no diálogo interessado, ou mesmo interesseiro, com os grandes poetas. Esta atitude não é, pois, uma atitude de natureza metodológica ou simplesmente teórica. Ela também corresponde àquilo que eu próprio, na minha prática, encontro como génese da arte – um imperativo, uma exigência existencial que leva o artista a criar. Não um “amusement”, um sofisticado jogo de palavras ou um exercício académico, mas uma necessidade incontornável, como a de respirar. Porque “dizer-se é sobreviver”, repito, com o Bernardo Soares. Por isso, talvez surja mesmo como uma solução para a própria vida, um acto sublime de sobrevivência. E, se for assim, no despertar poético é como descobrir que se foi tocado pela graça, sem predestinação, mas como dom recebido na sequência de um acontecimento que devastou a alma do poeta e o pôs em levitação, através da palavra e da sua melodia. Privação sofrida, levitação desejada, disse o Italo Calvino nas suas Lezioni Americane. Tristeza, melancolia, perda ou privação, algo que o toca muito profundamente e o leva a criar, para se salvar, para se redimir. Uma dádiva de sofrimento concedida pelos deuses. Com uma prova de fogo: não se deixar abater nem dominar pela dor, mas assumi-la, transfigurá-la e metabolizá-la poeticamente para se elevar ao sublime. A felicidade mundana parece não constar dos anais da poesia, poderia mesmo dizer com um pouco de necessária radicalidade. Uma salvação que é mais transfiguração do que fuga, ou seja, uma sofisticada metabolização que incorpora sentimentos já transfigurados – uma feliz melancolia, por exemplo.
*
A MAIOR PARTE DOS CAPÍTULOS é dedicada à poesia, estando a pintura, a música ou a dança em segundo plano. Também aqui não foi uma escolha puramente intelectual, mas um imperativo que decorreu da minha própria experiência de oito anos consecutivos de intensa produção poética. E não só, mas também pela importância que reconheço nela, na poesia, relativamente ao conjunto das artes. No livro dou conta desta posição e explico as razões da centralidade que lhe atribuo, em particular na sua relação com a música. Essa posição intermédia entre a dimensão conceptual e o sentimento, equivalente à que o sentimento ocupa na relação entre a dimensão fisiológica e corpórea do ser humano e a sua consciência, muito bem esclarecida por António Damásio no livro Sentir & Saber. A Caminho da Consciência (Damásio, 2020). O poder performativo da poesia e, por isso redentor, substitutivo, salvífico, resulta desta sua posição como ponto de contacto, como ponte entre o sentimento e a consciência, construída por uma materialidade sonora que acentua e reforça a sua dimensão sensível, sensorial. Uma arte que, todavia, não se eleva em fuga para o território irreal da pureza conceptual, para a pura esfera ideal ou para a crença, a fé incondicionada, mas que permanece no terreno do sentimento, da emoção, da melancolia, da nostalgia, da perda, da ausência sofrida, do amor, do desespero, submetidos a um processo de transfiguração e de metabolização para os elevar ao território do sublime. “Cristallisation”, dizia Stendhal a propósito do amor, no mesmo sentido. Sublimação. A poesia permanece no terreno do sensível, do sensorial, ajudada pela sonoridade rimática, pelo poder envolvente da música que a integra como sua componente interna. É a sonoridade poética que atinge de forma imediata a sensibilidade do próprio poeta ou de quem frui um poema. A poesia funciona como se se tratasse de uma ponte de ligação entre as palavras, com a sua carga semântica e a sua sonoridade melódica, a sensibilidade e o real. O primeiro visado pelo poema é sempre o próprio poeta. Se assim não fosse a redenção poética nunca aconteceria.
*
ENCONTRARÁ AQUI inúmeras páginas sobre grandes vultos da literatura mundial, como T.S. Eliot, Emil Cioran, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Hermann Hesse, Fernando Pessoa, Pierre Jean Jouve, Italo Calvino. Mas encontrará também reflexões mais amplas sobre a arte ou sobre a cultura, por exemplo, sobre Friedrich Nietzsche (sobretudo sobre “A Origem da Tragédia” ou “Ecce Homo”) ou sobre Theodor Adorno e o seu escrito sobre as indústrias culturais, incluído na Dialéctica do Iluminismo, mas também sobre Pina Bausch e o Tanztheater, com um enquadramento global e histórico sobre a dança, desde os seus primórdios.
Trata-se de um livro sobre a arte guiado por uma posição de fundo que encontrará confirmada nos diálogos com os autores-referência escolhidos. E essa posição de fundo assume a arte como dimensão ontológica, não como mero exercício profissional, como técnica de “amusement”, como virtuosismo cultural ou como especialidade académica. É nesta posição que julgo encontrar a diferença fundamental entre a grande arte, a grande literatura, a grande poesia e as produções que mais não visam do que o consumo imediato em posição de “distracção”, como diria o Adorno, referindo-se às indústrias culturais. Não, do que aqui se trata é de arte entendida como imperativo existencial, como procura do humano lá nas profundezas da alma com os sofisticados instrumentos de que ela dispõe e, no essencial, com as categorias que o Italo Calvino propõe para o milénio que já começou. A poesia marca uma espécie de diferença ontológica relativamente à experiência do sentir, ao sentimento.
*
ESTE LIVRO, também desenvolve e prolonga a reflexão que propus na Introdução ao meu livro de poesia (“Sobre a Obra de Arte”), bem como as respostas aos meus leitores digitais (”Reflexões em torno dos Poemas”), ambas nele incluídas (Poesia, Lisboa, Buy The Book, 2021, pp. 13-39 e 351-420). A Dor e o Sublime é como que a outra face, em prosa, das minhas concretas propostas de poesia, de pintura e de romance (em Via dei Portoghesi, Lisboa, Parsifal, 2019). Um livro que poderá, pois, ser melhor compreendido por quem visitar o que há anos venho propondo publicamente, em joaodealmeidasantos.com, seja poesia ou pintura, ou mesmo no referido romance, como resultado da minha própria, sofrida e levitada, relação estética com a vida.
NOTA
QUERO aqui deixar um agradecimento à ACA Edições pela honra que me deu em ser eu a iniciar a sua actividade editorial com este livro. Outros se seguirão, em breve.
REFERÊNCIAS
CALVINO, I. (1988). Lezioni Americane. Milano: Garzanti.
DAMÁSIO, A. (2018). Sentir & Saber. Lisboa: Círculo de Leitores.
PESSOA, F. (2015). Livro do Desassossego. Porto: Assírio&Alvim.
POE, E. A. (2016). Poética. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
SANTOS, J. A. (2021). Poesia. Lisboa: Buy The Book.

O ESTADO-CARITAS
Por João de Almeida Santos

“SELO”. JAS. 03-2023
ESTÁ A TORNAR-SE DIFÍCIL manter serenidade reflexiva neste país, com tantas e tantas estranhezas que nos assaltam cada dia que passa. E não é só a política informativa desses guerrilheiros desbragados do tablóide electrónico à conquista do pior que os espectadores possam desejar, à conquista das pulsões negativas, em todos os coloridos géneros televisivos, que os colem ao monitor, se for preciso, durante um “breve intervalo” de 16 minutos e de exposição a 53 anúncios publicitários, para, depois, ouvirem, durante 28 minutos, umas piadas num exaltante monólogo humorístico. A oferta do negativo domina esmagadoramente, ainda que isso possa contribuir para aumentar a não já pequena depressão colectiva alimentada pela crise e pela especulação. Todos os dias, entre as 20:00 e as 22:00, nos canais generalistas, com aquelas caras estafadas dos “pivots” a ritualizarem, por entre carradas de publicidade, as imagens polimórficas da desgraça. Leia jornais (bons), não veja os telejornais, é o que apetece dizer.
I.
MAS TAMBÉM A POLÍTICA não pára de surpreender. Mesmos os que se ocupam dela há muito. De repente, damo-nos conta de que já não temos em Portugal um Estado Social, mas sim um Estado-Caritas, um Estado que distribui constantemente esmolas aos pobrezinhos, alimentado financeiramente, como se sabe, por pouco mais de metade dos agregados (cujo total é de cerca de 5.4 milhões), a que paga impostos. Por exemplo, cerca de 45% destes agregados não pagaram impostos, em 2020. O triunfo da compaixão e do esbulho fiscal ao serviço de um arremedo de política pública. Com os mesmos sempre a pagar. O verso e o reverso: o Estado fiscal a financiar o Estado-Caritas, que se substituiu definitivamente à responsabilidade individual pelas opções que cada um deve tomar na sua vida. Uma espiral de virtude colectiva. Um excelente exemplo para os jovens: “não se preocupem, está cá um Estado-Papá rico para, com o dinheiro dos vizinhos e pobres contribuintes, esse maná inesgotável, vos ajudar sempre que precisem”. Podem continuar a ir aos concertos, todo o ano e em todo o lado, que não há problema. Haverá sempre um excedente orçamental para vos aquecer a alma e o corpo ao ritmo excitante dos impostos directos e indirectos.
II.
DEPOIS O ESTADO-REMAX, uma versão especializada do Estado-Caritas, para resolver o problema da habitação, tomando conta da propriedade privada, não a dos meios de produção, mas, mais prosaicamente, a das habitações, ainda que o n.º 2 do art. 62 da Constituição da República Portuguesa (CRP) seja muito claro ao referir-se exclusivamente a expropriação e a requisição, casos excepcionais que nunca poderiam alimentar uma regular política pública. Mas não importa, dá-se um jeito, em nome da pública compaixão e dos ideais de Abril. Mesmo que o outro artigo da CRP, o 65, só defina as linhas gerais de promoção da oferta de habitação, ou seja, diga que o direito à habitação equivale ao direito de aceder a um mercado habitacional que o Estado tem obrigação de promover com políticas públicas, competindo, depois, ao cidadão aceder ao que este mercado lhe oferece (propriedade ou arrendamento), com os seus próprios recursos. Mas não importa, abalança-te a comprar e a endividar-te para toda a vida que se, depois, não tiveres dinheiro para pagar a conta cá estaremos nós para te ajudar de forma consistente (e por cinco anos, se for preciso), em nome da pública compaixão. Compres ou arrendes, cá estaremos para te proteger. Não tens culpa de não haver mercado de arrendamento em Portugal e, por isso, ser preferível comprar do que arrendar a preços exorbitantes. Ao menos assim a casa fica tua, que é um modo de dizer. Por isso não te preocupes, o Estado é eterno e está sempre em dívida para contigo. Orgulhamo-nos-nos de sermos um país campeão da solidariedade. Só que há uma bela diferença entre meios de produção e propriedade individual para directo usufruto (e não como meio de produção), dirão os descrentes, os desapiedados. Há, sim, mas para o caso não interessa nada. Temos o dever da solidariedade e é isso que importa. É uma história com barbas? Pois é, e bem sabemos que ela já vem do Jean-Jacques Rousseau, do Discours sur l’origine les fondements de l’inegalité parmi les hommes, que passou por Proudhon (“la proprieté c’est le vol”) e vai direitinha a acabar na Constituição Soviética de 1936, com a apropriação pública dos meios de produção. E, ao que parece, ainda está bem viva por aí, e também por aqui. Há uns bons anos, o senhor Daniel Bensaid, filósofo e dirigente da LCR, não esteve com meias medidas e declarou para quem o quisesse ouvir: “La propriété c’est un vol très concret et quotidien”. (Libération, Maio de 1999). Proudhon revisitado. Não é, pois, coisa assim tão nova como parece. Os culpados dessa anormalidade do direito à propriedade privada, tão combatido logo no início da modernidade, foram os liberais, os burgueses, que tiveram o arrojo de pôr na carta fundacional da nossa modernidade, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (DDHC), de 1789, o direito à propriedade privada como direito natural e imprescritível. Querem ver? “Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression”. Direitos naturais e imprescritíveis do ser humano, anteriores ao Estado, reparem bem, tendo este, aliás, como fim a sua conservação, não a sua anulação. Não são uns exagerados estes liberais? Ainda por cima, não está lá o direito à habitação. Mas devia estar, para pôr na ordem o n.º 2 do artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), de 1948, perdão, Direitos Humanos: “Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade”. Bem sabemos que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE) diz, no n.º 1 do art. 17, que “todas as pessoas têm o direito de fruir da propriedade dos seus bens legalmente adquiridos, de os utilizar, de dispor deles e de os transmitir em vida ou por morte. Ninguém pode ser privado da sua propriedade, exceto por razões de utilidade pública, nos casos e condições previstos por lei e mediante justa indemnização pela respetiva perda, em tempo útil”. Sim, bem sabemos, mas também sabemos que, no fim, o artigo diz que “a utilização dos bens pode ser regulamentada por lei na medida do necessário ao interesse geral”. Aqui está a base europeia para obrigarmos por lei, através dos nossos autarcas, os privados a arrendarem as casas devolutas. Só é preciso regulamentar este comando, o que faremos sem hesitação em nome da pública compaixão. Mesmo que haja dúvidas sobre se não se trata, nesta frase, também da figura da expropriação e da respectiva regulamentação sobre o uso do objecto expropriado. Mas isso interessa pouco ou nada ao lado da solidariedade e da compaixão. Da pública compaixão.
III.
LIBERAIS, DIZEMOS NÓS! Pois que fiquem a saber esses liberais empedernidos e pouco solidários que o direito à habitação vale tanto como o direito à propriedade privada. Isto disse, e bem, a futura líder do Bloco de Esquerda e, depois, a frase foi acarinhada pelo Senhor Primeiro-Ministro. Disse ela: “O direito à propriedade não pode ser um direito que se coloca acima de outro, que é o direito à habitação. Obviamente que as pessoas têm a sua propriedade, mas têm o dever de colocar o imóvel no mercado“ (CNN, 01.02.2023). Pelo menos, salva-se o direito à propriedade privada, o que já não é de todo despiciendo. Sim, senhor, embora o direito à habitação não esteja formulado em nenhuma das três Cartas de Direitos Fundamentais (DDHC, DUDH e CDFUE), nem a Constituição o constitua como um direito linear, mas sim somente através de uma instrução constitucional ao poder político para criar condições de acessibilidade à habitação. O que é coisa bem diferente de um direito linear como o direito à propriedade privada. Aquele direito até coincide com este se for exercido através precisamente do exercício do direito à propriedade privada e nas mesmas condições – por aquisição com recursos próprios. Não por doação do Estado ou com choruda bonificação. E, dizem eles, os impiedosos, se na CDFUE é feita referência a uma “ajuda à habitação”, isso acontece somente por motivos de exclusão social e de pobreza (n.º 3 do art. 34). Sim, mas nós vamos fazer isso e não só para os pobrezinhos, porque todos merecem e, graças aos impostos em que nunca tocaremos, até temos folga para mais, até para superavit. Isto, sim, é justiça social. E só não é justiça total porque infelizmente o Estado ainda não conseguiu oferecer uma casa a todos, a propriedade de uma casa. Mas lá há-de chegar, se a justiça social não for palavra vã e se o direito à habitação não for letra morta constitucional. Rendimento de cidadania, casa, saúde, educação e férias. Este, sim, é um Estado Social em todas as variantes justas e desejáveis. E estamos a falar do Estado-Infraestrutura, porque ainda temos o Estado-Superestrutura que, cada vez mais, impõe normativamente padrões linguísticos e comportamentais detalhados para que a justiça social, a justiça histórica, a igualdade e a compaixão estejam também aí garantidas. É uma onda em crescendo, ou seja, uma progressiva normativização da sociedade que, embora interfira gravemente com o princípio da liberdade, fazendo mesmo lembrar as sociedades que cultivavam obstinadamente as públicas virtudes juntamente com os vícios privados, se revela necessária para que tudo seja justo, equitativo, não discriminatório e solidário. Entre o Estado de Direito e o Estado Social na sua forma inovadora de Estado-Caritas nós optamos por este.
IV.
POIS É, DIGO EU, já um pouco perplexo. Mas, mesmo assim, do que estamos a precisar é de quem escreva, como a seu tempo fez o Wilhelm von Humboldt, um livro sobre os limites da acção do Estado. Bem sei que esse era um empedernido liberal, talvez mesmo o mais empedernido dos liberais, a crer no que dele disse o Hayek. Mas que só durou até chegar o Bismarck, com o Estado Social, que depois continuou com a República de Weimar, com o Relatório de Beveridge e com o modelo social europeu e nunca mais parou, sobretudo aqui em Portugal, com a aceleração que o governo de António Costa lhe está a imprimir. Dizem para aí que aquilo que aconteceu em 2015 afinal era mais profundo do que parecia. O PS iniciou a metabolização profunda das pulsões da extrema-esquerda e foi por aí em diante numa cavalgada impressionante. Será mesmo verdade? O horror ao liberalismo nunca foi extirpado das fileiras do PS, mesmo depois de Bad Godesberg (1959) e da Terceira Via, isso é verdade, mas agora a marcha acelerou brutalmente, sobretudo depois da experiência da COVID 19.
V.
PARECE-ME, todavia, que o PS está mesmo a precisar de clarificar as ideias acerca dos limites da acção do Estado, para não dizer da própria natureza e funções do Estado, antes que comece por aí a pôr selos de “preço justo” em todos os produtos que circulem no mercado, a começar nas cebolas, nas batatas, nas maçãs e a acabar sabe-se lá onde. O anúncio já teve altas honras institucionais por parte da mesma personalidade que anunciou a grande oportunidade económica que iria resultar do surto de Covid 19 na China. Talvez também selos nos fatos, nos carros, nas casas. Selar tudo. Em nome da justiça mercantil. Criando um Ministério do Selo que garanta “preços justos” em tudo o que comercialmente mexa. Já não se falará de economia de mercado nem de economia social de mercado, mas de justiça social de preço e de mercado. Ao Estado já não interessa somente saber se o que acontece na sociedade está em conformidade com as leis, se é ou não legal. O Estado agora substitui as leis do mercado pela moral, inspirando-se certamente na teoria smithiana dos sentimentos morais, um regresso ao Smith filósofo contra o Smith economista, o da “Riqueza das Nações”. Também aqui estamos a precisar de facto de um novo Adam Smith e de um novo John Maynard Keynes que ponham os pontos nos is. Que expliquem a nova política do selo e da habitação. Entretanto, sem que a justiça social de mercado se aperceba, vão-se consolidando os oligopólios na energia, nas telecomunicações, na banca, na distribuição. Parece que as grandes superfícies até já estão a criar lojas de bairro de modo a que o mercado da distribuição fique todo nas suas mãos. Com selo ou sem selo, numa generosa atitude de proximidade ao cliente. Assim, a produção, a montante, escusa de se preocupar em calcular preços – serão os três ou quatro oligopólios a indicar os preços na produção. Eles só terão de se preocupar com a produção, não com os preços. Isto, sim, é verdadeira democracia económica. O que interessa é o consumidor final, nada do que está a montante… Que o digam as empresas fornecedoras das grandes superfícies.
VI.
MAS ISSO NÃO INTERESSA NADA se esta oligocracia económica vier beneficiar o cliente, apesar de, tanto a montante como a jusante, os preços serem determinados pelos oligocratas, na cara das leis do mercado, do próprio Estado, que os deixou adquirir essas posições de domínio absoluto, e até do próprio consumidor final. Mas, avante. O que interessa, isso sim, é a metafísica da indemnização à senhora Alexandra Reis. Esse folhetim, esse “culebrón” que nunca mais termina. Esse, sim, é assunto de Estado que vale a astronómica soma de 500 mil euros e uma CPI para animar o pagode. O resto, ou seja, o destino da TAP e dos 3,5 mil milhões investidos nela, a localização do Aeroporto de Lisboa, a ligação a Madrid e à Europa por TGV pouco importam. Importa, sim, é o foguetório do escândalo moral.
VII.
A MORAL parece que tomou conta das nossas vidas – no Estado, onde o Estado Ético já substituiu o Estado Democrático de Direito; na moral, que se sobrepôs à lei; na economia, onde a lei moral se sobrepõe à lei da oferta e da procura em regime de concorrência; nos preços e na língua, no preço justo e na palavra justa. Sim, na palavra justa e politicamente correcta. O comentário dita lei em Portugal e até já temos um comentador-mor institucional que tudo comenta e tudo classifica, o relevante e o irrelevante, o central e o periférico. Tudo. Até as iniciativas legislativas do governo: a da habitação é uma “Lei-Cartaz”, não é para aplicar, mas somente para mostrar; ou o próprio governo: “requentado”, diz ele. Só que já ninguém liga ao que diz, de tanto dizer, e, por isso, a inflação parece já ter chegado de forma galopante ao preço da (sua) palavra. Dizem que já ultrapassou os 100 por cento. Podem subir as taxas de juro que esta inflação não parará. Por isso, também a sua palavra, mais dia, menos dia, carecerá de um selo de “valor justo”, dada a espiral inflacionista que a tem vindo a atingir e a desvalorizar. “Valor justo”, de montante a jusante. De Belém a Vilar de Perdizes. Que se espera? No mundo onde a moral é o valor social supremo também a palavra, et pour cause, o é, mesmo que tenha de correr o risco de sofrer, como já acontece, o grave efeito de uma inflação galopante que nos põe a todos numa autêntica crise de nervos e de discurso. Basta abrir um canal televisivo para constatar isso mesmo: uma floresta de papagaios a debitar palavras de nenhum valor, sequer facial. Uma espiral inflacionista que já também atingiu a palavra. Também aqui, no “valor-palavra”, seria necessário um selo de “palavra justa”. Mas não importa. Com selo ou sem selo, somos magnânimos, fervorosos adeptos da compaixão e cultores de TIRs de lixo publicitário em nome de duas ou três gargalhadas. Amen. JAS@03-2023

O BELO COMO PROMESSA DE FELICIDADE
Baudelaire e a Poesia
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 03-2023
FALAR DE EDGAR ALLAN POE e de Thomas S. Eliot sem falar de Charles Baudelaire (1821-1867) seria certamente uma grave falha, dada a sua ligação a Poe, o reconhecimento de Eliot, a importância do poeta e a influência que ele exerceu sobre a melhor poesia francesa e europeia, sobretudo através dessa magnífica obra “Les Fleurs du Mal”. Por isso lhe dedico hoje este pequeno ensaio.
1.
EM “L’ART ROMANTIQUE” (Baudelaire, 1925) Baudelaire cita a frase de Stendhal que serve de título a este artigo: “Le Beau n’est que la promesse du bonheur” (1925: 53). Ideia que ele concretiza mais à frente, à sua maneira, do seguinte modo:
“Assim, o princípio da poesia é, estrita e simplesmente, a aspiração humana a uma Beleza superior, e a manifestação deste princípio reside num entusiasmo, num rapto (enlèvement) da alma” (1925: 162; itálico meu).
O belo como felicidade: elevação, levitação da alma nas regiões sobrenaturais da poesia. Sim, de novo a poesia como acolhimento e redenção. Rapto da alma para o mundo inspirado da criação.
Ou, melhor, ainda:
“É um dos privilégios prodigiosos da arte que o horrível, esteticamente expresso, se torne beleza, que a dor ritmada e cadenciada encha o espírito de uma alegria calma” (1925: 172).
Dor ritmada e cadenciada pela poesia: alegria calma, diz Baudelaire, quando a arte, accionando e dando forma à “sensibilidade da imaginação”, subtrai o ser humano ao horrível e à dor. Uma espécie de poder terapêutico da poesia, de poder salvífico, redentor. Não propriamente de salvação, por fuga do real, tão criticada por Cioran: “O erro de todas as doutrinas da salvação é suprimir a poesia, atmosfera do inacabado. O poeta trair-se-ia se aspirasse a salvar-se: a salvação é a morte do canto, a negação da arte e do espírito” (2022: 40). Não, do que se trata, na verdade, é de uma metabolização poética dos sentimentos que o ser humano experimenta, da Erlebnis. Transfiguração poética da Erlebnis. O poeta não foge do real, incorpora-o, transfigurando-o e metabolizando-o. Só assim pode “neutralizar” a dor, transformá-la em “alegria clama”. Voilà.
É este um dos princípios e também uma das consequências da arte, daquela que, não tendo um fim exterior a si (“la poésie… n’a pas d’autre but qu’elle même”; ou “tout art doit se suffire a lui-même”, 1925: 157 e 129), se propõe como a mais alta e sublime aspiração humana – a contemplação do belo como “promessa de felicidade”, como elevação, levitação. Uma felicidade tranquila, calma. Leveza anímica, prazer espiritual. Sim, essa mesma que incorpora e transfigura pulsões e sentimentos numa metabolização espiritual profunda com alto poder performativo e com poder redentor. O contrário do que resulta do “humor demonstrativo”, da ciência, por exemplo, que procura a verdade, mas que afasta “os diamantes e as flores da Musa” (1925: 158) e que, por isso, é absolutamente o contrário do humor poético. A própria indústria e o progresso que lhe está associado também se revelam ser “inimigos despóticos de toda a poesia”. Ou seja, quando o conforto físico e a instalação material tendem a enfraquecer os sentidos e a desvalorizar a procura do conforto interior, através da contemplação. A trepidação ruidosa das massas urbanas (a Paris de Baudelaire) que engole o silêncio e a contemplação. O progresso industrial acelera o tempo e a velocidade e tende a “cegar” os sentidos. E, por isso, a quem diz que “nada do que é humano me é estranho” Baudelaire responde que “je me suis imposé de hauts devoirs, que quidquid humani a me alienum puto. Ma fonction est extra-humaine!”; ou, então, “é, pois, para evitar o espectáculo desolador da vossa demência e da vossa crueldade que o meu olhar permanece obstinadamente virado para a Musa imaculada” (1925: 179-180). A procura interior que eu persigo, diz, sintoniza com os “puros Desejos”, as “graciosas Melancolias” e os “nobres Desesperos” que habitam “as regiões sobrenaturais da Poesia” (1925: 160). Desejo, melancolia, desespero – os sentimentos que, ritmados e cadenciados, habitam o universo purificado da poesia baudelairiana.
2.
MAS VEJAMOS a afirmação de que o princípio da poesia reside no entusiasmo, num rapto da alma. Podendo parecer banal, a ideia de entusiasmo tem raízes profundas na história da poesia. Até pela sua etimologia: enthousiasmós, palavra grega que deriva de enthousiázdô, que significa estar inspirado e cuja raiz está na palavra grega éntheos, que alude a inspiração divina (theos), a estro. O filósofo italiano Benedetto Croce, em Storia dell’estetica per saggi, no capítulo sobre Racine, refere os quatro elementos que o poeta francês encontra na composição poética: a versificação, a imitação, a ficção/fingimento e o entusiasmo. Sendo certo que, além da versificação e da ficção/fingimento, a ideia de imitação já vem da antiguidade como ideia central, ou seja, a poesia imita em palavras e sonoridade, numa autêntica “sorcellerie évocatoire”, os sentimentos humanos, o entusiasmo, que também afunda as suas raízes na história da poesia, é, todavia, dos quatro, aquele que Racine mais valoriza (Croce, 1967: 92-93). Vejamos o que o próprio diz sobre o entusiasmo:
“le caractère qui n’est propre que a elle et qui la distingue essentiellement de la prose”; (…) “aussi les vers qui sont le fruit de cet enthousiasme ont une beauté don’t celle de la prose n’approche jamais”; (…) “voilà ce que Platon et Ciceron ont appelé fureur e inspiration divine, et que nous appelons enthousiasme e verve” (Racine, 1808: 177-78; itálicos meus).
Estamos, pois, a falar, também em Baudelaire, de uma dimensão essencial da poesia, a do entusiasmo, que mobiliza a “sensibilidade da imaginação” e que permite distinguir o que é do foro poético e o que não lhe pertence. “Há na palavra, no verbo”, diz Baudelaire, referindo-se naturalmente à poesia, “algo de sagrado que nos proíbe de fazer um jogo de azar. Manejar habilmente uma língua é praticar uma espécie de feitiçaria evocatória” (1925: 165; itálico meu). Feitiçaria evocatória, a única que pode aceder ao mistério da vida. Sobretudo a da poesia. É do foro poético o que diz respeito ao “mistério da vida”. É o que ele reconhece na poesia de Victor Hugo: Baudelaire diz que ele vê o mistério em todo o lado e que daí deriva o sentimento de “effroi”, de medo, de pavor. Esse mistério que Baudelaire também reconhece na pintura do grande Delacroix, sobre o qual escreve textos admiráveis: “c’est l’invisible, c’est l’impalpable, c’est le rêve, c’est les nerfs, c’est l’âme” (1925: 5). Numa palavra, o mundo do sonho e da fantasia. O mundo da levitação pela arte. Dimensões fundamentais inscritas na ideia de belo, que, para Baudelaire, contém, sim, um elemento eterno, mas também um elemento relativo, que não se deve suprimir para não cair na beleza abstracta e indefinível. Numa palavra, uma composição equivalente à própria dualidade do ser humano (1925: 52-53; 66-67), corpo e alma. O próprio Paul Valéry, no célebre texto Situation de Baudelaire, reconhece que, nos melhores versos de Baudelaire, há “une combinaison de chaire et d’esprit, un mélange de solennité, de chaleur e d’amertume, d’éternité e d’intimité, une aliance rarissime de la volonté avec l’harmonie” (1924: 26). Sim, uma combinação feliz de elementos pulsionais e sentimentais com elementos espirituais, essa dualidade: carne e espírito; solenidade, calor e amargura; eternidade e intimidade; vontade e harmonia. É na composição destas características contingentes e universais que se revela a poesia, dando vida, segundo Valéry, a um ser mais puro, mais poderoso, mais profundo, mais intenso, mais elegante e mais feliz do que qualquer ser humano concreto. Tudo numa linha melódica admiravelmente pura e uma sonoridade sustentada que distinguem a voz poética de todas as vozes prosaicas (1924: 28).
3.
VALÉRY RECONHECE o que todos reconhecem como factores determinantes na poesia de Baudelaire: 1) a influência decisiva de Edgar Allan Poe, através da assunção consciente e interior daquele que é conhecido como o princípio poético de Poe, a sua teoria da composição, a fusão entre mística e exactidão matemática, que conduziu a uma poesia no seu estado puro. A obra Les Fleurs du Mal, para Paul Valéry, terá sido construída em conformidade plena com os “ préceptes de Poe” – “tout y est charme, musique, sensualité puissante et abstraite” (1924: 24); Por exemplo, no poema “Le Balcon” (transcrevo somente os primeiros dez versos):
“Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,
Ô toi, tous mes plaisirs ! ô toi, tous mes devoirs !
Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs, Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses !”
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.
Que ton sein m’était doux ! que ton cœur m’était bon ! Nous avons dit souvent d’impérissables choses
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon”
(Baudelaire, 2003: XXXVI; pág. 57).
Poe foi reconhecidamente a maior influência que Baudelaire conheceu enquanto poeta e este retribuiu-lhe propondo o seu pensamento ao futuro (1924: 20); 2) a diferenciação estética relativamente aos poetas seus contemporâneos e já consagrados, Lamartine, Hugo, Musset, Vigny, a todos aqueles que partilharam entre si “les provinces les plus fleuries du domaine poétique” – “je ferai donc AUTRE CHOSE”, afirmou Baudelaire. “Sa raison d’état”, diria Valéry (1924: 9). Estavam, assim, lançadas as bases para uma nova poética que haveria de dar importantes frutos, enquanto tal, mas também no plano dos seus efeitos no mundo dos grandes artífices de poesia: Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Gabriele d’Annunzio.
4.
É ESTE O TERRENO DA POESIA, não o da submissão ao conforto físico ou aos sentimentos demolidores da alma, os que a impedem de se manifestar como levitação espiritual, dominando-a e impedindo-se de se exprimir no território do sublime. Por exemplo, a violência da paixão, essa “bebedeira do coração”. Isso não, pois se é verdade que é no coração que reside a paixão, “só a imaginação contém a poesia” (1925: 160-161). É na imaginação que ela reside. Existe no belo uma parte relativa, contingente, certamente, tal como na própria estrutura do ser humano. Sim, existe, mas Baudelaire reconhece que a sensibilidade que resulta da turbulência do coração “não é absolutamente favorável ao trabalho poético, podendo mesmo prejudicá-lo”. Pelo contrário, “a sensibilidade da imaginação sabe escolher, julgar, comparar, fruir isto, procurar aquilo, rapidamente, espontaneamente. É desta sensibilidade, a que se chama geralmente Gosto, que nós retiramos o poder de evitar o mal e procurar o bem em matéria poética” (1925: 162-63).
Há aqui uma importante distinção que se torna necessário esclarecer, pois pode parecer que a poesia é estranha aos sentimentos. Estes cegá-la-iam, impedindo-a de se exprimir superiormente. Certamente, quando acontece uma turbulência passional ela pode inibir aquela distância, aquele intervalo a partir do qual a alma se eleva, levita nesse território “sobrenatural” onde vive a poesia. É como se se tratasse do domínio avassalador de uma pulsão que cega e esmaga a própria sensibilidade, tornando impossível a sua conversão em linguagem poética, que requer distância, não um turbilhão de ondas emocionais que tudo leva à frente e esmaga. A poesia alimenta-se, não desta turbulência incontrolável, mas do sentimento de perda, de ausência, de relação interrompida com o real, de fracasso, de impossibilidade ou, para o dizer com Baudelaire, de desejo, de melancolia, de desespero. Ou, ainda, de nostalgia. Como diz Eliot, referindo-se precisamente a Baudelaire, ele explorava a sua própria fraqueza com fins especulativos, coincidindo nisto com Nietzsche: os poetas são impudentes em relação às suas próprias experiências: eles exploram-nas. A um “éclair” segue-se “la nuit” e a essa o belo poema “A une passante”. O clarão que o ilumina, o estremece e o cativa transforma-se, passado o “choc” e a escuridão da perda, em canto sublime (como veremos mais à frente). Verifica-se, pois, primeiro, o estremecimento provocado pelo clarão, e, depois, a noite, a ausência, a melancolia, uma distância sofrida, sim, entre o poeta e a realidade com que se confronta (já) remotamente, possibilitando essa colocação em intervalo que lhe permite observar-se na sua relação vivida com o mundo, a Erlebnis, e, depois, o canto redentor. Regresso sempre a essa fórmula fantástica do Calvino: privação sofrida, levitação desejada. Certeira, também em Baudelaire. Portanto, é necessário que seja possível levitar e não ficar esmagado pelo peso insustentável de uma pulsão destruidora e inibidora de distância. Já aqui falei, a propósito de Pessoa e de Hermann Hesse da recusa. Recusa consciente como condição da levitação por desejo. Levitação para essas “régions surnaturelles de la poésie” (1925: 160), onde acontecem os puros Desejos, as graciosas Melancolias e os nobres Desesperos. É para aí que Baudelaire voa, com a imaginação poética.
5.
FALANDO DE VICTOR HUGO, Baudelaire, que o admirava, afirma que “a contemplação sugestiva do céu ocupa um lugar imenso e dominante nas últimas obras do poeta”. Contemplação do céu nessa caminhada sugestiva da poesia.
“La contemplation suggestive du ciel occupe une place immense et dominante dans les derniers ouvrages du poëte. Quel que soit le sujet traité, le ciel le domine et le sur- plombe comme une coupole immuable d’où plane le mystère avec la lumière, où le mystère scintille, où le mystère invite la rêverie curieuse, d’où le mystère repousse la pensée découragée” (1925: 3123).
Uma imensidão misteriosa e sedutora esse céu que Baudelaire refere, falando de Victor Hugo: o céu como cúpula imutável que domina e pende sobre o discurso poético e da qual emerge o mistério com luz, onde o mistério brilha, convida ao sonho e recusa o pensamento do desalento. E por isso é legítimo que o poeta “se abandone a todos os sonhos sugeridos pelo espectáculo infinito da vida sobre a terra e nos céus. Assim, ele traduz numa linguagem magnífica as conjecturas eternas da curiosidade humana” (1925: 314). É este o universo da poesia que ele, inspirado pelo poeta Victor Hugo, também assume, embora numa poética que, como reconhece Valéry (“Baudelaire a recherché ce que Hugo n’avait pas fait”, 1924: 12), se diferencia da poesia daquele e da dos seus outros contemporâneos. Valéry chega, timidamente, a sugerir a ideia de complemento, referindo-se à poesia de Baudelaire relativamente à de Victor Hugo. O universo do mistério, da luz e do sonho, ancorados na abóbada celeste da catedral poética, é, de qualquer modo, uma fascinante formulação que cabe bem em qualquer poética. E, naturalmente, na sua.
6.
MAS NEM SÓ de céu ou de puros desejos vive a poesia de Baudelaire (nem a sua complicada vida pessoal e familiar tornaria isso possível). Ele dialoga com Paris e alimenta a sua poesia também da grande cidade e da multidão ruidosa que a povoa. Vejamos, pois, o que, a este propósito, diz Walter Benjamin no seus escritos sobre Baudelaire:
“O engenho de Baudelaire, alimentado de melancolia, é um engenho alegórico. Pela primeira vez, em Baudelaire, Paris torna-se objecto de poesia lírica. Esta poesia não é arte local ou de género; o olhar do alegórico, que atinge a cidade, é o olhar de um estranho. É o olhar do flâneur, cujo modo de viver envolve ainda de uma aura conciliadora aquele futuro desconsolado do habitante da grande cidade. O flâneur está ainda nos limiares, seja da grande cidade seja da burguesia. Uma e a outra ainda não o esmagaram. Ele não se sente à vontade em nenhuma das duas; e procura um refúgio na multidão. (…) A multidão é o véu através do qual a cidade bem conhecida aparece ao flâneur como fantasmagoria” (Benjamin, 1962: 155).
Aqui, Baudelaire recolhe a influência de Edgar Allan Poe, do qual traduzira um conto intitulado O Homem da Multidão. Benjamin não concorda com o paralelismo que possa existir entre este homem londrino e o flâneur parisiense, bem diferentes, de tão diferentes serem as duas cidades, mas não deixa de demonstrar a centralidade invisível da multidão num famoso soneto de Les Fleurs du Mal, “A Une Passante” (1962: 103), e a influência que ela tem na sua poesia:
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet;
Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
Un éclair… puis la nuit ! – Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?
Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être ! Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais !
(Baudelaire, 2003: XCIII, pág. 131)
A multidão ensurdecedora da cidade que logo parece engolir inapelavelmente tudo aquilo que emerge fugazmente da sua vasta e confusa superfície ondulante é a fantasmagoria que o alimenta e o leva ao estado melancólico, depois do desespero pelo desejo puro incumprido, o dessa mulher que só encontrará na eternidade, a do canto sublime, aqui, neste poema.
Num texto que há algum tempo aqui publiquei falava do “estremecimento” como energia-choque propulsora do voo poético. Aqui, Walter Benjamin fala de “choc” neste encontro do olhar envolvente, e até comprometido, do sujeito poético com a figura de uma mulher que passa na multidão ruidosa e subitamente desaparece, frustando um eventual amor (“Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais”). A multidão engolira essa mulher “agile et noble”, essa “fugitive beauté” que o fizera renascer talvez mesmo para o amor. O “choc”: “un éclair… puis la nuit”. “Um amor não tanto ao primeiro, quanto ao último olhar”, como diz certeiramente Benjamin. Último porque foi esse que ficou e deu lugar ao lamento poético. Uma “catástrofe”. Uma perda. Ausência inexplicável perante tal estremecimento. Um estremecimento convulsivo do seu corpo e da sua alma perante um “clarão” que quase o encandeia e, de repente, a “noite”, o fim, a ausência que viria dar lugar ao poema do desejo, da melancolia ou até mesmo do desespero. Quem nunca experimentou o fulgor cativante de um olhar tão fugaz e tão intenso como este? Sim, mas, porque o clarão aqui dará lugar ao canto, torna-se libertador, redentor este voo para as “regiões sobrenaturais da poesia”, onde habitam esses sentimentos já depurados do duro embate com a rugosidade e a aspereza implacável do real. Talvez se trate mesmo de um processo de metabolização poética do fracassado encontro e, por isso, de uma superior forma de resolução dessa “experiência vivida” a partir de um intenso e comprometido olhar.
A força da poesia de Baudelaire vê-se bem na difusão que ela teve e nos ilustres discípulos que interiorizaram a sua poética, mas vê-se também na leveza e na musicalidade com que assume essas linhas essenciais de fractura que separam a grande poesia de toda a outra. Apetece-me terminar com uma inocente provocação, usando o que ele próprio disse, em “L’Art Romantique”: “Ceux qui ne sont pas poètes ne comprennent pas ces choses” (1925:304). Será mesmo assim?
REFERÊNCIAS
BAUDELAIRE, Ch. (1925). L’Art Romantique. Paris: Louis Conard, Libraire-Editeur.
BAUDELAIRE, CH. (2003). Les Fleurs du Mal. In http://elg0001.free.fr/pub/pdf/baudelaire_les_fleurs_du_mal.pdf
BENJAMIN, W. (1962). Angelus Novus. Torino: Einaudi
CIORAN, E. (2022). Breviário de Decomposição. Lisboa: Edições 70
CROCE, B. (1967). Storia dell’estetica per saggi. Bari: Laterza.
ELIOT, T. S. (2019). Esaios Escolhidos. Lisboa: Relógio d’Água.
RACINE, L. (1808). Oeuvres. Paris: Lenormant.
VALÉRY, P. (1924). Situation de Baudelaire. Monaco: Imprimerie de Monaco.
JAS@03-2023

ELOGIO DA RENÚNCIA
Hermann Hesse e a Poesia
Por João de Almeida Santos
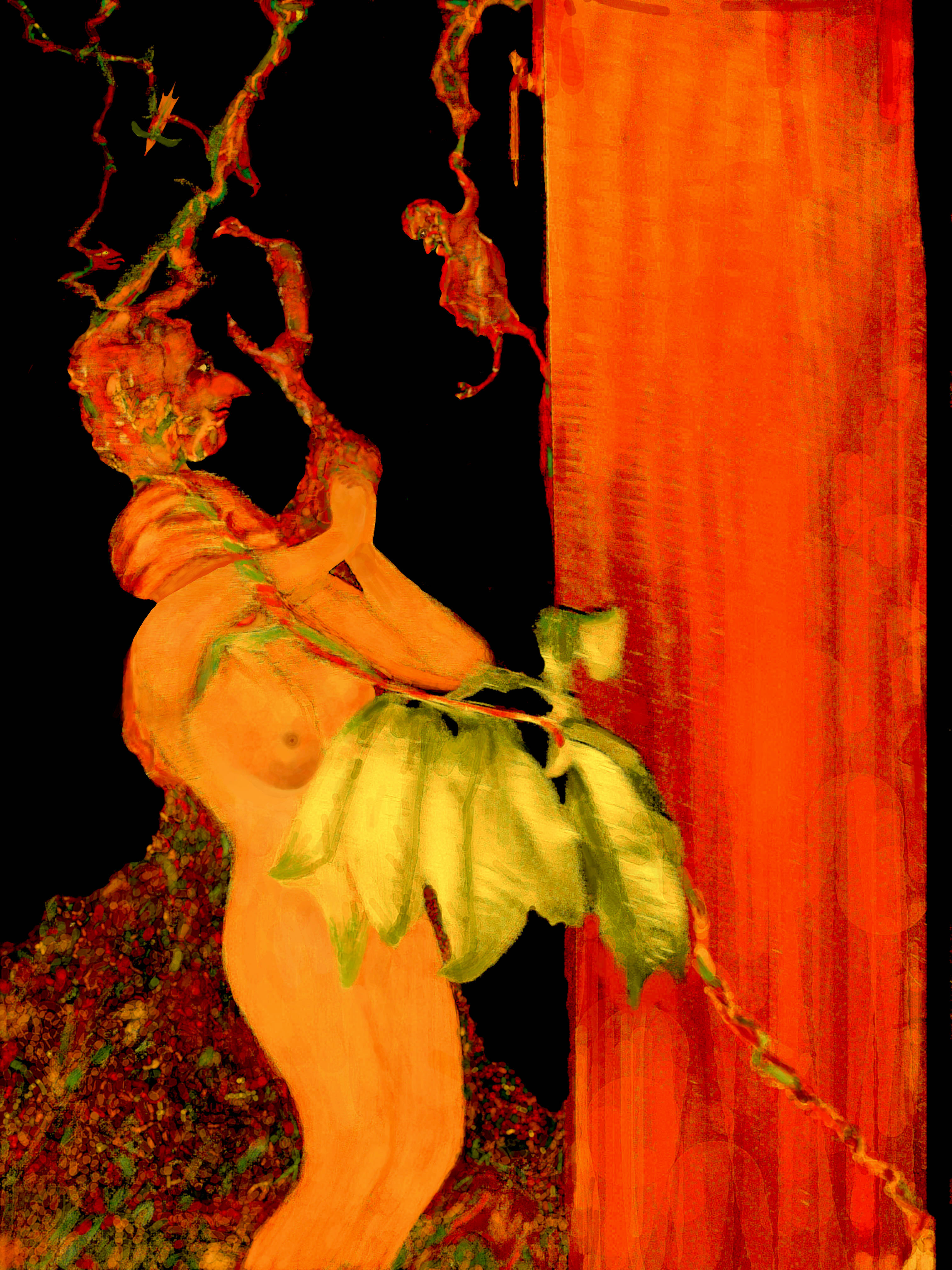
“Timidez”. JAS. 2021
VISITO regularmente um pequeno e encantador livrinho de Hermann Hesse, na sua edição bilingue, alemão-italiano, “Poesie del Pellegrinaggio” (Milano, TEA, 1995), uma selecção feita a partir da edição alemã da sua obra poética: Gesammelte Dichtungen (Frankfurt-am-Main, Suhrkamp, 1952).
1.
A RAZÃO desta regular revisitação é sempre a mesma: também Hermann Hesse joga toda a sua arte entre a incerteza do mundo e a solidez subjectiva do humano. Na relação assimétrica entre o mundo objectivo e o mundo interior. Diz Hesse no poema “Buecher” (aqui não incluído):
“Ali está tudo aquilo de que necessitas,/ Sol, estrelas e lua, Pois a luz que tu desejas Habita em ti próprio” (Dort ist alles, was du brauchst,/ Sonne Stern und Mond, Denn das Licht, wonach du frugst,/ In dir selber wohnt).
Aquilo por que perguntas, aquilo que desejas, reside em ti – sol, estrelas, lua, os elementos luminosos da sensibilidade e da fantasia. Ousaria dizer, usando linguagem filosófica, que a sua poesia se move no interior da assimetria que encontramos na relação entre a dimensão ôntica da vida e a sua dimensão ontológica, a que nos é confiada pela arte. Mas uma dimensão, esta, onde há uma certeza: a de que só caminhando incessantemente estaremos na via justa.
2.
Andou pelo oriente, Hesse, mas não identificou a espiritualidade oriental com os lugares físicos do oriente. A paisagem pode ser habitada pelo sublime, mas não é ela própria o sublime, porque ele está do lado do olhar. De resto, Hesse nunca valorizou a rigidez espacial perante essa inevitabilidade da viagem e da transitoriedade: “só quem está pronto para a viagem e para a partida pode subtrair-se à paralisia do hábito” (Stufen – Hesse, 1995: 92). Nomadismo existencial, portanto. Quem não viaja não vive, vegeta. Fica colocado numa impossibilidade. Mas a viagem no espaço é tão-só o prelúdio de uma viagem mais profunda, a da alma. Viajar é essencialmente isso. Viajar no espaço para melhor viajar no tempo com a alma, através da fantasia. Como se lê num verso que ficou famoso, do poema “Gegenueber von Afrika”, porque diz tudo em poucas palavras: “eu posso sempre ser somente forasteiro (Gast) e nunca cidadão (Buerger)” (1995: 42). Vejamos os quatro últimos versos do poema onde este está integrado:
“Para mim é melhor procurar e nunca encontrar / Em vez de estabelecer vizinhanças quentes e íntimas,/ Pois na terra e também na felicidade eu posso / Ser somente um forasteiro e nunca um cidadão.” (“Mir ist besser, zu suchen und nie zu finden,/ Statt mich eng und warm an das Nahe zu binden,/ Den nach im Gluecke kann ich auf erden / Doch nur ein Gast und niemals ein Buerger werden.”)
A tarefa deve ser a da busca constante sem ter a ambição de possuir o que se procura. Porque, como diria Pessoa,”possuir é perder” (2014: 238). É melhor não encontrar o que se procura, pois, assim, a busca é o processo, a vida é movimento constante. Forasteiro e nunca cidadão – é isso mesmo. Nunca dar por adquirido o que quer que seja para que nos possamos manter em movimento. Transeunte, passageiro existencial. Nunca adquirir autorização de residência na vida vivida, ficar instalado no mundo, com regras bem definidas e até com carta de condução para vaguear com segurança nas ruas estreitas e bem sinalizadas da vida. Não! Instalar-se equivale à paralisia própria do hábito.
3.
MAS HESSE é ainda mais claro no poema “Media in vita”:
“ (...) ueberall bist du nur Gast,/ Gast bei der Lust, beim Leid, Gast auch im Grab” (1995: 78).
“Em todo o lado és somente forasteiro, / Forasteiro no prazer, na dor, forasteiro também no túmulo“. Um estranho transeunte que nunca se fixa num prazer, numa dor. Forasteiro até na morada final. Trata-se, como é evidente de uma posição que reconhece grande fungibilidade à vida vivida. Um universo de contingência que só pode ser revisitado a partir de algo que é mais estável e denso: a vida interior, o eu interior. O ponto onde se apoia a alavanca de Arquimedes. A vida interior como a única certeza a partir da qual eu poderei revisitar o mundo. No poema “Lamento” (“Klage”) Hesse volta a reafirmar que “sempre somos forasteiros” (1995: 90), mas acrescenta algo que também encontramos no famoso verso de Antonio Machado: “Stets sind wir unterwegs”, estamos sempre a caminhar. Recordo o que disse Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Não é estranha esta coincidência – eram contemporâneos e ambos grandes escritores. Ambos evidenciam o processo, a necessidade de se construir e consolidar em movimento. O movimento é tudo e a rigidez existencial mata e anula. Paralisa-te, como o hábito, sim. No caso de Hesse, ele dava um especial valor ao viajar, uma espécie de metafísica do existir, de revolução da percepção que temos da vida. Um movimento que, afinal, também é de fora para dentro, um movimento para si próprio (sich selbst). Verdadeiramente, a viagem espacial é transitória, porque o seu destino é sobretudo espiritual. O exterior acaba sempre por funcionar como estímulo para um movimento interior mais profundo. Um movimento que, a certo ponto, se torna inexorável e radical, como se pode ver no poema (aqui não incluído) “Im Nebel”:
“Estranho andar na neblina! Viver é estar só. Nenhum homem conhece o outro, Todos estamos sós.” (Seltsam, Im Nebel zu wandern! Leben ist Einsamsein. Kein Mensch kennt den andern, Jeder ist allein.)
A vida é como a neblina, é algo espectral que nos tolda a visão. O que resta, portanto, é o regresso a si, por falta de visão nítida do mundo exterior. Não o conhecemos, a neblina existencial é espessa, mas, vendo-o, ainda continuaremos a não passar de transeuntes, de passageiros no autocarro do tempo. Neblina e perpétuo movimento. Cegueira espectral – é disso que se trata. É aqui que temos de nos movimentar.
4.
MAS VEJAMOS o primeiro poema, “Glueck”:
"Enquanto perseguires a felicidade Não estás maduro para seres feliz,/ Mesmo que fosse teu tudo aquilo que mais amas, Enquanto chorares o que se perdeu / E tiveres objectivos e fores incansável,/ Não saberás ainda o que é a paz. Só quando renunciares a todas as ambições, / Já não tiveres objectivos nem desejos, / Nem deres nomes à felicidade, Só então o fluxo dos eventos deixará / de chegar ao coração, e a tua alma repousará" (1995: 39) *.
Vejo neste poema, a seguir à neblina e à transitoriedade do mundo e do viver, um apelo à renúncia, algo que encontramos também em Fernando Pessoa, esse “pregador” da “renúncia”, no “Livro do Desassossego”:
“A vida só subjectivamente pode ser vivida por inteiro, só negada pode ser vivida na sua substância total”. “Feliz, por fim, esse que abdica de tudo, e a quem, porque abdicou de tudo, nada pode ser tirado nem diminuído”. “Sou a ponte entre o que não tenho e o que não quero” (Pessoa, 2014: 208-209; itálicos meus).
A ponte entre o que não tenho e o que não quero. A vida como negação, numa dialéctica entre opostos de onde resulta um tertium que incorpora e supera os seus termos ( a vida e o seu oposto lógico). A poesia corresponderia, assim, à Aufhebung (hegeliana). Só a renúncia – como oposto lógico da vida – é produtiva. Na renúncia coloco-me em posição de superar, através da poesia, a vida que se me oferece como contingência, elevando-me a um plano superior. No “Livro do Desassossego” Pessoa fala da colocação do artista precisamente numa posição de intervalo entre si próprio e o mundo. Só assim, nesta diferença, ele se poderá assumir como tertium, como superação, como artista. Renúncia: condição de paz interior, a única que nos pode levar ao belo. Para Hesse como para Pessoa. O reconhecimento da impossibilidade de nos instalarmos confortavelmente na vida, na sociedade, no real deveria levar-nos a renunciar, a dizer não, a não ceder ao transitório e ao contingente. Não procurar a felicidade, não chorar fisicamente o que se perdeu, não ter objectivos nem desejos – só assim se conhecerá a paz. Só neste estado de paz é possível recomeçar como artista, como poeta. Portanto, a renúncia é o gesto mais conforme à personalidade do poeta. Só assim se reconhecerá porque não se perderá à procura do que não deve e não pode obter. Porque uma imensa neblina cobre o real, a vida, tornando-a espectral. Vive sob o signo do que não teve, do que não quis ou, no máximo, do que sobrou do que teve ou não teve. “Eu canto o que se perdeu e temo o que se ganhou”, diria Yeats no poema “What was lost” (Yeats, 2012: 140). Na mouche, Yeats. Quando se ganha não há espaço para a redenção, porque a redenção é a própria vitória, embora esta se esgote em si, seja somente, e tão-só, um momento da dialéctica do confronto. E nada mais.
5.
A INSTABILIDADE no mundo exterior é permanente. Por isso, a condição da paz interior consiste em não estabelecer metas exteriores a nós próprios, à realidade que só nós controlamos. Na vida, no mundo somos meros transeuntes, a neblina é espessa, o mundo é espectral, somos meros passageiros, meros viajantes, meros forasteiros sem direitos consolidados ao que quer que seja.
Que resposta, então, para tanta relatividade na relação com a vida?
Talvez o poema “Media in Vita” (1995: 74-81; poema de 1921) dê a resposta: a arte, “die stille Zauberin”, a feiticeira tranquila, no seu círculo de feliz magia, quando o espírito tende para o jogo sublime. Mas este é processo que só pode acontecer interiormente. A arte como solução para a própria vida. Ela coloca-nos nessa zona íntima que escapa à transitoriedade e a partir da qual podemos dar expressão ao livre arbítrio da fantasia, à dialéctica entre a alma e a fantasia. Ela cobre com véus coloridos a morte e a dor, converte o tormento em prazer e o caos em harmonia, eleva-te ao nível das estrelas, faz de ti centro do mundo e põe o universo em coro à tua volta. O poema “Media in Vita” é um hino à arte e às proezas que ela consegue, lá onde “nenhuma fronteira separa sonho e acção” (1995: 74-81). Eu vejo aqui uma enorme proximidade entre o Fernando Pessoa do “Livro do Desassossego” e este Hermann Hesse, quando ambos, desvalorizando o contingente como terreno onde o humano se deva espraiar, valorizam, pelo contrário, esse universo interior onde a escrita reconstrói a vida, bela e livre. Diz Pessoa: “A arte é um esquivar-se a agir, ou a viver. A arte é a expressão intelectual da emoção, distinta da vida, que é a expressão volitiva da emoção. O que não temos (…) podemos possuí-lo em sonho, e é com esse sonho que fazemos arte (…); com a emoção que sobra, que ficou inexpressa na vida, se forma a obra de arte” (2014: 207; itálicos meus). A arte persegue o sonho da liberdade, fazendo coincidir o exercício da vontade, não com a vida, mas com a fantasia. Só assim é possível superar a fronteira entre o sonho e a vida… e voar.
6.
TEMOS, pois, aqui algumas ideias que gostaria de resumir para centrar o que pretendo com esta viagem, a pretexto deste livrinho de Hermann Hesse. As ideias de: a) transitoriedade da vida – somos forasteiros na vida; b) renúncia, enquanto princípio fundacional para a longa viagem interior; c) vida como um permanente caminhar; d) neblina mundana e existencial que, ao mesmo tempo, qual espectro, nos induz a virarmo-nos para o nosso eu interior; e) a arte como solução para atingir a liberdade e a beleza. Nestas posições, como vimos, Hermann Hesse não está só. E a companhia não se limita a Antonio Machado ou a Fernando Pessoa, seus contemporâneos. Ele está acompanhado pela história da literatura, por esse movimento que tende a resolver o dissídio, desejado ou imposto, com a vida (Pessoa achava-se um dissidente da vida – 2014: 120), o fracasso no confronto com a aspereza e a irredutibilidade da vida, a dialéctica entre o registo sensível da alma e o culto apolíneo do espírito – a arte como feiticeira e fonte de magia que nos liberta das fronteiras entre o sonho e a vida. Liberdade e redenção. Tudo isto, onde a arte surge como resolução superior da dialéctica entre a alma e a vida. Não por acaso a Hermann Hesse foi atribuído, em 1946, o Prémio Nobel, pela qualidade da sua obra. Pois essa qualidade, independentemente da sofisticação técnica ou da beleza da escrita, centra-se, também nele, como em todos os grandes, em ter olhado o mundo de frente, em ter compreendido as tensões estruturais que atravessam o humano na sua relação com o mundo, consigo próprio e com os deuses e na possibilidade de uma sua resolução superior através da arte.
* NOTA
POEMA “GLUECK”
“Solang du nach dem Gluecke jagst Bist du nicht reif zum Glucklichsein, Und waere alles Liebstedein. Solang du um Verlornes klagst Und Ziele hast und rastlos bist, Weisst du noch nicht, was Friede ist. Erst wenn du jedem Wunsch entsagst, Nicht Ziel mehr noch Begehren kennst, Das Glueck nicht mehr mi Namen nennst, Dann reicht dir des Geschehens Flut / Nicht mehr ans Herz, und deine Seele ruht.” (1995: 38)
REFERÊNCIAS
HESSE, H. (1995). Poesie del pellegrinaggio. Milano: TEA.
MACHADO, A. (1989). Poesías Completas. Madrid: Espasa-Calpe/Fundación Antonio Machado.
PESSOA, F. (2014). Livro do Desassossego. Porto: Assírio e Alvim, 7.ª Edição.
YEATS, W. B. (2012). Os Pássaros Brancos e Outros Poemas. Lisboa: Relógio d’Água.
JAS@03-2023

O POETA E OS FANTASMAS
Conversando com T. S. Eliot
Por João de Almeida Santos

“Fantasmas”. JAS. 03-2023
“TENNYSON e Browning são poetas, e pensam; mas não sentem o pensamento tão imediatamente como o perfume de uma rosa” (Eliot, 2019: 30). Na sua aparente simplicidade, esta frase de Thomas Stearns Eliot (1888-1965) encerra em si toda uma concepção acerca da poesia: a que se define pela relação assimétrica entre a sensibilidade e o pensamento. Uma questão antiga, mas central.
I.
A SENSIBILIDADE do poeta regista de imediato, nessa zona indefinida e vasta que é a alma, os dados sensíveis, ao estabelecer uma relação sensorial com o mundo, enquanto o pensamento os representa e os compõe idealmente. A primeira situa-se no plano da génese e o segundo procede à recomposição simbólica dos dados registados pela sensibilidade. Uma inscreve-se na alma e o outro no espírito. A arte resulta da composição de ambos ou, para o dizer com Kant, do livre jogo das faculdades: a da imaginação e a do intelecto. Na construção de um poema, uma vez registados pela sensibilidade os aromas, mais acres ou mais doces, mais intensos ou mais leves, com os quais a realidade perfuma a sensibilidade e a alma do poeta, desenvolve-se precisamente este livre jogo entre o sentimento e a razão, entre a alma e o espírito. Inalar espiritualmente esses perfumes para depois os devolver recriados, como pauta, compostos de acordo com uma gramática poética, é a vocação do poeta. Sobretudo daqueles perfumes que embriagam. Como o perfume do jasmim, por exemplo. Ou o da alma de uma mulher sedutora a quem o poeta desastradamente quis confiar a alma, mas falhando a relação. As suas asas são demasiado grandes, qual albatroz em terra (Baudelaire), para poder mover-se nas estreitas vielas de uma infausta vida. Mas sempre de perfume se trata. De um diálogo do real com a sensibilidade, com a alma do poeta. Só o perfume, acre ou doce, talvez mais acre do que doce, pode gerar poesia e fazer levantar voo ao poeta. E é precisamente sobre ele que o poeta se eleva, encontrando nas palavras a correspondência, a leveza e a melodia que não foi capaz de metabolizar fisicamente perante a rugosidade concreta de uma mundana relação sensorial com tentadores perfumes. Ou talvez por isso mesmo. Uma relação que desencadeia, como imperativo, um processo de transfiguração. A poesia, de certo modo, é a continuação do eros falhado, da pulsão de vida, por outros meios. Ela tem a sua própria gramática, embora talvez não tenha uma sua própria lógica, que é mais vasta, porque se inscreve na humanidade mais profunda do poeta, e que, por isso, o transcende, enquanto tal, enquanto poeta. Talvez seja isto que Eliot quer significar quando diz, a propósito de Yeats, que ”maturar como poeta, contudo, significa maturar como homem no seu todo” (2019: 119), ou a poesia como projecção e sublimação de uma experiência emocional profundamente humana, magmática, pulsional. Isto, mesmo que se considere que a poesia tem como fim ela própria, obedece exclusivamente à sua gramática, declinando-se internamente. Mas é esta sua inscrição matricial no humano que a torna existencialmente densa e lhe dá uma alta performatividade (com a ajuda da música). Ela é, sim, a continuação, por outros meios, da relação sensorial e anímica do poeta com o mundo, com os outros ou com os deuses. Só assim ele poderá levantar voo, com as suas asas de gigante, de albatroz, sobre o vasto e encrespado mar da vida.
II.
NIETZSCHE falava, em “A Origem da Tragédia”, de uma relação harmoniosa entre o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo na tragédia grega, a mais alta expressão do sublime. Do registo sensível dos estímulos e do seu tratamento racional. Enquanto no ser humano comum, vulgar, a experiência é caótica, irregular, fragmentária, no poeta ela acontece unificada numa síntese ordenada. Nessa mesma a que se dá o nome de poesia (2019: 30). E esta é autónoma e específica, e não é, para Eliot, uma meditação em forma poética. Aqui está outra distinção que considero importante. A poesia não é um instrumento ao serviço de interesses que lhe sejam estranhos, por mais importantes e sofisticados que sejam. Inscrevendo-se na esfera do pulsional, do emocional, ela vale pelo que é. Recebe estímulos, mas, depois, metaboliza-os poeticamente, dotando-os de uma gramática interna, de uma poética própria. Como ele diz, a poesia procura equivalentes verbais para estados de alma e sentimentos. E a lei não é ditada pela natureza dos estímulos, mas, sim, pelo próprio discurso poético. Os equivalentes verbais têm a sua própria gramática. “A palavra”, diz Italo Calvino. “liga as marcas visíveis à coisa invisível, à coisa ausente, à coisa desejada ou temida, como uma frágil ponte de acaso (di fortuna) lançada sobre o vazio” (Calvino, 1988: 74). A palavra como ponte entre o visível e o invisível em estado de levitação sobre um gigantesco vazio.
III.
A POESIA tem, por isso, uma consistente autonomia, mas também possui uma densidade talvez superior à das outras artes, mesmo à da música, graças à combinação dos dois elementos estruturais que a compõem, a sonoridade própria dos equivalentes verbais e o sentido, o valor semântico. Vejamos o que Eliot diz, no capítulo “De Poe a Valéry”, sobre a relação entre sentido e sonoridade na poesia:
“A poesia, de diferentes espécies, pode dizer-se que oscila entre aquela em que a atenção do leitor se dirige primariamente para o som e aquela em que se dirige primariamente para o sentido. Com a primeira espécie, o sentido pode apreender-se quase inconscientemente; com a última espécie – nestes dois extremos – é o som de cuja acção nós estamos inconscientes. Todavia, em cada tipo, som e sentido devem cooperar; até no poema mais puramente dominado pela encantação, não se pode ignorar com impunidade o significado das palavras que os dicionários registam” (redondo meu; 2019: 166).
Podemos aqui traduzir som por sonoridade e sonoridade por musicalidade e constatar que Eliot defende a harmonia entre musicalidade (rima, toada, melodia) e sentido. Ou seja, a poesia incorpora a música como seu elemento natural na mesma proporção da semântica, do significado, do sentido. Esta componente musical confere à poesia um poder de influência sensitiva tal que incide directamente sobre a sua performatividade, o poder de dar às palavras o valor de uma acção, uma sua maior fisicidade, logo, uma maior pregnância sensitiva. Eliot fala de encantamento poético na poesia com maior densidade musical, onde a sonoridade domina e, consequentemente, onde maior é o apelo sensitivo ou sensorial. Mas mesmo aqui reconhece que não é possível esquecer a dimensão semântica do poema, o sentido. Sem dúvida, mas na minha própria experiência poética, quando tenho de usar uma palavra e decidir sobre a sua maior ou menor adequação ao verso relativamente a outra equivalente, mas não tão pregnante do ponto de vista da sua musicalidade, do seu valor musical, eu opto sempre por aquela, pela que melhor se adequa à toada do poema. Ainda que ela diminua o valor cognitivo do próprio verso. Ou seja, dou primazia à sonoridade. É claro que a harmonia é o equilíbrio desejável, mas no meu entendimento o poder da poesia deriva mais da musicalidade do que da semântica. Mas também é verdade que Eliot critica Edgar Allan Poe precisamente por também ele dar primazia à métrica, à rimática, à musicalidade. Por exemplo, no caso do uso da palavra “(no) craven”, no poema “The Raven”:
“Though thy crest be shorn and shaven, thou,” I said, “art sure no craven,/ Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore— / Tell me what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore!” / Quoth the Raven “Nevermore.” (redondo meu; Poe, 1845).
Aqui “no craven” surge, no entendimento de Eliot, somente para responder a uma exigência rimática. O sentido foi subordinado à sonoridade (2019: 166-167). Mas a verdade é que, no meu entendimento, a sonoridade é decisiva pelo seu poder performativo, por ser a forma mais eficaz e directa de envolvimento sensitivo, de interpelação, de conversão física do acto poético, de transfiguração sensitiva do que se passa na alma do poeta. O que, todavia, não diminui o valor da semântica. Por outro lado, o momento apolíneo é importante porque é nele que a rugosidade, a aspereza do emocional é espiritualmente lapidada, como as pedras preciosas ou os cristais o são. Diz, Italo Calvino em Lezioni Americane:
“Il cristallo, com la sua esatta sfaccettatura e la sua capacità di rifrangere la luce, è il modello di perfezione che ho sempre tenuto come un emblema” (1988: 69).
De literatura falava Calvino, mas tendo presente o que acontece na poesia e, mais concretamente, no exemplo de Paul Valéry (ou do próprio Mallarmé): “la personalità del nostro secolo che meglio ha definito la poesia come una tensione verso l’esattezza” (1988: 66). Tensão orientada para a exactidão. Para a perfeição. Mas acrescenta, um pouco à frente, uma ideia que pode resumir de forma extraordinária o que acontece na poesia: “cristallo e fiamma, due forme di bellezza perfetta da cui lo sguardo non sa staccarsi” (1988: 70). Cristal e chama, as duas dimensões essenciais que formam a poética, a génese e a forma. Exactidão, refracção e fogo – os elementos que fazem da poesia uma arte bela e existencialmente densa e intensa.
IV.
NO CAPÍTULO sobre Baudelaire, referindo-se ao poeta francês, Eliot diz:
“tendo grande génio não tinha nem a paciência, nem a inclinação, tivesse ele tido o poder, para dominar a sua fraqueza; pelo contrário, explorava-a com fins especulativos” (2019: 62).
Palavras que fazem lembrar o que Nietzsche disse dos poetas, em “Para Além do Bem e do Mal”:
“Os poetas são impudentes em relação às suas próprias experiências: eles exploram-nas” (“Die Dichter sind gegen ihre Erlebnis schamlos: sie beuten sie aus” – Aforismo 161; Nietzsche, 1924).
Poderia parecer que o poeta pura e simplesmente instrumentaliza os sentimentos, as relações, como matéria-prima para fazer poesia. Uma relação de produção como qualquer outra. Mas não é assim, porque essa relação é sofrida, vivida, experimentada como fracasso, como perda, como naufrágio. Usaria as palavras que Calvino usou em geral para a literatura: “credo che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione desiderata e privazione sofferta. È questo dispositivo antropologico che la letteratura perpetua” (1988: 28; itálico meu). Privação sofrida – a condição da levitação poética. O modo de produção poético é de natureza existencial e está ligado à própria génese da poesia. Ela nasce de uma perda e como imperativo, como exigência, tendo como destino a redenção. Pecado e redenção, diz Eliot, referindo-se a Baudelaire. E acrescenta, um pouco à frente: Baudelaire “foi um daqueles que têm grande força, mas força meramente para sofrer. Não conseguia fugir ao sofrimento e não conseguia transcendê-lo, portanto, atraía a dor” (2019: 62). Sim, instalado num permanente desconforto que não conseguia superar. Talvez ele próprio também fosse genuinamente como o poeta a que se refere, em Les Fleurs du Mal, no capítulo “O Albatroz”:
“Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher”
(Baudelaire, 1857-1861)
As suas asas de gigante impedem-no de caminhar. Uma bela figura de estilo, esta. A referência ao albatroz. O desconforto do poeta em relação à realidade, que o agride (“sur le sol au milieu des huées”), talvez se deva, sim, à dimensão da sua personalidade como poeta, feito, como o albatroz, mais para voar alto do que para responder confortavelmente às asperezas da vida. Talvez o poeta seja mesmo desajeitado no palco da vida. Sofra, nela. Talvez o seu mundo seja de outra dimensão. E, talvez por isso, ele sofra de acedia, de uma melancolia profunda que o enfraquece e lhe causa uma dor de que não pode libertar-se. A condição de poeta, diria: ele está condenado a viver em estado de “danação”, a única forma de se libertar “do ennui da vida moderna” (2019: 66). “L’enfer c’est les autres”, como dizia Sartre em Huis Clos? Pecado, sim, mas também, ou por isso mesmo, redenção. Baudelaire, diz Elliot, “compreendeu que o que realmente importa é o pecado e a redenção”. E a poesia, filha da fraqueza, da dor e da acedia, redime. Ela é também filha da nostalgia, é “poésie des départs”, “poésie des salles d’attente”. Poesia de evasão, do que não se pode alcançar nas relações pessoais, mas que se pode obter através das relações pessoais (2019: 67). Porque através delas, da sua irredutibilidade à vontade do poeta, ele se eleva mais alto, metabolizando-as metaforicamente por um processo de transfiguração fantasmagórica e onírica. A “vocação superior” da “danação” talvez fosse o seu maior poder. E dele, deste poder, resultava o superior exercício da vocação poética (2019: 68).
V.
NO CAPÍTULO sobre Wordworth e Coleridge, texto de 1932, Eliot, falando de S. T. Coleridge (1772-1834), faz uma declaração fatal para os poetas. Diz ele:
“durante alguns anos fora visitado pela musa (…) e desde então foi um homem perseguido por fantasmas; porque seja quem for que alguma vez tenha sido visitado pela Musa é daí em diante perseguido por fantasmas (…). “O autor de Biographia Literaria era já um homem destruído. Por vezes, contudo, ser um ‘homem destruído’ é em si uma vocação” (2019: 86-87; itálicos meus).
Também aqui não poderia deixar de relembrar o que Franz Kafka disse, numa das Cartas a Milena, de Março de 1922, acerca das cartas, do beijo e, precisamente, dos fantasmas:
“Mas escrever cartas significa desnudar-se perante os fantasmas, o que eles avidamente esperam. Beijos escritos não chegam ao seu destino, mas são bebidos pelos fantasmas ao longo do trajecto. Através deste abundante alimento multiplicam-se, assim, de forma incrível” (itálicos meus; Briefe schreiben aber heisst, sich vor den Gespenstern entbloessen, worauf, sie gierig warten. Geschriebene Kuesse kommen nicht an ihren Ort, sondern werden von den Gespenstern auf dem Wege ausgetrunken. Durch diese reichliche Nahrung vermehren sie sich ja so unerhoert – Kafka, 1922).
Mas o que são os poemas senão encontros com a musa? Cartas de amor? E o amor não é um mundo de fantasmas que atormenta os seres humanos e muito mais ainda os poetas, por eles perseguidos desde que a musa os visitou? E se há musa há eros. Eliot sintoniza plenamente com Kafka e colhe uma das dimensões essenciais da poesia, precisamente a do seu destino. Por princípio os poemas não chegam à musa que os inspira. Aquela que, um dia, visitou o poeta. Dessa visita, nasceu o poeta e surgiram os fantasmas. Ou seja, eles surgiram já em ambiente poético e, por isso, alimentam-se e reproduzem-se através da poesia, bebendo os poemas ao longo do trajecto que tem como destino inalcançável a musa do poético pecado, o invisível, o que se perdeu. Os fantasmas cumprem a função que o destino lhes reservou. Só assim se podem reproduzir. Poeta e fantasmas, todos eles filhos do encantamento da musa. Pecado mortal. Como se ela fosse a fonte inesgotável da fantasia e da fuga e ao mesmo tempo o seu trágico destino. E é isso que, de algum modo, “destrói” o poeta, porque não vê as suas cartas de poético amor chegarem ao destino. Mas é esse precisamente o seu destino, serem os poemas bebidos pelos fantasmas ao longo do seu percurso, naufragando durante a viagem. Sim, e até Giacomo Leopardi, no poema “L’Infinito”, viu “dolcezza” neste naufragar: “e il naufragar m’è dolce in questo mare”. A doçura que a melodia do poema transmite mesmo quando se trata de “experiências de angústia”, como diz Calvino (1988: 62-63), de naufrágio, de perda, de fracasso, de impossibilidade. A poesia é filha da melancolia, da nostalgia e da impossibilidade, por perda irreparável ou por fracasso.
VI.
NA INTRODUÇÃO a The Waste Land é referida uma curiosa declaração de Eliot numa entrevista que deu sobre este seu poema e sobre as intenções que tinha ao escrevê-lo:
“Eu sei lá o que é que ‘intenção’ quer dizer! Uma pessoa quer é ver-se livre de alguma coisa que lhe pesa no peito. Não sabemos que coisa nos pesa no peito antes de a conseguirmos tirar de lá” (Eliot, 2016: 65).
Também se pode ler nesta introdução o seguinte: “a crítica foi incapaz, ao longo de muitos anos, de ver em The Waste Land a expressão de um profundo conflito subjectivo que, contextualizando-se na crise psicológica vivida por Eliot no período em que escreveu o poema, foi neste elevado à representação artística do confronto entre a grandeza das aspirações da alma e a prosaica mediocridade do mundo” (Eliot, 2016: 66). Aqui está. De uma coisa tinha Eliot a certeza: queria libertar-se do que lhe pesava no peito, sendo certo que só essa libertação lhe poderia identificar a natureza dessa opressão. A verbalização poética como efeito reparador e redentor porque traz à consciência o que oprime, o que provoca infelicidade. Não estamos no mundo dos confessionários para o pecado nem no dos divãs psicanalíticos para acesso ao que está recalcado, mas, sim, numa arte que liberta e redime. Uma dialéctica virtuosa entre a mediocridade do mundo e a grandeza de alma que ganha corpo no discurso poético, embora, que se saiba, Eliot passava, de facto, nesses tempos por uma grave depressão psicológica (que, de resto, teve de ser tratada por meios médicos). Na verdade, não importa que essa “depressão” seja psicológica ou existencial. Ou até mesmo metafísica. Ou religiosa. O que importa verdadeiramente é o sentimento de impossibilidade que agita o poeta e o seu desejo de caminhar sobre uma ponte de palavras levantada sobre um imenso vazio e que une o visível e o invisível, o sensível e o desejo de sobre ele levitar.
VII.
ESTES SÃO, no meu entendimento, aspectos com que uma reflexão sobre a arte poética tem necessariamente de se confrontar. E fazê-lo com poetas que reflectiram sobre a sua própria arte e, neste caso, com alguém considerado também, além de grande poeta, um grande crítico literário, laureado com o Prémio Nobel, em 1948, é não só reconfortante para quem lida diariamente com esta difícil e delicada arte, mas também tecnicamente muito útil para o próprio exercício poético. É claro que se trata de duas dimensões muito diferentes, mas de algum modo tem razão Edgar Allan Poe quando valoriza mais, na sua Poética (2016: 5), as reflexões dos próprios poetas sobre a arte que praticam do que as reflexões dos que, não a praticando, sobre ela se debruçam.
NOTA (LATERAL) SOBRE T.S.ELIOT
PARA um enquadramento ideológico e político do Nobel T. S. Eliot (as suas idiossincrasias sobre os negros, os hebreus e as mulheres) veja-se o pequeno e interessante ensaio do Professor Dario Calimano, Full Professor da Universidade Ca’Foscari, de Veneza: “Le Oscenità di T. S. Eliot” (Calimano, s/d).
REFERÊNCIAS
BAUDELAIRE, Ch. (1857 e 1861). Les Fleurs du Mal. Dedicado ao “Poète Impeccable”, Théophile Gautier. Link: http://elg0001.free.fr/pub/pdf/baudelaire_les_fleurs_du_mal.pdf)
CALIMANO, D. (S/d). “Le Oscenità di T. S. Eliot”. In https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/18882/19740/Oscenità%20di%20Eliot.pdf
CALVINO, I. (1988). Lezioni Americane. Milano: Garzanti.
ELIOT, T. S. (2019). Ensaios Escolhidos. Lisboa: Relógio d’Água.
ELIOT, T. S. (2016). Poemas Escolhidos. Lisboa: Relógio d’Agua.
KAFKA, F. (1922). Briefe an Milena. In https://docplayer.org/54278-Franz-kafka-briefe-an-milena.html
KANT, I. (1790). Kritik der Urteilskraft. In: https://www.pdfdrive.com/kritik-der-urteilskraft-d184363523.html
NIETZSCHE, F. (1924). Jenseits von Gut und Böse. Leipzig: Alfred Kroener Verlag. In https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Nietzche_JenseitsvonGutundBose.pdf
NIETZSCHE, F. (1872). Geburt der Tragödie. Leipzig: Verlag von E.W. Fritzsch.
POE, E. A. (2016). Poética. Lisboa: FCG, 2.ª Edição.
POE, E. A., (1845). “The Raven”. First published by Wiley and Putnam, 1845, in The Raven and Other Poems by Edgar Allan Poe. Poetry Foundation: https://www.poetryfoundation.org/poems/48860/the-raven). Jas@03-2023
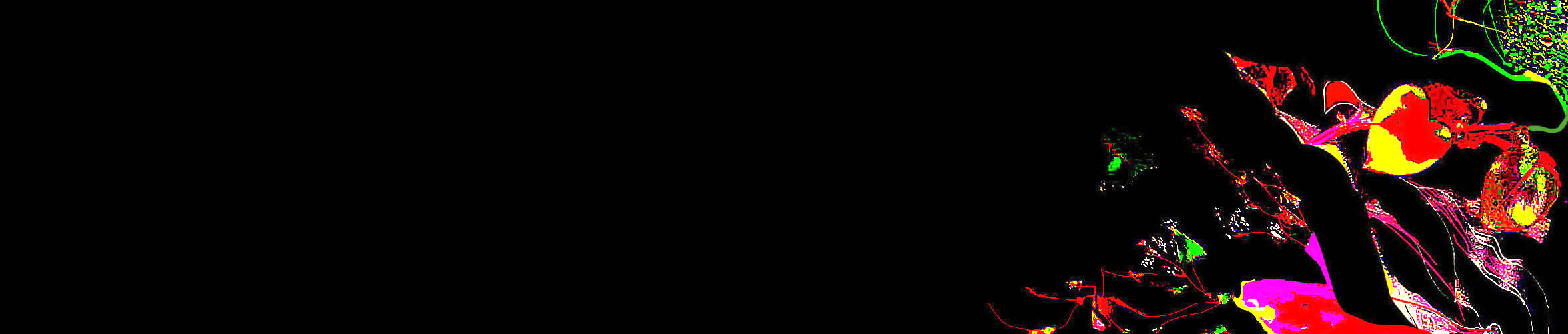
A POLÍTICA TABLÓIDE
E a Crise da Democracia
Por João de Almeida Santos
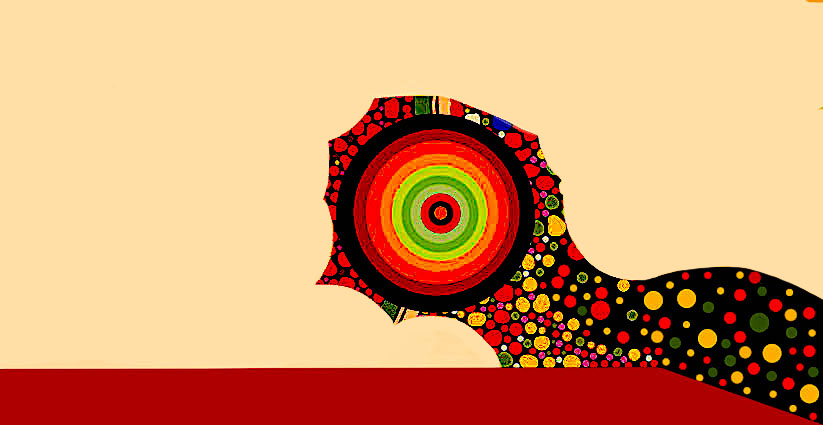
“S/Título”. JAS. 02-2023
NORMALMENTE, A CATEGORIA “TABLÓIDE” aplica-se ao universo da comunicação mediática. O nome tem a ver com o formato dos jornais e com o tipo de imprensa que antes se designava por imprensa amarela, já nos finais do século XIX, nos Estados Unidos. Imprensa popular. Uma imprensa que sempre explorou o básico da natureza humana. Eu defino-a através de uma simples palavra: o negativo (embora nesta categoria caibam outras características mais concretas, o drama, a catástrofe, o emocional, o íntimo, o sexo, entre outras). A exploração do negativo em todas as suas variantes, em todos os seus géneros. A exploração dos instintos primários do ser humano. O objectivo é claro: atrair a atenção, aumentar a audiência e vender publicidade para ganhar poder junto dos consumidores e, naturalmente, reforçar o poder financeiro. Comércio puro, lá onde um importante bem público desce à categoria de mera mercadoria. E, naturalmente, deste modo, também ganhar poder e influência junto do poder político, de forma cada vez mais intensa, numa espiral mercantil que se afasta cada vez mais dos códigos éticos. Em geral, do que se trata é simplesmente de obter sempre mais poder, em todas as dimensões. À imprensa tablóide (quase) nada interessam os chamados códigos éticos ou a função social dos media. Nada interessam normas que já vêm do século XVII, desde o chamado Código Harris, de 1690, passando, depois, pelo da famosa Enciclopédia de Diderot e D’Alembert (1751-1772), e que haveriam de se consolidar naquele que é considerado o primeiro código, em 1910, o chamado Código de Kansas, expandindo-se, depois, numa multiplicidade de códigos, de que destaco, pela sua importância, a resolução 1003, de 1993, sobre a “Ética do jornalismo”, do Conselho da Europa. O que, no final do processo, interessa a esta imprensa é a dimensão da audiência nem que para isso faça do mexerico a única razão da sua existência e da sua actividade. Ainda por cima, a coberto da chamada liberdade de imprensa, da sagrada liberdade de imprensa, consignada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e na, tão exibida, I Emenda da Constituição dos Estados Unidos, de 1791.
I.
EM BOA VERDADE, os géneros do tablóide são muitos. Tantos como os géneros informativos. E os media que os praticam podem ser divididos em dois tipos: os que são abertamente tablóides e o assumem; e os que, praticando um tabloidismo mais sofisticado, o disfarçam, exibindo uma folha de serviços prestados à cidadania, normalmente denunciando os abusos de poder (e bem) e reivindicando até o poder de oposição ao poder democrático instalado e legitimidade para isso (e mal, como dito na referida “Ética do Jornalismo”, com Conselho da Europa). Mas o verdadeiro problema começa quando a missão estratégica dos media se converte exclusivamente em informação sobre o negativo (desastres, corrupção, escândalos, etc.). Quando a ideologia do negativo se torna sistémica. Isto, num poder que já na segunda metade dos anos 30 do século XIX, em “Da Democracia na América”, Alexis de Tocqueville o considerava, além do poder soberano do povo, o primeiro poder. Um poder que, na sua matriz, acolheu espontaneamente a ideia liberal de liberdade: a liberdade negativa. O que nos inícios fazia sentido, perante o absolutismo e os regimes censitários, com a liberdade cerceada pelo poder invasivo e exclusivo do monarca e do Estado, mas que, hoje, já não se adequa às sociedades plenamente democráticas. Até porque, a partir de Bismarck, se desenvolveu, paulatinamente, o próprio Estado Social. Na história da imprensa, esta concepção pode ser considerada dominante e, hoje, ainda mais, pois alia a esta concepção negativa de liberdade (perante o poder invasivo do Estado) o culto da categoria do negativo como princípio informativo dominante, por razões de audiência, de publicidade e de autofinanciamento, numa época em que o Estado já se retirou da área da informação (e bem), enquanto proprietário. Ou seja, dois em um. O que torna os media, e em particular a televisão, “príncipe dos media”, na expressão de Denis McQuail, poderosos centros de poder. E uma espécie de justiceiros electrónicos ou digitais (em todos os géneros informativos) com a respectiva componente punitiva e pública: o pelourinho electrónico. Condenam e castigam, vigiam e punem. Ou seja, os media que, substituindo-se ao povo soberano, se assumem como o seu autêntico intérprete ou oráculo (“os espectadores gostariam de saber…”, dizem entrevistadores sem mandato) em aberto e permanente antagonismo ao poder político, o ponto de, paradoxalmente, se tornarem a sua outra face. Há neste fenómeno um processo de identificação: os media são o negativo lógico do poder e por isso partilham da mesma natureza ou identidade, do mesmo género. Duas espécies do mesmo género – o poder. Até que, por fim, cheguem – já chegaram, mais uma vez – os apóstolos militantes da política tablóide, os que assumem e metabolizam essa identidade: esses que reivindicam o poder para o devolverem simbolicamente ao povo através da mediação do oráculo que, dirão, ouve directamente a sua voz. Uns e outros ao serviço do povo soberano na gestão do poder, o seu género comum, com o povo a desaparecer de cena perante a nova dialéctica entre os mediadores – política e media. Este processo foi brilhantemente desmontado por Karl Marx na “Crítica da Filosofia Hegeliana do Direito Público” (Kritik des Hegelschen Staatsrechts), de 1843, e sobre ele haveria de se afirmar a famosa escola dellavolpiana, em Itália.
II.
BEM SEI, porque a frequento, que há boa imprensa (sobretudo imprensa escrita), mas a tendência mais frequente, transformando-se em tendência sistémica, sobretudo no audiovisual, é esta. O ambiente mediático português é um exemplo muito ilustrativo, em particular o dos telejornais em canal aberto. Ora eu creio que, seja ou não o poder mediático a outra face da moeda do poder, irmão gémeo do poder político, também a política, talvez por clonagem, se tem vindo a tornar sobretudo política tablóide, como se vê pelo fenómeno populista em crescimento na Europa e por esse mundo fora. Também esta política se alimenta sobretudo (ou exclusivamente) do negativo, neste caso, denunciando as elites dirigentes, os intermediários institucionais, seja na política seja na comunicação (os inimigos de Trump eram as elites de Washington e os media), e reivindicando o direito de devolver o poder e o saber confiscados ao povo soberano, nem que seja através de tweets ou de publicidade 4.0. Mas não é só aqui que este género político acontece. Ele acontece quando os protagonistas pretendem afirmar-se politicamente usando exclusivamente a arma do negativo, da denúncia, do dedo apontado, confiantes de que essa arma lhes dará notoriedade, capacidade de polarização da atenção social sobre eles e de que, consequentemente, a notoriedade lhes dará força social, eleitoral e política. Um processo em tudo igual ao da imprensa tablóide. Esta técnica tem vindo crescentemente a ser usada em todos os géneros, incluindo até nos personagens que, por uma razão ou por outra, ocupam os interfaces da comunicação, usando-os com esta categoria para reforçarem a sua presença no espaço público e, consequentemente, o seu próprio poder e notoriedade pessoal. Hoje usa-se, nas plataformas digitais, essa palavra miraculosa que até passou a designar uma profissão: “influencers”. Os “maîtres à penser”, primeiro, deram lugar aos “opinion makers” que, agora, com as redes sociais, se tornaram “influencers”. Dos filósofos aos idiotas de serviço. Muitos deles, sejam eles “opinion makers” ou “influencers”, aplicando o negativo às suas próprias famílias políticas, na convicção de que, assim, o “produto” se revelará mais apetecível e até mais credível. Roupa suja lavada na praça pública pelos membros da família. Exemplos em Portugal não faltam. Em todas as tendências políticas.
Na verdade, desde que a televisão ocupou, a partir dos anos cinquenta, sobretudo nos Estados Unidos, o centro da comunicação social, este processo de tabloidização da política tem vindo a crescer, na própria medida do crescimento dos media. É um fenómeno bem conhecido de todos os que estudam as relações entre a comunicação, os media e a política. As teorias dos efeitos sociais e cognitivos dos media. Mas talvez nunca como hoje se tenha verificado um uso tão despudorado desta categoria, o tabloidismo, na comunicação e na política, sem ninguém que consiga pôr cobro a isto, apesar de a enxurrada tablóide pôr o país em depressão e de o fenómeno do mimetismo alastrar, em grande escala.
III.
NA VERDADE, estamos já perante uma poderosa ideologia que, aliada à ideia de liberdade negativa, à ideia de que os media são contrapoder e à protecção constitucional e legal de que dispõem, tem uma eficácia e um impacto difíceis de combater. Porque, munida destas características, apela aos instintos mais básicos da natureza humana para polarizar a atenção social. E não serve de distracção sobre o que vai mal na informação mediática invocar as redes sociais como o império do mal e do vulgar porque basta abrir os telejornais das oito para constatar até à náusea o que é o tabloidismo mais desbragado. Os populismos também são filhos directos desta ideologia, tal como todos aqueles que, vivendo em democracia, reduzem a sua vida e a razão da sua existência à procura do negativo, sob as mais variadas formas, para logo o exibirem publicamente sem se preocuparem (ou, pelo contrário, alimentando-se deles) com os efeitos que essa exibição sistemática pode ter quer sobre a sociedade em geral quer sobre os indivíduos singulares objecto de atenção. Seja nos media seja nas redes sociais. Castigadores justiceiros com a missão de resgatar o povo oprimido. Política-espectáculo e comunicação-espectáculo, fazendo-nos recordar sempre o célebre livrinho do Guy Debord, La société du Spectacle (1967). O justicialismo político entra directamente nesta categoria, sendo certo que ele possui as mesmas características do tabloidismo mediático.
IV.
ESTA DEGENERESCÊNCIA é o que vamos tendo cada vez mais, num abraço infeliz da política com este tipo de comunicação, em nome do povo e das audiências. Se, depois, a isso se juntar essa aliança espúria da comunicação e da política com o poder judicial teremos a receita perfeita para uma ruptura democrática. Lawfare. O caso brasileiro e o percurso do juiz Sérgio Moro podem servir de exemplo. E o que acaba por sobrar em tabloidismo vai faltar em ideias para a governação e para a construção do futuro, para a devolução à política da ética pública, para a mobilização política e comunicacional da cidadania, para o seu crescimento civilizacional e cultural, para a promoção da cidadania activa. Numa palavra, faltará uma concepção de política em linha com o que de melhor a democracia representativa ou deliberativa, tem para nos dar.
V.
ESTE TIPO DE COMUNICAÇÃO E DE POLÍTICA representa uma visão essencialmente instrumental de ambas: mero meio para aumentar as audiências ou o eleitorado e, em nome deles, intervir na sociedade. A política e a comunicação como instrumentos para alcançar um poder que, no fundo, acabará por tender a conceber-se como impolítico. Isto representa o triunfo do pior maquiavelismo, a negação da ética pública, mesmo quando se fala dela à exaustão e dela se serve para alcançar o poder, a política reduzida a pura retórica instrumental ao serviço da fria conquista do poder e não autogoverno da cidadania e instrumento para a transformação da sociedade. Esta política corresponde, pois, à fusão integral da comunicação e da política naquilo que ambas têm de pior, completando a fase em que a política adoptou as categorias, os tempos e a organização da comunicação mediática para atingir e conservar o poder. Há um exemplo muito elucidativo desta fusão e da forma mais avançada de política tablóide: Berlusconi, em 1993-1994. Ou seja, a captura integral da política pelo poder mediático, não só no plano da factualidade, mas também no plano da sua subordinação integral ao poder comunicacional, à sua organização, à sua lógica e à sua relação com a cidadania. Em palavras simples: Berlusconi geriu a política com as mesmas categorias com que geriu o seu império mediático, transferindo armas e bagagens da holding televisiva para o aparelho do partido (incluídos os especialistas em sondagens sobre as audiências, por exemplo, o sondagista Gianni Pilo). Afinal, as audiências (espectadores e eleitores), neste sentido, correspondem-se quase integralmente, podendo-se sobrepor, até mesmo nos targets com que se trabalha (jovens – Italia Uno; reformados e domésticas – Retequattro; classe média – Canale 5). Houve até quem definisse o acesso de Berlusconi ao poder como um “golpe de Estado mediático” (Paul Virilio). Ou a política como continuação do poder mediático por outros meios. Apesar do crescimento da rede, a política clássica, sobretudo a que ainda continua metabolizada pelos partidos da alternância e pelo establishment, continua de braço dado com o poder mediático, usando a rede com as mesmas categorias com que usa as velhas plataformas do broadcasting, fazendo jus ao seu próprio conceito de política puramente instrumental e de pura gestão do poder, como “governance”, como tecnogestão, como puro “management” ou gestão asséptica do poder, numa nova versão ideológica da política.
VI.
EM SÍNTESE, é possível afirmar que a evolução das relações entre política e comunicação levou, numa primeira fase, a uma progressiva adequação da política às categorias da comunicação, em particular, às da comunicação televisiva, e, numa segunda fase, à própria metabolização política das categorias da comunicação, a ponto de o género tablóide passar a ser transversal a ambas as esferas, lá onde se reduz a política a mera técnica retórica de captação de audiências para o espectáculo da política em dois géneros que acabam por se confundir, convertendo a cidadania em mera audiência e a política em “Jogo das Partes”, para glosar o título de uma peça do grande Luigi Pirandello. A política não passa, neste caso, de mero marketing político, que agora, com a rede, ainda ganha mais substância participativa, sobretudo no chamado Marketing 4.0, de Philip Kotler.
Hoje, todavia, as coisas, com as redes sociais, estão mesmo a mudar, para o bem e para o mal, mas este é um outro e mais complexo discurso que, todavia, pode explicar muito bem a guerra sem quartel que os velhos poderes lançaram às redes sociais. Jas@02-2023

A POÉTICA DO FRACASSO
Conversando com Emil Cioran
Por João de Almeida Santos

“Perfil de um Poeta”. Jas. 02-2023
LEMBRAM-SE do que disse Nietzsche acerca dos ideais, a que ele chamava ídolos (“idola”), em Ecce Homo? Pois Emil Cioran (1911-1995) não lhe fica atrás. Vejam o que ele diz na sua bela e disruptiva obra de 1949, Précis de Décomposition (Cioran, 2022):
“Basta-me ouvir alguém falar de ideal, de futuro, de filosofia, ouvi-lo dizer ‘nós’ com uma inflexão de segurança, invocar ‘os outros’, e considerar-se o intérprete deles, para que o considere meu inimigo” (Cioran, 2022: 13; redondo meu).
IDEAIS, SALVAÇÃO E FILOSOFIA
CLARO, lembramo-nos logo de Nietzsche, da “mentira do ideal”, da “maldição sobre a realidade”, que ele sempre quis abater como se isso fosse a missão da sua vida. Mas também nos lembramos de certos políticos e da proclamação retórica da grandiosidade dos ideais que supostamente guiam a sua (falhada) acção. Ou dos padres: “Faz o que eu digo, não o que eu faço. No que digo estão os ideais e a salvação das almas, no que faço está a reles realidade, a vida, a tentação, o vício, o pecado, a que, pobre mortal, também eu não sou imune”. Sim, sim, pode ser, mas a perspectiva de Cioran é bem mais profunda, vai bem mais lá ao fundo da existência humana. A sua é uma posição ontológica, uma visão comprometida de quem fala da impura realidade (“só a impureza é sinal de realidade” – 2022: 32) e não foge para as nuvens brancas e celestiais dos ideais ou da fé. E também não foge, insisto, já não digo para a retórica política, mas para a própria filosofia, esse reino da decadência anunciada. Diz ele que “só começamos a viver depois da filosofia, sobre as suas ruínas” (2022: 63). Sobre as suas ruínas, sim: o caos mundano e frágil dos sentidos e das erráticas pulsões atrás das quais corre a poesia. “Além do mais,” diz, “a filosofia – inquietude impessoal, refúgio junto de ideias anémicas – é o recurso de todos aqueles que se esquivam à exuberância corruptora da vida” (2022: 62). Se não erro, é esse mesmo “triunfante” racionalismo filosófico que Nietzsche também execrava. Essa anemia que é preciso combater com a poesia para que o sangue se revitalize – no poeta e em quem o acompanha para, com ele, melhor se afundar na vida e nos seus pântanos sensoriais. Nos ideais, dizem por aí, encontramos a salvação. E os ideais, além de celestiais, também habitam a casa da filosofia, esse reino da anemia. Pois é, mas estes são mundos pouco humanos, ou mesmo inumanos, porque a vida é infelicidade e “todos os seres humanos são infelizes”, embora poucos saibam que o são (2022: 41). Diz ele:
“O erro de todas as doutrinas da salvação é suprimir a poesia, atmosfera do inacabado. O poeta trair-se-ia se aspirasse a salvar-se: a salvação é a morte do canto, a negação da arte e do espírito” (2022: 40).
O ESPÍRITO
BOM, a negação do espírito talvez não, caro Cioran, pois ele, o espírito, é “amante das vertigens puras, é inimigo das intensidades”. É liquefacção. É vida em estado gasoso. Mas as intensidades são vitais, pulsionais, alimentam a vida e a poesia. Na verdade, elas pertencem mais ao reino da alma do que ao reino do espírito:
“Cobrir com normas a impureza de todos os sentimentos e de todas as sensações é uma procura de elegância necessária ao espírito, ao pé do qual a alma – essa hiena patética – é somente profunda e sinistra” (2022: 40).
É por isso que o espírito “em si mesmo não pode deixar de ser superficial” e se mostra incapaz de exprimir a melancolia, “que emana das nossas vísceras”, se não for depurada daquilo que a liga à fragilidade dos sentidos. Essa melancolia que se mostra incurável e que é alimento do poeta. O que acontece, verdadeiramente, é, pois, uma autêntica degradação de cima para baixo, com o espírito a liquefazer as intensidades, a alma, a vida, os sentidos, as sensações, o impuro, numa palavra, a realidade. Melhor ainda:
“L’Esprit est le grand profiteur des défaites de la chair. Il s’enrichit à ses dépens, la saccage, exulte à ses misères; il vit de banditisme” (1952: 6).
Oportunista, saqueador, bandido – são estes os louvores que Cioran concede ao espírito, aquele que se aproveita das derrotas da carne, que o mesmo é dizer da vida. É por isso que, por ser espiritual, “a salvação acaba com tudo; e acaba connosco”. “Quem é que, uma vez salvo, ousa considerar-se ainda vivo?”, diz Cioran (2022: 39-40). E se calhar tem razão: uma vez salvo já nada haverá para fazer. Até porque haveria sempre o risco de voltar a cair na vida, na corrupção dos sentidos, na carne, na decomposição. Voltar a perder-se nesse mundo pecaminoso da vida. Felizmente que há a poesia para nos resgatar, sim, mas sem acabar connosco, porque, depois de “chafurdar” na impureza e na dor, conserva o sofrimento no baú da memória sensitiva para o trazer à consciência quando for preciso, quando a dor mais apertar. A poesia não sai daí, não se eleva ao reino celestial dos ideais, mas somente ao da beleza, que é sensível, mesmo quando é universal. Universal subjectivo, diria o Kant da “Crítica do Juízo”. Assim é que é. Se Cioran não vai lá muito à bola com a filosofia, o mesmo não acontece com a poesia, com a arte. Porque ela verdadeiramente não tem ponto de chegada e por isso anda sempre por ali, como eterna transeunte em perda, até porque “o nosso capital de infelicidade” se mantém “intacto ao longo das épocas” (2022: 190):
“é impossível haver ponto de chegada para a vida de um poeta. É de tudo quanto não empreendeu, de todos os instantes alimentados pelo inacessível, que lhe vem o poder” (2022: 118).
O NASCIMENTO DA POESIA
É VERDADE. A poesia nasce de um sentimento de perda. Foi para suprir a vida que não tiveram que foram inventadas as biografias dos poetas” (2022: 119). Que não são como esses imbecis que a herdaram, a vida, mas não sabem o que ela é. E que, quando julgam saber, se perdem nessa inutilidade que é a filosofia. Querem a prova irrefutável? Pois “quase todos os filósofos acabaram bem”. Salvaram-se. Aqui está. Mas alguma razão haverá para isso – resistiram ao apelo dionisíaco da vida, à eterna errância, ao caos criativo. São todos exclusivamente apolíneos, poderia ter dito Nietzsche. E fugiram para o reino dos assépticos conceitos e dos ideais, para poderem inalar o agradável “perfume do espírito”. Pois. Mas o Nietzsche afundou-se. Sim, mas isso aconteceu, não porque era filósofo, mas porque era “poeta e visionário: expiou os seus êxtases e não os seus raciocínios”. E Sócrates? O seu fim “não teve nada de trágico”, diz Cioran. Foi simplesmente “um mal-entendido”. Estão a ver? A verdade é que “é sempre impunemente que se é filósofo: um ofício sem destino” (2022: 62-63), a não ser o da salvação. A linha de demarcação entre o lado de lá e o lado de cá está, pois, bem definida. E a poesia, que está do lado de cá, tem lugar de destaque pelo que representa. Veja-se o que ele diz num artigo de Janeiro de 1943 sobre o poeta romeno Mihail Eminesco:
“La quantité de résistance que la vie oppose à la soif de vivre détermine la qualité du souffle poétique” (Cioran, 1943).
A dinâmica entre a vida e a sede de viver a determinar a qualidade do sopro, da “allure”, da inspiração poética. Mesmo quando Cioran não a refere, percebe-se que ela, a poesia, está sempre presente na sua mente. Que ela anda por ali. Aliás, até poderia dizer que este livro é poesia em forma de prosa. Ou, utilizando as palavras de Cristina Campo, Cioran traduz “na aridez impessoal da prosa” as “fulgurantes visões” dos poetas (Cioran: 1943). É só ler o “Précis” para verificar a justeza desta afirmação.Ou os “Syllogismes de l’Amertume”.
O MILAGRE NEGATIVO
CIORAN não é homem de meias medidas. Atira-se ao real e navega por lá, sem barco e sem remos, à deriva, pelas suas ruas escuras, pelos seus “bas-fonds”, como os existencialistas, também, por isso, conhecidos como “rats des caves”. E até diria que também para ele “l’enfer c’est les autres”, todos, tudo e até ele próprio, outro de si. O diabo anda à solta, por aí, a alimentar-se de realidade. E não é “aborrecido” e “tão mediocremente pitoresco” como Deus. Está cheio de vida e os homens reconhecem-se demasiado nele para o celebrarem em altares (2023: 32-33). Ele é daqui, não é lá do alto, e não é portador de ideais de salvação, de azuis infinitos onde possamos navegar com a nossa alma em paz, salvos e… mortos. Não. O inferno é aqui. E é por isso que a poesia é importante, porque nasce desse lado mais subterrâneo da vida, menos luminoso, mas em fogo ardente, como o inferno. Nasce da dor, do sofrimento, do sentimento de perda. O “poeta é vítima de uma ardente decomposição”, no aprazível inferno da vida. Ele pode ser trânsfuga, até pode, mas na sua fuga tem de levar “consigo a sua infelicidade”, para não se perder. Porque, digamo-lo sem tibiezas, se a infelicidade é um nosso património incancelável já “a alegria não é um sentimento poético” (2022: 119). Bem pelo contrário, ele, o poeta, anda por aí a verter “lágrimas, vergonhas, êxtases – e, sobretudo, queixumes” (2022: 120). Um infeliz. “Só existimos quando sofremos”, diz Cioran. E “sofrer é aceitar a invasão das maleitas (…) como um milagre negativo” (2022: 40-41). Aqui está, a poesia é um milagre negativo. Negativo, sim, mas milagre. É neste negativo – filha da dor – que reside a sua própria beleza, mas também a sua necessidade neste imenso reino da contingência que é a vida.
DIGAM O QUE DISSEREM....
PODEM, pois, vir com conversas mais ou menos cultas, com a exibição de improváveis intertextualidades, com teorias abstractas, académicas e revistas por pares acerca da poesia, podem mesmo levá-la para o Pantheon, que de nada serve se não a forem procurar lá, nas vielas estreitas e escuras da vida, nos desencontros desejados ou inventados, nas silhuetas fugidias que se esgueiram, como neblina levada pelo vento, nas esquinas da sofrida existência, na infelicidade aprazível dos que a sabem cantar e a cantam para evitar que almas piedosas venham salvá-los. A poesia salva, sim, mas salva da salvação, porque se mantém ancorada na melancolia do viver incompleto e inacabado. É assim que ela redime, através da beleza, cantando o contingente fungível da multiplicidade caótica da vida. A poesia evita sempre ser trânsfuga da realidade, procura resistir ao apelo dos ideais e à busca de salvação e, por isso, é tão minimalista, tão musical e, não tendo pretensões de fugir da realidade, também não tem pretensões de dizer algo sobre ela. Nem sequer de a “corrigir”, como diz num dos aforismos de “Syllogismes de l’Amertume” (1952: 8). Simplesmente porque quer ser ela própria realidade, confundir-se com ela, casar-se com ela, não cortar o cordão umbilical no momento (nem nunca) do seu próprio nascimento, simplesmente para que possa existir. O poeta, nela, quer ser mais infeliz, mais encantadoramente infeliz do que na infelicidade que lhe bateu à porta quando teve de nascer, fruto das circunstâncias, fruto do fracasso.
O FRACASSO, O SUCESSO E A POESIA
Radicalizando talvez demasiado, se é que se pode radicalizar sem ser excessivo, Cioran, no meu entendimento, coloca-se no centro de uma interrogação primordial sobre a poesia. Ela surge como exigência, como resposta à experiência originária da impossibilidade, do fracasso, da perda. Mas é resposta, não fuga para o reino da formas puras, dos conceitos redondos, dos ideais salvíficos. E também não é salvação da impureza da vida, do caos existencial, do pecado da carne. Nada disto, precisamente porque não é fuga, mas vivo confronto com a rugosidade da contingência, imersão no que há de mais impuro na existência humana. Falho, naturalmente, a vida e fracasso – então, ainda a vou falhar mais com os meus meios, precisamente através de uma poética do fracasso.. Só que o faço com uma alegre melancolia, com o prazer de estar a navegar no caos, na turbulência, sentindo o prazer dos poços de ar existenciais. Um prazer infeliz. E, ainda por cima, o faço agitando a vida com o frenesim induzido pela melodia e pela toada poética com que vou ao confronto. E dá-se o venturoso caso de os meios de que disponho serem esteticamente performativos, poderosos, capazes de mobilizar outros para um confronto que é uma convivência infeliz. Na verdade, do que se trata é de um corpo-a-corpo, de uma tentativa de nos substituirmos à falhada contingência com outra contingência mais convincente, mais bela e até contagiante. Acabamos por acrescentar fracasso ao fracasso, só que este é mais íntimo, menos rugoso e até mais alegre e quente. Mais belo, portanto – a poética do fracasso.
Nesta frase fica tudo dito, porque não há poética do sucesso. Seria um oxímoro. Esses, os que se julgam prenhes de sucesso, não percebem que isso é uma ilusão. O Vinicius não mandou embora o passarinho e a poesia só porque julgava ter tido sucesso no amor? Sucesso no amor é insucesso na poesia. Mas logo outras janelas se abriram ao passarinho e ao seu canto. O que é isso do sucesso? É mais rápido a ruir do que a construir. Castelo de areia, tem as fundações instáveis. Só que não parece, de tão “perfeita” ser a construção. Um dia, lá mais para a frente, o homem de sucesso dirá: consegui tudo. Depois, mais clarividente, dirá ainda: quanto mais conseguia mais me faltava. E agora, que o ciclo se fechou, dirá: falta-me tudo. Alguns acabam por se render à poesia para se resgatarem da caverna e compreender que o que faltou será a medida da sua exigência e da sua própria existência (poética): o sentimento de perda e de fracasso é a medida de todas as coisas. E põem mãos à obra para, quais falhados ou vencidos da vida, tentarem a redenção… sem saírem dela. Oh, mas isso será tão doloroso como é a vida autêntica e, pior, nunca mais poderão olhá-la que não seja na óptica do fracasso, para não sucumbirem poeticamente. Rater la vie c’est mon destin, diria o poeta. Voilà.
ALGUNS AFORISMOS
Traduzo alguns aforismos de Cioran (de Syllogismes de l’Amertume, de 1952) que reforçam o sentido geral do seu pensamento e ajudam a melhor compreender a estratégia do meu artigo sobre a “Poética do Fracasso”, neste diálogo com o escritor romeno.
1. “Falhar a prória vida é aceder à poesia – sem o suporte do talento”; “O ‘talento’é o meio mais seguro de tudo falsificar, de desfigurarar coisas e de se enganar a si próprio”; (“Rater sa vie, c’est accéder à la poésie — sans le support du talent”; “Le « talent» est le moyen le plus sûr de fausser tout, de défigurer les choses et de se tromper sur soi”); (1952: 3 e 6).
2. “Uma poesia digna deste nome começa pela experiência da fatalidade. Só os maus poetas são livres”; (“Une poésie digne de ce nom commence par l’expérience de la fatalité. Il n’y a que les mauvais poètes qui soient libres”); (1952:10);
3. “Quando estamos a mil léguas da poesia, ainda participamos nela por essa súbita necessidade de gritar – último grau do lirismo” (“Quand nous sommes à mille lieues de la poésie, nous y participons encore par ce besoin subit de hurler, — dernier stade du lyrisme”);(1952: 4).
4. “Com Baudelaire, a fisiologia entrou na poesia; com Nietzsche na filosofia: Para eles, as perturbações dos órgãos foram elevadas a canto e a conceito. Proscritos da saúde, tinham o dever de garantir uma carreira à doença”. (“Avec Baudelaire, la physiologie est entrée dans la poésie; avec Nietzsche dans la philosophie. Par eux, les troubles des organes furent élevés au chant et au concept. Proscrits de la santé, il leur incombait d’assurer une carrière à la maladie”); (1952: 5).
5. “O público precipita-se sobre os autores considerados ‘humanos’; ele sabe que, deles, nada tem a temer: parados, como ele, a meio do caminho, eles propor-lhe-ão um acordo com o Impossível, uma visão coerente do Caos”; (“Le public se précipite sur les auteurs dits « humains »; il sait qu’il n’a rien à en craindre : arrêtés comme lui à mi-chemin, ils lui proposeront un arrangement avec l’Impossible, une vision cohérente du Chaos”); (1952: 6).
6. “Nada de salvação, a não ser na imitação do silêncio. Mas a nossa loquacidade é pré-natal. Raça de tagarelas, de espermatozóides palavrosos, nós estamos quimicamente ligados à Palavra”; (“Point de salut, sinon dans l’imitation du silence. Mais notre loquacité est prénatale. Race de phraseurs, de spermatozoïdes verbeux, nous sommes chimiquement liés au Mot”); (1952: 6).
7. “A poesia (…) tinha ido mais longe do que eu na negação, ela fez-me perder até as minhas incertezas”; (“La Poésie (…) était allée plus avant que moi dans la négation, elle me fit perdre jusqu’à mes incertitudes…”); (1952: 7).
8. “Mais do que ser um erro de fundo, a vida é uma falta de gosto que nem a morte nem mesmo a poesia conseguem corrigir”; (“Avant d’être une erreur de fond, la vie est une faute de goût que la mort ni même la poésie ne parviennent à corriger”); (1952: 8).
9. “Quem receia perder a sua melancolia, quem tem medo de se curar dela, com que alívio ele constata que os seus temores não têm fundamento, que ela é incurável”; (“Qui tremble pour sa mélancolie, qui a peur d’en guérir, avec quel soulagement il constate que ses craintes sont mal fondées, qu’elle est incurable!“); (1952: 56).
REFERÊNCIAS
CIORAN, E. (2022). Breviário de Decomposição. Lisboa: Edições 70.
CIORAN, E. (1952). Syllogismes de l’Amertume. In https://www.rodoni.ch/cioran/8338994-Cioran-Syllogismes-de-lamertume.pdf
CIORAN, E. (1943). “Mihail Eminesco”. In https://www.pangea.news/cioran-un-testo-inedito-in-italia-sulla- poesia/ – com uma introdução de Cristina Campo. Jas@02-2023

A POESIA
Conversando com Edgar Allan Poe
Por João de Almeida Santos
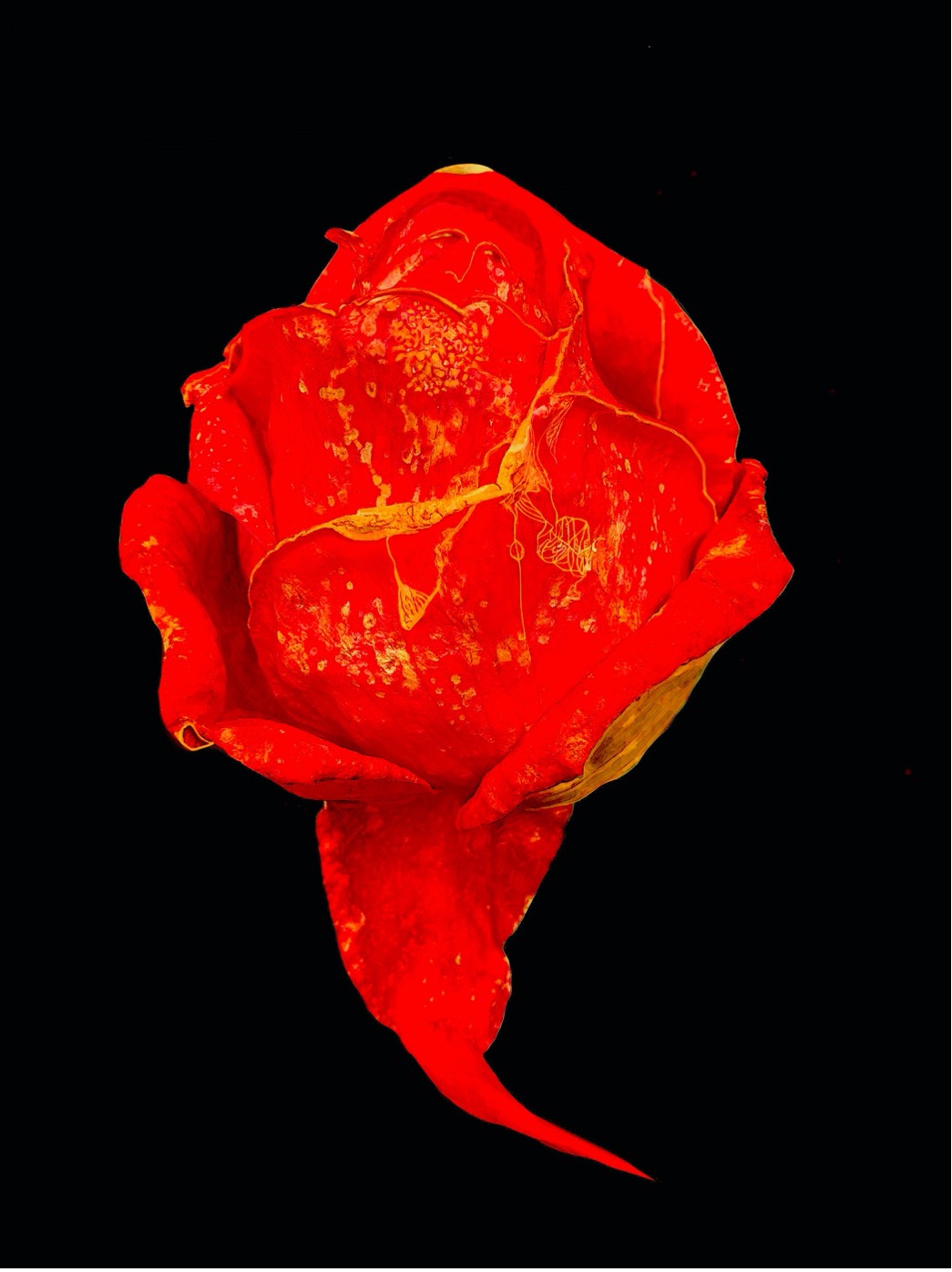
“Transfiguração”. JAS. 02-2023
HÁ UMA PASSAGEM no livro Poética, de Edgar Allan Poe (Poe,1848-1850; e Poe 2016), acerca do que ele entende por Poesia e que diz o seguinte:
“De modo breve, definiria a Poesia de palavras como The Rhythmical Creation of Beauty. O seu único árbitro é o Gosto. Com o Intelecto ou com a Consciência só tem relações colaterais. A não ser incidentalmente, não tem qualquer relação com o Dever ou com a Verdade” (1948-1950: 343; 2016: 155).
Sim, poesia de palavras, com palavras, porque o sentimento poético pode manifestar-se, desenvolver-se por outros meios: pela pintura, pela escultura, pela arquitectura ou pela dança, mas sobretudo pela música (1848-1840: 342; 2016:154). A música com lugar de destaque na expressão estética do sentimento poético. É verdade.
I.
“CRIAÇÃO RÍTMICA DA BELEZA”, diz Poe da poesia. Ela não se confunde, pois, com o dever ou com a verdade. Não é, portanto, só o amor que está para além do bem e do mal, como diria Nietzsche, mas também a poesia. E não só para além da moral. Também para além da esfera cognitiva, da verdade. Afinal, não tem a poesia no amor o seu alimento primordial, estando-lhe profundamente ligada? Diz Poe:
“O amor, pelo contrário, o amor, o verdadeiro, o divino Eros (…) é sem dúvida o mais puro e o mais verdadeiro de todos os temas poéticos” (1848-1840: 366; 2016: 190).
O amor e a poesia – afinidades electivas, sem margem para qualquer dúvida. A centralidade do amor na poesia que arrasta outra centralidade que lhe está profundamente ligada: a da dor e a da melancolia, melhor, a da dor melancólica. É ele que o diz:
“Regarding, then, Beauty as my province, my next question referred to the tone of its highest manifestation – and all experience has shown that this tone is one of sadness. Beauty of whatever kind, in its supreme development, invariably excites the sensitive soul to tears. Melancholy is thus the most legitimate of all the poetical tones” (1848-1850: 375; 2016: 40; itálico meu).
Sim, a beleza excita a alma até às lágrimas, suscita tristeza, melancolia, dor. Arrasa, tal como o amor autêntico, porque toca o mais profundo do que na alma acontece. E é aqui que a poesia sobretudo navega, nas águas profundas da melancolia, para, depois, se elevar ao sublime e, assim, sintonizar com as almas sensíveis que a partilham. A poesia, sim, e a música, também. Mas é verdade que o sentimento poético também é expresso pelas outras artes, pois o seu objecto é a beleza. E as vias da beleza, não sendo infinitas, são muitas. Mas a maior afinidade, a maior proximidade, a maior cumplicidade encontram-se na música, que faz parte dela. Vejamos o que diz Poe:
“a música, quando combinada com uma ideia aprazível, é poesia; a música, sem a ideia, é apenas música; a ideia, sem a música, é prosa por causa da sua própria qualidade de definição” (2016: 27); “na construção do verso a melodia nunca deveria ser deixada longe da vista” (2016: 63); “na união da Poesia com a Música, no seu sentido popular, encontramos o campo mais vasto para o desenvolvimento poético” (1848-1850: 342-343; 2016: 155).
E a mim parece que o forte poder performativo da poesia passa necessariamente pela música, se é verdade que, como diz Poe, “os sentimentos são subjugados pelos sentidos” (2016: 73). Na verdade, a música talvez seja a arte que mais directamente interpela os sentidos, os excita, os arrebata, trazendo até si todos os tipos de sentimentos, claro, não para os subjugar, no sentido literal, mas para lhes dar voz no corpo e na alma dos que a fruem:
“E assim, quando pela Poesia, ou pela música, o mais arrebatador de todos os modos poéticos, nos encontramos desfeitos em lágrimas, então choramos, não (…) por um excesso de prazer, mas por uma certa dor petulante, impaciente perante a nossa inabilidade em agarrarmos, agora, aqui, na terra, de uma vez e para sempre, essas alegrias divinas e arrebatadoras, das quais, através do poema, ou através da música, alcançamos apenas breves e indeterminados vislumbres” (1848-1850: 341-342; 2016: 154).
Música e poesia, duas artes que, conjugadas, podem ser a mais elevada expressão, e com máxima performatividade, da beleza sensível. Só elas, em situação de dor e de choro, de melancolia, nos permitem aceder ao divino e ao arrebatador, embora de forma breve e insuficiente. O absoluto não está ao alcance do ser humano. Sim, claro, mas a haver uma aproximação ela acontece sobretudo através da poesia e da música.
II.
A INCORPORAÇÃO DA MÚSICA, com a rítmica e a melodia, no interior da poesia torna-a mais poderosa porque pode atingir com maior eficácia os sentidos, como estímulo físico, sonoro, transportando consigo a ideia, a semântica, o sentido. Este encontro faz dela uma arte peculiar, poderosa, capaz de atingir algo que parece ser impossível alcançar porque aparentemente paradoxal: a universalidade sensível. Quando o estímulo estético é enviado, impulsionado pela pulsão primordial e reconfigurado pela poesia, para o espaço poético e provoca no receptor individual as sensações que estão inscritas, como mensagem, no poema, quer na dimensão sonora e sensitiva quer na dimensão semântica, como significado, fica declarado o valor universal do discurso poético. Na partilha é possível confirmar a universalidade daquilo que só pode ser sentido singularmente. Para isso, a musicalidade colabora de forma determinante, transportando, expandindo e intensificando ao mesmo tempo o conteúdo semântico. Não é uma ficção, a universalidade da beleza sensível. Ela confirma-se na partilha e na inscrição sensitiva de uma mesma mensagem estética… universal.
III.
DIZ EDGAR ALLAN POE que a poesia é estranha à verdade e à moral, sendo seu único fim a beleza. Não é uma novidade, pois já Kant o dissera e o teorizara nas suas três Críticas, a da Razão Pura, a da Razão Prática e a do Juízo, ou da Faculdade de Julgar. Esta última, aquela em que Kant analisa o juízo estético. E, glosando Nietzsche, até poderíamos dizer que a poesia está para além do bem, do mal e da verdade. Alguns aforismos de Nietzsche indirectamente também nos dão conta desse universo em que se move a poesia. Por exemplo, este: “os poetas não têm pudor das suas aventuras; eles exploram-nas – “die Dichter sind gegen ihre Erlebnisse schamlos: sie beuten sie aus” (Aforismo 161, Nietzsche, 1924). Eles, os poetas, servem-se delas, das suas experiências, para irem mais longe e não para as degradarem, as fustigarem com o poder da palavra. Vêem cair sobre elas uma profunda melancolia, para depois se elevarem ao sublime. Não se trata, pois, de um uso instrumental das suas experiências de vida, experiências que não procuram (isso é certo) como mera matéria-prima para o seu exercício poético, mas como experiências que fazem parte da sua própria vida, algo que lhes sobrou de uma vida vivida com suficiente intensidade para permanecerem na memória, tantas vezes como melancolia, como dor, como sentimento sofrido de perda, de inacabado, de imperfeito. E daqui partem poeticamente para as elevar ao plano universal da beleza sensível. E é verdade que também não se trata de descrever o que viveram e sentiram. Não. Do que se trata é de uma sua livre recriação, de uma “rítmica da beleza” construída com o que foi vivido de forma única. O modo que eles têm para resolver o que não foi resolvido, acabado, completado. Quando Michelangelo Buonarroti, no livro da Yourcenar (“Le temps ce grand sculpteur” – Yourcenar, 2020), se dirige a Gherardo Perini, o seu amante, diz-lhe que irá recriar o que nele outros já não conseguirão ver e, por isso, ele tornar-se-á (na sua obra) mais belo do que ele próprio. Não sei se falava da poesia (ele era também poeta), de pintura ou de escultura. O que sei é que um artista desta dimensão só poderia oferecer o sublime poético fosse através de que meio fosse, como diz Poe. Mas também aqui o choro, a dor, a melancolia têm o seu lugar. Michelangelo diz a Gherardo que os amigos só podem ser imortalizados se partirem enquanto ainda for possível chorá-los. Ou seja, desde que fique com o criador um melancólico sentimento de perda, de algo que ficou incompleto e que a arte completará, recriando-o.
IV.
A ARTE TEM SEMPRE REFERENTES, centrados no artista ou exteriores, mas quando eles são recriados nunca é na mesma dimensão, como retrato, fotografia, descrição, porque existe a mediação estética executada com as categorias da arte, com a linguagem e a lógica da arte. A arte não é a reprodução do real, não só porque transporta consigo a subjectividade activa do artista, mas também porque os instrumentos da reconstrução obedecem a uma lógica autónoma que só tem um fim: o da beleza sensível. A substância, a matéria-prima estará lá, a pulsão que o move é alimentada por uma relação originária intensa, mas o voo é apolíneo e o resultado é algo menos contingente do que o referente que possa ter-lhe servido de estímulo. É por isso que a arte não responde às exigências da moral nem às da verdade, porque responde essencialmente a si própria, aos seus critérios. Porque é, digamos, autopoiética.
Há nisto, evidentemente, uma conjugação entre uma pulsão originária que é propulsora da arte e uma lógica e uma instrumentação próprias que são exteriores ao estímulo e que estão inscritas numa transtemporalidade e numa intertextualidade que lhes preexiste, por exemplo, como história do gosto e da arte ou como tecnologia estética que evoluiu no tempo.
Poe fala do Princípio Poético que se manifesta como excitação que eleva a alma: “an elevating excitement of the soul” (1848-1850: 365; 2016: 190). A alma, sempre a alma que a poesia eleva, em voo apolíneo, a uma dimensão espiritual inscrita num registo sensível precisamente como beleza sensível, mas partilhada universalmente como experiência singular e sensível. É aquilo a que Kant chamou, na Crítica do Juízo, a universalidade subjectiva na contemplação desinteressada da beleza, mediante acordo entre a imaginação e o intelecto. Ou seja, mediante o jogo de faculdades próprio da contemplação desinteressada da beleza, esfera bem distinta da esfera moral ou da esfera cognitiva. E é aqui que estamos, no universo da beleza que a poesia e a música procuram atingir com o olhar sempre apontado ao desejo de partilha universal.
REFERÊNCIAS
YOURCENAR, M. (2020). O Tempo Esse Grande Escultor. Lisboa: Relógio D’Água.
NIETZSCHE, F. (1924). Jenseits von Gut und Boese. Leipzig: Alfred Kroener Verlag.
POE, E. A. (1848-1850). The Poetic Principle & The Philosophy of Composition.
In Edgar Allan Poe’s Complete Poetical Works: https://freeclassicebooks.com/Edgar%20Poe/Edgar%20Allan%20Poe’s%20Complete%20Poetical%20Works.pdf
POE, E. A. (2016). Poética. Textos Teóricos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; 2.ª Edição.

AFORISMOS
Conversando com Nietzsche
Por João de Almeida Santos

“Fantasia”. JAS. Nova versão. 02-2023
NOS ÚLTIMOS TEMPOS, melhor, há anos, tenho regressado com maior frequência a Friedrich Nietzsche, às suas principais obras, algumas das quais de leitura e de compreensão nada fácil. Por exemplo, Assim falava Zarathustra. Mas regresso porque a sua obra talvez seja, no essencial, uma obra sobre a arte e/ou com perfil artístico. Desta vez, revisitei o ECCE HOMO. Como se chega a ser o que se é, de 1888 (Lisboa, Guimarães Editores, 1961), esse livro autobiográfico, e decidi reflectir sobre algumas curiosas afirmações.
I.
“FIEL DISCÍPULO do filósofo Diónisos, prefiro ser um sátiro (ou “arlequim”) a ser um santo” (“nada houve mais mentiroso do que um santo” – 1961: 161); “abater ídolos (eis o que eu chamo aos ‘ideais’) é o meu principal ofício”; “a mentira do ideal foi até agora a maldição sobre a realidade”; “não refuto os ideais, calço simplesmente as luvas perante eles” (1961: 20-21).
Claríssimo, Nietzsche, na sua devastadora incursão pelo universo dos ideais. No seu apaixonado realismo dionisíaco. Porque são mesmo os ideais, enquanto ídolos, que estão em causa. Se assim não fosse ele não calçaria luvas ao confrontar-se com eles. Luvas de combate. De boxe, talvez. Ou, então, luvas para não ficar contaminado por eles. Tudo em nome da realidade lamentavelmente falsificada, inventada. E porque os ideais-ídolos são maldição sobre ela, a realidade. Falsificando-a em palavras, a deixam entregue a si própria, desgovernada, anónima. É por isso que prefere ser sátiro a ser santo. Porque, diz, a mentira é amiga dos santos. Como os ideais.
Nietzsche traduz ideais por idola, provavelmente no sentido em que deles falava Francis Bacon no seu famoso Novum Organon (Bacon, 1959). Bacon distinguia quatro tipos de idola: idola tribus, idola specus, idola fori e idola theatri. Os dois primeiros integram a estrutura espiritual da natureza humana e os dois últimos são adquiridos por via externa. Creio, pois, que ele se refere aos idola theatri porque, diz Bacon, estes “foram encenados e representados para criar mundos fictícios e teatrais” (1959: 67). Mundividências, diria. Melhor: ideologias. Não creio, pois, que haja dúvidas. Decididamente, Nietzsche é do contra, porque é amigo apaixonado da realidade, embora não pareça. O que ele diz tem um fundo de verdade: a concentração da acção humana nos ideais, ainda por cima quando eles são forjados como mundividências ou como pura ideologia, ou seja, idola, leva a que a realidade seja por eles ficticiamente modelada, lida e, sobretudo, convertida em manta retórica que, depois, a cobre e simbolicamente a denomina. A tal maldição sobre a realidade. Isto poderia ser explicado com o mecanismo da inversão ideológica: a realidade é submetida a uma hipóstase e recriada como matéria ideal fictícia, sendo, depois, a nova realidade reconstruída por dedução a partir daquela – hipóstase, primeiro, e inversão, depois. Uma recriação “tautológica” da realidade, mas com novo conteúdo simbólico. Para enganar. A realidade como ficção ideal para efeitos de legitimação, tal é a função dos ideais sob forma de ideologia, de fora theatri. Ficção. Nietzsche não anda tão fora da verdade como podia parecer à primeira vista.
II.
OUTRO TRECHO que me chamou a atenção está incluído no capítulo I, “Porque sou tão sábio”, parágrafo 5 (1961: 37). Passo a citar:
“Afigura-se-me também que as palavras mais impertinentes, a carta mais inconveniente, têm alguma coisa de cortês, de mais honrado que o silêncio. Aos que se calam quase sempre falta perspicácia e finura de coração. O silêncio é impropriedade (no alemão: Schweigen ist ein Einwand), devorar o despeito assinala mau carácter, estraga o estômago. Todos os que se calam são dispépticos”.
Ele sofreu o silêncio, sobretudo o alemão (daí o desprezo que, nesta obra, manifesta tão violentamente pelos alemães), em relação à sua obra e por isso compreende-se esta sua posição. Mas, para além disso, a sua é uma posição de fundo para levar a sério. Discordar, argumentar contra, ser impertinente ou até mesmo inconveniente representa mais respeito pelo outro do que o silêncio. Significa torná-lo visível. A discordância frontal é, pois, mais humana, mais cortês, mais respeitosa do que a ausência discursiva, a fuga para o silêncio, a ocultação. O silêncio é perigoso para a digestão, diz ele. Provoca dispepsia, no próprio. Por isso, o silêncio não é de ouro. Pior ainda, essa prática é mesquinha, quando não é brutal, silenciando, por imposição. Também é técnica apurada para anular o outro, precisamente, silenciando-o. Mas sobretudo pelo silêncio que lhe votamos. Pode falar, manifestar-se, mas nós nunca lhe daremos voz ou falaremos dele. Ele é um estranho. Um intrometido. Um estrangeiro. Um inimigo. Um potencial invasor. Eu até me atreveria a dizer que esta atitude é intimamente cruel, sobretudo se o silêncio for movido por despeito ou então como castigo. O silêncio é escuridão quando a palavra parece estar a interpelar, a pedir que se acenda uma luz. Pelo contrário, a palavra redime e, por isso, acende essa luz. Mesmo que ela também projecte sombra. Muitas vezes sobre aqueles que, por isso mesmo, querem silenciar. Mas… “amor fati”.
III.
NIETZSCHE louva Stendhal a quem, diz, deve a melhor expressão de ateísmo que seria possível inventar: “A única desculpa de Deus é não existir” (1961: 57). Que mais não fosse só isso explicaria a razão de os cardeais o não quererem (sem terem tido sucesso, porém) em Civitavecchia, como representante diplomático de França, junto do Estado do Vaticano. Mas a afirmação não deixa de ser curiosa: só porque não existe não se lhe pode atribuir culpa pelo estado lastimável do mundo. É que se existisse não teria perdão, fossem quais fossem as conversas teológicas para o justificar. De resto, se existisse nem precisaria desses teólogos para justificar a sua não intervenção nos desatinos do mundo. Aqui, o seu silêncio diria tudo. E não seria mesquinho. O poder infinito deixa de o ser se precisar do poder finito. O infinito é inefável. A conclusão: porque não existe é que há por aí tantos a viver à custa da sua inexistência. Estão aí para preencher um vazio. E são os oficiantes desse mesmo vazio, travestido de plenitude. Será por isso que ele diz que os santos são mentirosos?
IV.
“QUANDO PRETENDEMOS libertar-nos de uma opressão intolerável, tomamos haschisch. Pois bem: eu tomei Wagner”; “Não sei estabelecer diferença entre as lágrimas e a música” (1961: 62; 64).
A música, o melhor remédio contra a opressão, contra os pesadelos, contra a dor, contra a infelicidade, contra a solidão. Melhor do que medicamentos ou drogas. Em “Para além do Bem e do Mal” (1886), na parte dos aforismos, disse: “a música oferece às paixões o meio para fruírem de si próprias” (“Vermoege der Musik geniessen sich die Leidenschaften selbst” – Aforismo 106). Um regresso à dimensão dionisíaca da vida que a música e a poesia tão bem representam. E, por isso, ele tomou doses enormes de Wagner a ponto de ficar saturado, até à ruptura. Uma paixão alimentada por Wagner que, como todas as paixões, teve o seu fim, dando lugar a duas solidões debaixo do mesmo tecto, o da música. Mas tinha de ser, para não provocar habituação. A música, para ele, é como o choro, é dionisíaca, é pulsional, física, corporal, é estremecimento, êxtase. Só assim se compreende que ele não consiga estabelecer diferença entre lágrimas e música. Eu canto como quem chora, diria. O meu choro é o canto triste da minha alma. Lembra-me o Manuel Bandeira de “Desencanto”: “Eu faço versos como quem chora / (…) Meu verso é sangue. Volúpia ardente… / Tristeza esparsa… remorso vão… / Dói-me nas veias. Amargo e quente, / Cai, gota a gota , do coração”. Que cumplicidade! Talvez porque sejam irmãs gémeas, a música e a poesia. E é por isso que Nietzsche acabará por dizer:
“E como suportaria eu ser homem, se ao homem não fosse também dado ser poeta, decifrador de enigmas, redentor do acaso?” (139).
Aqui está. A mesma exigência de tomar poesia… e não só Wagner. A alma e o corpo revelam-se na música, confundem-se com ela e concentram-se numa lágrima, sim, mas também na e com a poesia. É ela, a poesia, que vai lá ao fundo do nosso ser e traz os enigmas à flor da pele, mas sem os desvelar completamente, apesar de os expor com força dionisíaca, com poder de estremecimento, com capacidade de redenção. Mas este fluxo resulta de uma viagem ao interior de si, de Nietzsche, do compositor ou do poeta, com poder terapêutico:
“Nunca tive tanto prazer em olhar para dentro de mim como nos períodos da minha vida em que estive mais doente e mais sofri” – “uma forma superior de cura. A outra cura proveio desta” (1961: 109).
Só que assim sobrevém a solidão, esse estado que é chão da criação, o seu húmus. Até se poderia dizer que a arte é a resposta à inquietude que se manifesta neste estado anímico originário. A poesia é irmã da solidão porque ela viaja para o interior de nós próprios, sobretudo quando há dor, deixando lá fora tudo o resto. E, por isso, a linha do horizonte é a própria alma, o sol que nos ilumina lá dentro e que, de quando em quando, vamos revelando através da música e da poesia, de forma cifrada, mas intensa, rompendo com o silêncio quando ele ameaça tornar-se indigesto. Sim, mas, mesmo assim, a solidão permanece inacessível e insondável na sua plenitude, porque ela “tem sete véus” e “nada há aí com poder de atravessá-la” (1961: 130). Só a poesia e a música podem traduzir em sons e palavras a solidão, que permanece intacta como seu alimento, como seu fundo, como seu ambiente. Ambas falam, ambas se exprimem para dar voz a esse magma interior, a essa pulsão que pressiona a erupção melódica e significante, como o vulcão que já não pode ficar contido na terra e tem de explodir para o céu, com seus rios de lava a descerem vertiginosamente pelas encostas dos montes. Lavas, a petrificarem. Como os sons e as palavras da montanha. Pedras preciosas. Sim, mas o magma essencial fica lá, fonte de calor e de energia vital, protegido por sete véus, sete camadas, sem se poder atravessá-lo, mas apenas interpretar os seus indícios, as suas manifestações, as suas incrustações… Só a montanha sabe, como nós, o que vai dentro de si, no seu mais profundo interior e, por isso, quando fala, fá-lo de forma encriptada, embora de forma intensa e torrencial. Com lava, levando tudo à sua frente. Como a música ou a poesia quando transbordam em sons e palavras lá do alto, das cumeadas espirituais. E nos fazem estremecer. Mas não podem desnudar, rompendo os sete véus que cobrem e protegem a solidão da alma. Assim é o terreno primordial da música e da poesia. Como a montanha. O terreno da solidão. Ninguém pode atravessar os sete véus, nem o poeta nem o músico nem quem observa a majestosa solidão em que germina a arte – de fora para dentro, mas também de dentro para fora. O poeta e o músico só podem ser intérpretes do oráculo e oficiantes dos rituais estéticos que dão corpo à linguagem da solidão. Nietzsche é, sim, mais um fiel discípulo de Diónisos do que de Apolo. Basta lê-lo para nos apercebermos disso.
REFERÊNCIAS
BACON, F. (1959). Novum Organon. Roma: Edizioni Paoline.
NIETZSCHE, F. (1961). Ecce Homo. Como se chega a ser que se é. Lisboa: Guimarães Editores.
NIETZSCHE, F. (1888). Ecce Homo. Wie man wird, was man ist. In Digitale Kritische Gesamtausgabe (eKGWB).
NIETZSCHE, F. (1924). Jenseits von Gut und Boese. Leipzig: Alfred Kroener Verlag.
SANTOS, J. A. (2019). Homo Zappiens. Lisboa: Parsifal. Jas@02-2023

EPPUR SI MUOVE
Por João de Almeida Santos
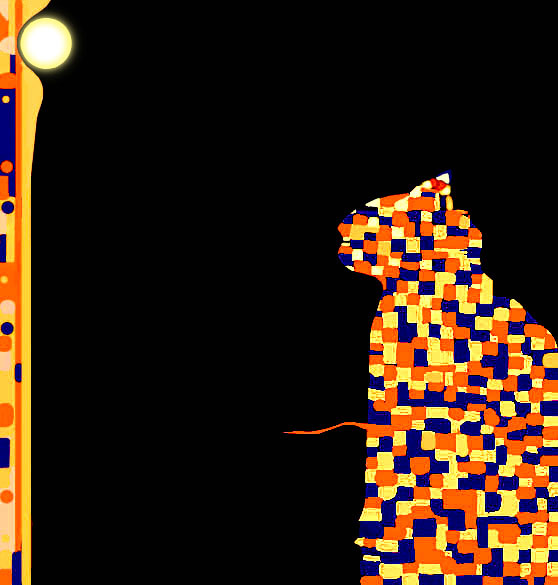
“Luz”. JAS. 01-2023
ESTA FRASE é atribuída a Galileo Galilei, referindo-se à Terra quando teve de abjurar. O geocentrismo era a teoria dominante, mas com a descoberta de Copérnico a teoria passou a ser heliocêntrica, apesar da fortíssima oposição da igreja católica e do seu braço armado, a santa inquisição. Galileu, que integrava o conjunto dos cientistas (Copérnico, Kepler, Newton) que iniciaram o movimento cientifico moderno e o abandono da perspectiva ptolemaica, teve de abjurar, mas é-lhe atribuída a frase: sim, será como quiserdes, mas a Terra move-se, “eppur si muove”. A mudança contra a tradição e a rigidez mental e institucional que se recusa a ver e a aceitar a evidência.
1.
A FRASE leva-me aos dias de hoje e ao meu entendimento de como se está a processar a política pelas forças que a têm vindo a gerir no plano institucional e governativo. Pelo establishment. Pelos chamados partidos da alternância, o centro-direita e o centro-esquerda. Ou seja, quando algo de muito profundo está a acontecer no mundo de hoje, sobretudo nas sociedades mais desenvolvidas, a política tem-se mantido no mesmo registo, indiferente à mudança, funcionando de acordo com a lógica da inércia, revestida por uma retórica aparentemente em linha com os tempos, mas, na realidade, simples manto diáfano que cobre uma enorme pobreza cognitiva e política. Querem exemplos do que está a mudar? O da cidadania – o cidadão de hoje em nada se assemelha ao da civilização industrial, ao da modernidade. Bastaria dizer que cada cidadão traz consigo no bolso um mini-computador através do qual pode aceder a um universo infinito de informação, quer como receptor quer como produtor. O nível de informação e de exigência sobre os processos políticos e sociais é hoje incomparavelmente superior ao de há não muitos anos atrás. Este crescimento, aliado à capacidade investigativa dos media e à sua concreta aliança com o poder judiciário, tem dado lugar a uma estranha (ma non troppo) prática que alguns designam por lawfare: a acção política através da sua judicialização. O direito como continuação da política por outros meios, para glosar Carl von Clausewitz. Como a guerra. E para aumentar o grau do desvio as redes sociais lançam para o espaço público mais elementos disruptivos que tornam o ambiente político ainda mais complexo, difícil, descontrolado e mais permeável à interferência de factores não políticos. Por outro lado, a globalização é uma realidade que veio para ficar, relativizando as autonomias locais de exercício da política. A inteligência artificial (IA) é uma variável que já não podemos ignorar. Acompanha-nos no dia-a-dia, através das TICs. Uma parte das interacções comunicativas já são geridas pela IA, através dos algoritmos. A fragmentação dos sistemas de partidos é hoje uma realidade difusa e incontestável que aumenta o factor de imprevisibilidade e de instabilidade à política.
2.
TUDO ISTO tem implicações profundas nos processos políticos, mas o establishment parece não se dar conta do que está a acontecer. E então berra retoricamente contra os que, aproveitando-se da sua inépcia, estão a crescer à grande, os populistas de direita. Mas é uma reacção inconsequente e até contraproducente porque não está centrada no essencial, mas tão-só na retórica e na lógica do apostolado moral pretensamente democrático e anti-qualquer coisa. Acaba por lhes dar palco, aumentando a sua notoriedade, e por os fortalecer eleitoralmente. Uma linguagem radical contra os radicais. Não uma acção radical para mudar os processos políticos. À procura do inimigo externo (às nossas idiossincrasias democráticas) para unir as tropas ou mesmo o povo em torno de projectos que há muito perderam o norte, a eficácia e até, em certos casos, a decência. Mas a verdade é que o resultado tem sido o oposto ao desejado: o “inimigo” cresce a olhos vistos e tende cada vez mais a conquistar o poder por via democrática. Já temos, aliás, exemplos disso. Em Itália, por exemplo, no poder. Ou na Hungria, no poder. Ou na Polónia, no poder. Mas também na França, com 31% numa recente sondagem (Kantar Public); na Suécia, com cerca de 20%, nas recentes eleições; na Alemanha, com cerca de 15%; na Espanha, com cerca de 15 %; em Portugal, com 12,9% – estes últimos nas mais recentes sondagens.
3.
NADA SE MOVE na política institucional e nos partidos da alternância, mas a realidade está a mover-se a grande velocidade. “Eppur si muove”. No caso português, tudo isto é evidente. Não sei quais serão as consequências para o partido socialista desta grave crise de credibilidade que está a afectar o seu governo devido aos inúmeros casos que têm levado à saída de tantos governantes, e em tão pouco tempo. Como não se sabe o que acontecerá ao PSD com a frágil liderança do maior partido da oposição, interpretada por Luís Montenegro, agora também fragilizado pelo caso de Espinho, e a efectiva liderança radical, aguerrida e persistente da oposição, à direita, por André Ventura. Poderá acontecer, mais rapidamente do que previsto, o aprofundamento da fragmentação do sistema de partidos português. Vamos ver qual será o comportamento da Iniciativa Liberal (IL) com a nova liderança de Rui Rocha. Em que filão do liberalismo e da sua tradição mais especificamente político-partidária se inscreverá a IL do novo líder. A mais recente sondagem, da Aximage (de 22.01.2023), já dá conta disso, da fragmentação, ao registar uma forte queda do PS para os 27,1% e do PSD para os 25,1%, ao mesmo tempo que o CHEGA regista 12.9% e a IL 9.5%. Estes dois últimos partidos a registarem, juntos, quase o valor eleitoral do PSD. Por outro lado, o conjunto dos 4 partidos susceptíveis de se aliarem com o PS (Bloco, PCP, Livre, PAN) regista 18%. Nesta sondagem, o bloco de direita já está, pois, à frente do bloco de esquerda cerca de sete pontos percentuais (sem o PAN), com o líder radical, André Ventura, a marcar claramente pontos, na liderança da oposição de direita, sobre o líder do PSD, Luís Montenegro.
Por outro lado, parece certo que a famosa solução do Questionário aprovado por Resolução do Conselho de Ministros, resultado inesperado da fuga para a frente de António Costa (e da nega do PR), perante as sucessivas crises do seu governo, veio introduzir, como era expectável, mais problemas do que resolver os que já existiam. E o PR, Marcelo Rebelo de Sousa, parece ter já decidido amarrar António Costa à sua própria solução, abrindo provavelmente brechas na equipa governativa, que poderão levar rapidamente a eleições antecipadas, e abrindo também uma grave brecha nas relações entre ambos, PR e PM. Bem sei que o PR é um pouco volátil no verbo, mas a insistência nesse ponto da aplicação do Questionário ao actual governo indicia uma clara e publicamente assumida estratégia nesse sentido. Ao que parece, o voto já só é, pois, uma das variáveis que determinam a estabilidade governativa e parlamentar, até no caso de maiorias absolutas, como se vê. Na verdade, a legitimidade flutuante veio para ficar, substituindo a chamada legitimidade de mandato, em grande parte devido à gigantesca máquina comunicacional que está instalada nas sociedades contemporâneas e que engloba quer os media tradicionais quer as redes sociais e, em geral, a rede. O poder de aceleração de brechas na opinião pública pelo sistema comunicacional aumentou exponencialmente e ganhou uma intensidade suplementar quando passou a produzir efeitos directos sobre o grau de intervenção pública da máquina judiciária, devolvendo efeitos políticos devastadores para o sistema. Também aqui o establishment ainda não conseguiu vislumbrar o que se passa e a dimensão do que se passa. Lawfare – cada vez mais se faz política usando para tal a justiça e a ética, numa aliança que pode ameaçar as instituições democráticas a um ponto de não retorno. A única instância que tem o poder de controlar (leia-se: investigar) todas as outras é a instância judiciária, dando origem a uma curiosa teoria da separação dos poderes, com um deles a estar mais separado do que os outros e até a reivindicar algum poder legislativo, para além do jurisprudencial. O lawfare é a projecção política desta condição. A justiça, em regime de lawfare, aliada à ética e posta na ventoinha pública pelo sistema comunicacional, funciona como a nova arma branca da conjura e produz efeitos absolutamente devastadores para o sistema de poder, mas também para o próprio poder judicial, afectando a sua credibilidade.
4.
TUDO ISTO mereceria, sim, uma atenta e profunda reflexão por parte dos partidos do sistema, do establishment, para que não se regrida no sistema democrático (e há várias formas de regressão), mas, antes, se evolua para uma democracia com capacidade de responder e de integrar as profundas mudanças que estão a ocorrer nas sociedades contemporâneas a uma enorme velocidade. Alguns falam de democracia deliberativa, uma democracia que não vive da pura retórica instrumental com vista ao sucesso eleitoral, mas antes integra a comunicação, enquanto “espaço intermédio”, na sua própria matriz. Ao fazê-lo, está a dar voz à cidadania e a promover a sua participação nos processos políticos informais e formais. Mas também está a repor em cena a própria política, acabando com o exclusivo que hoje parece pertencer aos populistas e aos santos apóstolos da política identitária. Pôr em cena a política moderada, sim, moderada, mas política, não o puro management, não a pura governance, não a tecnogestão asséptica do poder, não a “algebrose” (ou doença infantil da retórica exibicionista dos grandes números estatísticos para fins eleitorais e de legitimação) e não a pura propaganda. A reintrodução da política na esfera do discurso moderado deveria começar no interior dos próprios partidos, nos mecanismos internos de selecção dos dirigentes, no culto rigoroso da ética pública e na formação política dos militantes e, em geral, na promoção da literacia política como factor de emancipação política séria da cidadania. Mas não só. Seria necessário também promover o rigor e a ética pública na gestão dos bens públicos, a eficácia na administração do Estado (e não só na cobrança dos impostos), a superação do tabloidismo político, um pacto social com os grandes meios de comunicação para o cumprimento dos seus próprios códigos éticos em vez de um tabloidismo desbragado que põe o país em depressão, um pacto com o poder judicial para que se respeite o justo equilíbrio entre os direitos individuais e o poder sancionatório do Estado, em particular o respeito pelos princípios fundamentais da nossa cultura jurídica, para que, por exemplo, os julgamentos não sejam feitos na praça pública electrónica e a prisão preventiva não seja norma e espectáculo em vez de ser excepção.
5.
MAS NÃO É ISTO que se vê. O que aconteceu ao partido democrático em Itália (mas também aos partidos socialistas em França ou na Grécia) é muito elucidativo e não me parece que a propalada refundação venha resolver as coisas, se não forem a fundo na compreensão da crise. O “Manifesto per il Nuovo PD”, que se intitula feminista (“siamo e saremo un partito feminista”), deixa muito a desejar, enxameado que está de conversa politicamente correcta. A crise do centro-esquerda é generalizada, lá, como noutros lugares da União, mas parece não haver consciência disso, ou seja, das causas profundas que a explicam. Crescem os extremos, minguam os centros. E aqueles crescem na exacta medida em que cresce, por sua iniciativa, a fala e a linguagem da política, interpretando a desilusão ou mesmo a revolta da opinião pública em relação ao establishment. E estes, os centros, diminuem na medida em que se aninham na tecnogestão, ainda por cima com resultados pífios, com uma tendência generalizada a reproduzirem-se no poder por via endogâmica e inundados de uma linguagem politicamente correcta e “woke” que desafia o bom senso (e até enjoa) da maior parte dos cidadãos. Mas também é verdade que, às vezes, os partidos da alternância mais parecem federações utilitárias de interesses puramente pessoais do que formações que aspirem a gerir o interesse geral, inspiradas numa sólida ética pública. Não é por acaso que estão em crise por essa Europa fora. Apetece usar a fórmula dos apóstolos “woke”: acordai, ó moderados do centro-esquerda e do centro-direita! Se não acordardes quem pagará as favas serão os cidadãos, com a cumplicidade ingénua dos próprios. 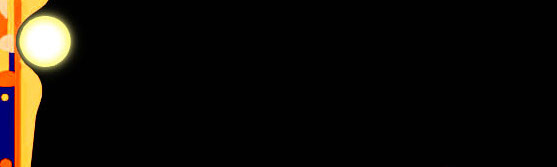
NOTA SOBRE O POPULISMO
Por João de Almeida Santos

OCORRERÁ amanhã, dia 19.01, por via digital, uma Conferência Internacional sobre “Populismos, Democracia e Comunicação na História”, promovida pela Associação Espanhola de Investigação da Comunicação, com organização de seis Universidades espanholas e a participação de doze. Terei a honra e o gosto de proferir a Conferência de Abertura com uma reflexão sobre “O Discurso Populista”. As intervenções ficarão disponíveis no final de 2023 num número especial da Revista de “Historia y Comunicación Social”, da Universidade Complutense de Madrid.
1.
A ESTE PROPÓSITO gostaria de aqui propor algumas reflexões sobre esta matéria (que não são o texto da minha conferência de amanhã), revisitando a ideia de povo, a base sobre a qual está ancorado o populismo, e partindo de algumas considerações de Ernesto Laclau, na obra “A Razão Populista” (2005).
E começo por uma sua interessante afirmação: “uma identidade popular funciona tendencialmente como um significante vazio” (Laclau, E., La Razón Populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005: 125). Ou seja, a identidade popular não exprime uma realidade sociológica concreta e não pode, pela sua indeterminação, atingir a dignidade conceptual, tornar-se conceito. O que é então? Laclau distingue entre a dimensão ôntica da ideia de povo e a sua dimensão ontológica. A primeira refere-se às formas concretas que a ideia de povo assumiu ao longo da história e à sua concreta assunção pelas várias correntes políticas. A segunda refere-se à sua dimensão genérica, à pretensão de dar essencialidade e universalidade àquilo que tem uma simples dimensão ôntica, histórica, contingente, parcial, transformando a espécie em género, a parte em todo, o particular em universal. Para esta operação é necessário extirpar as concretas determinações da ideia de povo, ficando, então, em condições de acolher as suas concretas determinações temporais, a sua realidade ôntica. Mas para isso terá de funcionar precisamente como “significante vazio” ou como “abstracção indeterminada”, para usar a linguagem do filósofo italiano Galvano della Volpe.
2.
O POVO (político) foi identificado ao longo da história com os indivíduos que tinham direito de pronúncia sobre as causas da comunidade (Grécia), os que eram titulares de direitos em virtude da sua condição de cives (Roma), os citoyens actifs (época liberal), a classe operária (marxismo), o campesinato (populistas russos), as massas (populismos de direita e de esquerda no período entre as duas guerras mundiais), os eleitores (na democracia representativa). O que, entretanto, acontecia, quando estas identidades eram assumidas pelas formações políticas como âncoras fundamentais da sociedade, era converterem-se em totalidade social, identificando-se com o conjunto da sociedade, apesar de serem apenas uma sua parte (haveria sempre uma parte excluída da identidade popular): a plebs que se torna populus, os polítai que se tornam demos. E é para isso mesmo que serve a palavra povo na sua dimensão ontológica, equívoca, genérica, vazia ou indeterminada. Por exemplo, identificando o povo com a nação esta conversão ficaria garantida. Ou, como no marxismo, quando a classe esgota em si a ideia de povo, porque ela está no centro do processo histórico e determina a sua evolução rumo a uma sociedade sem distinções de classe, homogénea, genérica, onde todos são iguais, numa “cadeia equivalencial” de identidades individuais. O mesmo vale para a raça, para os herdeiros de Gobineau. A igualdade como identidade absoluta.
3.
TRATA-SE DE UM PROCESSO tipicamente ideológico, onde acontece uma hipóstase e uma inversão: o particular é projectado como universal (hipóstase) para, depois, a partir desta condição, reformatar a realidade como sua determinação (inversão). Este processo foi muito bem visto e teorizado por Galvano della Volpe em Logica come Scienza Storica (Roma, Riuniti, 1969) e em Rousseau e Marx (Roma, Riuniti, 1956): a ideia de povo não seria mais do que uma “abstracção indeterminada”. Parte, sim, de uma parte da realidade, mas para a sublimar, através de uma hipóstase, absorvendo (della Volpe usa a palavra “indigerir”) o seu conteúdo empírico para, depois, lhe devolver uma nova dimensão funcional. Uma espécie de tautologia com funções reconstrutivas. Na realidade, uma reconstrução ideológica do real. A realidade é sublimada para ser simbolicamente confirmada e legitimada com maior densidade ideal. Portanto, tem também razão Laclau quando diz que o povo dos populistas é uma construção política (eu diria reconstrução) e não espelha, de facto, uma realidade sociológica, sendo, pelo contrário, objecto de uma “sobredeterminação” – a que ele chama “nominación” – a partir de um vértice que é representado por uma individualidade, por um nome unificador da heterogeneidade societária, por um intérprete da realidade sublimada como povo. O vazio da identidade popular, na sua dimensão ontológica, é, então, preenchido por uma individualidade, por um chefe, por um nome, normalmente carismático e oracular. O exemplo clássico está identificado no monarca, na sua corporeidade e no seu simbolismo relativamente ao povo-nação. No período entre-guerras, na idade de ouro da propaganda, da ideologia e das grandes narrativas este processo ganha um novo tipo de protagonistas. Figuras oraculares que materializavam e representavam a ideia de povo e de povo-nação: “il Duce”, “der Fuehrer”, “el Caudillo”, “o Secretário-Geral”, “o Chefe” ou “il Capo”. A redenção do povo alemão, da nação alemã, no filme encomendado por Hitler a Leni Riefensthal, “Triumph des Willens”, de 1935, este surge com o deus ex machina que desce sobre o palco de Nuerenberg para resgatar a nação alemã, que saíra humilhada do Tratado de Versailles (1919), que se seguiu à Grande Guerra.
A generalidade da ideia povo precisa, por necessária lógica interna, de um princípio que, simultaneamente, a materialize, a identifique e, ao mesmo tempo, a unifique funcionalmente. No nacional-socialismo até existia o “Fuehrerprinzip”, como princípio supremo que dava unidade a toda a acção política. Um monarca (ou mesmo imperador) de novo tipo. Glosando Gramsci, se o partido é o novo príncipe, o líder carismático e oracular é o novo monarca.
4.
HOJE, o princípio do populismo é o da soberania do povo-nação, na sua forma mais radical de soberanismo e nacional-populismo, interpretado também ele por uma individualidade que concentre nela um poder acima das partes, precisamente porque investida desta exigência de unificação, de materialidade e de representação. Poder que supera as instâncias de intermediação em nome de uma permanente recondução da política ao seu fundamento primário, fonte de toda a legitimação – o povo. Na verdade, os populistas não se identificam com o primado constitucional da nação, antepondo-lhe o primado do povo soberano. Não é por acaso que este populismo é soberanista e considera, diferentemente dos liberais, seus adversários (ou mesmo inimigos – veja-se a ideia de “democracia iliberal” de Viktor Orbán), que a soberania reside no povo, não na nação.
5.
A NATUREZA DO POPULISMO é aqui que se encontra e para a compreender é necessário fazer uma incursão quer sobre as várias formas que a ideia de povo foi assumindo historicamente quer sobre o processo da sua própria sublimação ou hipóstase para que se possa cumprir aquilo que é absolutamente necessário: garantir a unidade do heterogéneo social e a identificação com a totalidade social e garantir uma alta performatividade do seu próprio discurso político. Para tal é preciso distinguir o plano ôntico da ideia de povo, a sua dimensão contingente, do plano ontológico, onde ela funciona como ideologia totalizante (interpretada por uma concreta individualidade) a partir da qual – e através de um decisionismo reforçado (que hoje repousa no presidencialismo do primeiro-ministro) – o real é recriado ou reformatado. Só assim ele pode ganhar terreno na competição pelo poder. O que tem vindo a conseguir à custa da inépcia política e ideológica das formações políticas que se têm alternado na gestão do poder democrático. Com efeito, a política parece hoje ter ficado confinada à esfera de acção das formações políticas de inspiração populista e à chamada “nova esquerda” das causas fracturantes, politicamente correcta, identitária e revisionista, de largo espectro. O centro-esquerda tem preferido a assepsia política, o “management”, a “governance” e a tecnogestão dos processos sociais, numa progressiva “despolitização” da gestão do poder. Os resultados estão à vista. Jas@01-2023
TRUMP FOI AO PLANALTO
Por João de Almeida Santos

“Alvorada II”. JAS. 01-2023
NÃO É PRECISO SER um grande especialista em política para perceber que o que aconteceu no Domingo passado no Brasil parece ser um clássico modelo experimental. De resto, nem sequer muito original. Criar o caos para que a ordem seja reposta. É sempre do caos que nascem as ditaduras. Umas vezes por imaturidade dos sistemas democráticos (foi assim na I República portuguesa, 1910-1926), outras vezes de forma politicamente induzida. Na Itália, os squadristi lançaram a violência e o caos um pouco por todo o país, no início dos anos vinte, que conduziria à entrega do governo italiano, pelo Rei, nas mãos de Mussolini. Na Alemanha a mesma coisa, violência e caos, e ao sucessivo triunfo de Hitler nas eleições. Sobrevieram, primeiro, uma ordem militar, no caso português, e, nos casos italiano e alemão, ditaduras unipessoais, com Mussolini e Hitler, que se foram rapidamente consolidando até se tornarem verdadeiros regimes totalitários. Para não falar aqui na vizinha Espanha, em 1923, com Primo de Rivera. Os tempos são outros, mas a “besta” continua sempre à espreita. Ninguém previa esta escalada bélica convencional da Rússia à revelia dos princípios básicos do direito internacional e das convenções internacionais. Mas ela aconteceu com, pelo meio, irresponsáveis e impensáveis suspiros nucleares.
I.
ESSE PARECE TER SIDO o significado imediato do assalto ao Capitólio, nos USA, ou seja, um teste violento ao sistema de poder instalado, que poderia servir de pretexto para bloquear a eleição de Joe Biden, ou algo ainda pior. “Se non è vero è ben trovato”, dir-se-ia. Não diria que, em política o que parece é, mas não andamos longe disso. Um episódio, este, que ganha particular significado se considerarmos o papel nele desempenhado pelo ainda presidente Trump e pelo que ele representava, tendo em conta os conspícuos resultados eleitorais obtidos. O processo judicial em curso parece, com efeito, confirmar a participação activa de Trump naquele lamentável e incrível episódio. E esse também parece ser o significado do assalto ao Palácio do Planalto, com a única diferença de que Bolsonaro já não era presidente há uma semana, o que alimenta a ideia de que o que eles pretendiam era realmente uma intervenção militar. Uma vontade que vêm alimentando desde as eleições. A extrema-direita assumiu aqui a sua face mais violenta, tendo sido mais explícita e directa do que a direita americana, ao pedir abertamente a intervenção das forças armadas, certamente confortada por ocultas cumplicidades internas.
II.
A OUTRA EXTREMA-DIREITA, a mais soft, só não assume esta estratégia porque sabe que as sociedades civis em que opera são muito mais robustas e previsivelmente não seriam permeáveis a soluções deste tipo. Permeáveis eleitoralmente, sim, como se demonstra pelo actual caso italiano (Giorgia Meloni condenou abertamente o episódio), mas provavelmente pouco disponíveis para aceitar uma ditadura militar. Já aqui falei deste assunto, no artigo sobre “A Democracia Iliberal”. Mas a verdade é que do lado de lá do atlântico as coisas parece serem diferentes. Alguém dizia que se Trump estivesse no poder nos USA, hoje já teríamos no Brasil de novo a ditadura militar. Não sei, mas o que parece é que o capitão Bolsonaro não sonha com outra coisa. Nos USA a tentativa faliu, mas não é por isso que Donald Trump deixa de tentar voltar a ser Presidente dos Estados Unidos. No Brasil a tentativa também faliu, mas provavelmente a lógica do assalto ao Planalto continuará e à revelia dos mecanismos eleitorais próprios de uma democracia representativa. Quando a nova arma branca da política, o lawfare, falha, tenta-se que regresse a velha arma das botas cardadas. A direita moderada terá aqui um papel essencial. Mas não sei se aprendeu a lição. Os republicanos americanos não aprenderam, de certo. No Brasil, verdadeiramente não se sabe. O exemplo americano será sempre muito importante, para o bem e para o mal.
III.
NO ARTIGO que publiquei logo a seguir à vitória de Lula, em 30 de Outubro, escrevi o seguinte: “a grande tarefa do Presidente Lula é, sem sombra de dúvida, a de cuidar, com talento, da solidez e da credibilidade do sistema de poder brasileiro. Sim, também as grandes reformas pelo crescimento, pela preservação do eco-sistema brasileiro e mundial e pelo combate à pobreza. Claro. Mas se não cuidar, com toda a atenção, do sistema de poder nada disto poderá ser alcançado”.
Não podia adivinhar o que viria a acontecer oito dias depois da sua tomada de posse. Mas, vistos os resultados eleitorais, era claro que a principal tarefa do novo presidente seria a de esvaziar a sociedade brasileira do ódio que o bolsonarismo espalhou durante os últimos anos a partir do Palácio da Alvorada. Uma imitação ainda mais grosseira do grosseiro Presidente Trump, agora aprofundada com o mimético e inacreditável assalto ao Planalto, com o senhor Bolsonaro no Estados Unidos provavelmente a receber inalações de trumpismo no seu próprio oráculo. Importante foi a declaração da congressista Ocasio-Cortez (“The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida”), mas mais importante será punir o responsável máximo pelo assalto ao Capitólio, o modelo que, afinal, inspirou Bolsonaro y sus muchachos. Os papagaios de serviço que acharam que o discurso do Presidente Lula deveria omitir os desmandos de Bolsonaro se calhar até acham que o assalto foi provocado pelo discurso. Mas enganam-se: a democracia deve utilizar as suas armas para se defender. E as primeiras são a da justiça e a da palavra. Talvez até tenha sido de menos a acção do Presidente, não removendo de imediato os restos de bolsonarismo em instituições fundamentais, como, por exemplo, a da segurança. Foi preciso esta inacreditável arruaça para afastar o secretário de segurança pública do distrito federal, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública (e homem de confiança) de Bolsonaro, Anderson Torres, e o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha – ambos considerados responsáveis pela ausência de medidas de segurança ou mesmo “por conivência”. Sim, Lula não pode demonstrar fraqueza e deve agir com firmeza, ao mesmo tempo que deve procurar, como tem vindo a fazer, trazer ao seu projecto as forças moderadas. As falinhas mansas de pouco servem quando se está perante golpistas violentos cheios de ódio.
IV.
O QUE ACONTECEU no Domingo em Brasília é a confirmação da gravidade do que aconteceu nos USA, com o assalto ao Capitólio, e que tarda a resolver-se com medidas exemplares em relação ao seu principal responsável (e não só em relação aos seus peões de brega) que mostrem como os Estados Unidos são firmes na defesa da legalidade democrática e, deste modo, demonstrem o que em palavras sempre defenderam. Neste compasso de espera, o Brasil bolsonarista imita o que de pior têm os Estados Unidos. Mostra-se, dizem os italianos, como a sua “brutta copia”. E é precisamente por isso que os Estados Unidos deverão julgar com toda a severidade e urgência (que já tarda) o responsável pelo que se verificou há dois anos na capital americana. E não só porque se tratou de um grave atentado ao coração da democracia americana, à lei e à ordem democrática, mas também porque, dada a importância mundial dos USA, a impunidade dará fôlego à mais violenta direita radical, um pouco por todo o lado. Quando hoje a comunidade internacional prepara um processo à Rússia de Putin pelos crimes contra a humanidade que está a praticar na guerra contra a Ucrânia, seria incompreensível que os Estados Unidos não sancionassem com rigor, em todos os aspectos, inclusive o de proibir a recandidatura de Trump, esse gravíssimo assalto ao Capitólio, essa invasão do “altar” da democracia americana, esse lugar onde diariamente se celebra o ritual democrático. As leis da imitação, formuladas pelo clarividente Gabriel Tarde, ganham mais força quando ancoradas no exemplo dos mais fortes, dos que exibem maior notoriedade e dos que mais influência têm nos destinos colectivos. Prova disso mesmo foi o que acabámos de ver em Brasília, a escassos dias da tomada de posse do novo Presidente do Brasil.
V.
É, POR ISSO, OCASIÃO para voltar a sublinhar que a principal tarefa de Lula da Silva é a de restaurar o sistema democrático brasileiro, de o reforçar, aplicando a lei sem tibiezas, e de desenvolver um trabalho político intenso junto da direita moderada para que também ela ajude nessa gigantesca e primária tarefa. Extirpar o ódio da sociedade brasileira não é tarefa fácil, mas será porventura o maior dos desafios que o Presidente Lula deverá abraçar, desde já. Extirpar o ódio, sim, para que possa meter mãos à obra para extirpar também a fome e a pobreza nesse rico e imenso país que é o Brasil.

“QUE BROTEM TODAS AS FLORES”
Lula e o Futuro do Brasil
Por João de Almeida Santos

“Alvorada”. JAS. 01-2023
NO PASSADO DOMINGO, dia 1 de Janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como Presidente da República Federativa do Brasil. Foi um momento de grande significado, sim, para o Brasil, mas também para a Política. Lula disse-o de uma forma enfática no seu discurso: “Negar a política, desvalorizá-la e criminalizá-la é o caminho das tiranias”. O seu antecessor não esteve fisicamente nem simbolicamente presente na posse, tendo-se ausentado intencionalmente para os Estados Unidos, dois dias antes. Competir-lhe-ia passar o testemunho, mas não quis fazê-lo, dando, com esta atitude, um sinal negativo em relação à política democrática. Ou seja, não aceitou a derrota, o que significa que não se revê na mais alta simbologia democrática, se é que alguma vez a interiorizou. Os eleitores não o quiseram, democraticamente, na Presidência e ele voltou-lhes as costas no momento culminante da materialização da decisão popular, apesar do significativo nível de representação que o seu próprio partido obteve no Congresso, na Câmara e no Senado, e nos estados federados. Aguardemos para ver o que acontecerá e que destino terá Bolsonaro.
I.
O NOVO PRESIDENTE fora impedido judicialmente de se candidatar às eleições de 2018, esteve preso 580 dias (entre Abril de 2018 e Novembro de 2019, quando Bolsonaro já era Presidente há quase um ano), depois de ter sido condenado a quase nove anos de prisão. Saiu da prisão por manifesta ilegalidade do processo e pôde finalmente candidatar-se à Presidência em 2022. E venceu. O juiz que o prendeu, Sérgio Moro, passou rapidamente de juiz a ministro da justiça de Bolsonaro, saiu em confronto com o Presidente que o nomeara e, depois de várias peripécias em torno de uma falhada candidatura presidencial, conseguiu ser eleito senador pelo estado do Paraná. Um juiz que, nessa qualidade, fez política (lawfare) e que, por isso mesmo, foi politicamente promovido, primeiro, a ministro, depois, a senador. Fez política, dizendo que estava a fazer justiça, para, depois, ser politicamente recompensado. Um percurso que diz tudo sobre o personagem.
II.
ESTA É a terceira vez que Lula toma posse como Presidente da República, aos 77 anos de idade e, de algum modo, a sua vitória representou verdadeiramente o resgate triunfal de uma triste história que começou com o Lava Jato, com a destituição de Dilma Rousseff, com a sua prisão e com a eleição de Bolsonaro. Uma história pilotada para tirar do poder o PT. Puro lawfare, a nova arma branca para fazer política por outros meios, para usar a célebre fórmula de Carl von Clausewitz. Usada até mesmo no impeachment de Dilma Rousseff: teria agido à revelia das leis da república. E pilotada, sim, pela extrema-direita, com a conivência da direita moderada. Só que o personagem que a interpretou era mau demais para conseguir aguentar por muito tempo esta história mal contada. A direita moderada apercebeu-se do erro e bateu em retirada. A evolução de Fernando Henrique Cardoso no processo diz muito sobre o que aconteceu. Mesmo assim, a batalha eleitoral foi intensa, muito disputada e até perigosa. Acabou bem com a declaração institucional de vitória de Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Ele surge, assim, como um combatente denodado, com fortes convicções, uma vontade de aço e como grande e inteligente lutador. De operário metalúrgico a Presidente da República por três vezes, numa longa história com mais de quarenta anos.
III.
O QUE DISSE LULA DA SILVA no discurso de tomada de posse? Vejamos o essencial: (1) que o balanço dos últimos quatro anos é catastrófico, em todas as áreas da governação – “devastação”, foi a palavra usada; (2) que corrigirá os graves danos provocados pelo governo de Bolsonaro, sem hesitação – “reconstrução”, foi a palavra usada; (3) que serão restaurados os procedimentos democráticos na sua plenitude; (4) que vai concentrar-se na resposta às desigualdades, à fome, aos direitos sociais, aos direitos das mulheres e das minorias; (5) que vai investir no desenvolvimento nas suas várias frentes, (6) combater às alterações climáticas e (7) repor o Brasil na cena política mundial, enquanto grande potência mundial.
Uma tarefa ciclópica, mas ainda maior porque não dispõe de maioria no Congresso e nem sequer nos estados federados, devendo por isso negociar exaustivamente o seu concreto programa. A formação do governo já tomou esta circunstância em atenção, integrando diversas forças políticas nele. Negociações, sim, mas lealdade para com os princípios que sempre o moveram desde que entrou na política quer como sindicalista quer como líder do PT.
IV.
QUEM PENSAVA que Lula da Silva não iria referir-se crítica e gravemente ao passado no seu discurso de posse, em nome da reconciliação nacional, enganou-se. E, no meu entendimento, ele fez bem em referir-se à devastação bolsonarista (de que dará conta aos principais agentes institucionais do Brasil), mas também em dizer ao que vem, apontando as grandes linhas principiais e programáticas. É difícil, a reconstrução? É sim, dada a magnitude da devastação, mas não demasiado, pois sabe muito bem o que quer. E disse-o de forma muito clara, para quem quis ouvir. O que já é muito. Quatro anos passam depressa e ele terá 81 anos quando o mandato chegar ao fim. Mas a verdade é que a tarefa é eminentemente política e a clareza na definição da orientação política e a precisão nos objectivos a alcançar são os pilares essenciais e decisivos. Em termos gerais, são cinco os seus grandes objectivos políticos: reconstruir a política democrática; reconstruir as políticas sociais, em particular o combate à fome e à pobreza, que envolvem, respectivamente, 33 e 100 milhões de brasileiros; relançar as políticas de desenvolvimento, com particular destaque para o papel da ciência e da tecnologia no processo; retomar as políticas de combate às alterações climáticas e assumir o desmatamento zero da Amazónia; e, finalmente, repor o protagonismo do Brasil como grande potência emergente.
Este é o programa estratégico e Lula da Silva já o formulou com grande clareza e num momento solene. A etapa seguinte será a de pôr os responsáveis por estes sectores estratégicos a negociar e a desenvolver o seu programa.
V.
TALVEZ A DIREITA moderada tenha aprendido a lição e compreenda que muito terá a ganhar se o Brasil voltar a levantar a cabeça, reconquistando o seu protagonismo enquanto grande país que é, em dimensão, em população e em recursos. Mas é evidente que também o Brasil sofre a influência de uma política mundial onde as forças radicais têm vindo a ganhar crescente protagonismo e em várias formas. A começar pelos Estados Unidos, onde se espera que a experiência de Donald Trump fique definitivamente consignada aos arquivos da história e a liderança americana esteja nas mãos de personalidades moderadas, de centro-esquerda ou de centro-direita, não de direita radical. Já basta termos na Europa o senhor Putin a destruir à bomba um país de quase 45 milhões de pessoas. Por isso, não creio que seja mais do interesse da direita moderada alinhar em soluções radicais. Aprendeu a lição? Esperemos que sim. Afinal, a coisa nem era de todo nova. Já tinha acontecido com os liberais em Itália nos anos vinte do século passado. Aprenderam também eles, passados dois ou três anos, a lição, mas já era demasiado tarde. As consequências foram devastadoras. É por isso que esta vitória de Lula da Silva tem um altíssimo valore simbólico. Ela representou, a seguir à dos democratas nos USA, uma nova vitória da democracia sobre os radicais e golpistas de extrema-direita. É por isso que ela tem um alto valor simbólico.
VI.
SIM, UM FORTÍSSIMO SIMBOLISMO. A democracia é um valor muito alto, maior do que o daqueles que a vão materializando, à esquerda ou à direita. É um valor universal, que vale por si, porque garante os direitos fundamentais do indivíduo. Por isso, a derrota dos que atentam contra ela, a democracia representativa de matriz liberal, é por si só uma vitória de grande alcance. Nem se conhece uma forma política alternativa melhor. É conhecida e apreciada a fórmula minimalista de Winston Churchill sobre a democracia representativa. Depois, a força anímica do personagem que interpretou esta viragem política, Lula da Silva, é inspiradora e acrescenta algo de muito valioso à própria democracia. A coragem, a persistência e os valores. Depois, ainda, a clareza da enunciação política do seu discurso, a trave mestra do que considera ser a missão da sua vida e que pode ser resumida numa frase que disse no seu discurso de posse, relembrando a sua primeira investidura como Presidente da República: “a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer três refeições por dia”. Esta frase diz tudo. Modéstia até na missão grandiosa de acabar com a gigantesca fome no Brasil. Não houvesse outras importantíssimas missões para o seu mandato, como, por exemplo, a de acabar com a criminosa desmatação da Amazónia, e aquela só por si justificaria o regresso de Luiz Inácio Lula da Silva. E não terá sido mera retórica o que ele disse na tomada de posse: “Que brotem todas as flores e sejam colhidos todos os frutos da nossa criatividade“. Com a sua história de vida, o que ele disse e diz é para levar mesmo a sério.
VII.
TERMINO, SAUDANDO O PRESIDENTE LULA com as palavras que, em 23.01.1981, ele escreveu, no livro que me ofereceu, Lula, Entrevistas e Discursos (São Bernardo do Campo-SP, ABCD-Sociedade Cultural, 1980), como dedicatória: “Ao Companheiro Lula com abraços do Companheiro João” (somente a ordem dos nomes está trocada). E faço-o com o particular prazer de quem assistiu (embora na Europa) ao nascimento do PT e de um líder político que haveria de revelar as melhores qualidades que se podem esperar de quem um dia teve a ambição de assumir, interpretar e conduzir os destinos de um grande país como o Brasil. Bom trabalho, Senhor Presidente.

ELOGIO DO POETA
Por João de Almeida Santos

“La Diseuse”. JAS. 12-2022
À PRIMEIRA VISTA, o título deste artigo pode parecer um auto-elogio (admitindo que sou poeta, o que não é uma certeza), mas não é. Na verdade, inspirei-me no título de um belíssimo livrinho de Pierre Jean Jouve, Apologie du Poète, publicado em 1947 (Jouve, 1982). O autor, importante poeta e romancista francês, viveu entre 1887 e 1976. Morreu em Paris.
I.
POR QUE RAZÃO escrevo hoje sobre poesia, inspirado nele? Houve uma razão imediata que me levou a ler e a reler o livrinho e a escrever este artigo. Encontrei nele uma interessante coincidência, no que diz respeito às relações entre a alma, o espírito e a poesia, com o que eu próprio escrevera em “Pessoa Revisited” (1). Cito, para começar, Jouve:
“Il est donc vrai que la poésie supérieure est une fonction de l’âme, e non pas de l’esprit. C’est l’âme qui fournit l’énergie spéciale capable de faire, de la masse agglutinée, une ‘chose de beauté’”. (…) “le contenu ultime de la Beauté serait le caractère d’éternel devenu sensible” (Jouve, 1982: 10).
Parece estranha esta distinção entre alma e espírito, tal como a essencialidade da conexão funcional da poesia com a alma e não com o espírito. Mas não é. A poesia é uma função da alma, sim, porque a alma, tal como a poesia, é mais dionisíaca e o espírito é mais apolíneo. Esta posição remete para a relação estabelecida por Nietzsche entre espírito dionisíaco e espírito apolíneo, em A Origem da Tragédia, onde ele valoriza na arte a dimensão pulsional e anímica sobre a construção racional da relação estética com o mundo. É certo que Nietzsche via a perfeição (da tragédia grega) na relação de harmonia e equilíbrio entre estas duas dimensões, mas colocava a primeira na génese da arte, como sua energia propulsora primordial. A beleza, afinal, é a simbiose do eterno ou do universal com o sensível, um processo que começa com e no dispositivo anímico. Diz Jouve: “Nós, poetas, devemos, pois, produzir este ‘suor de sangue’ que é a elevação a substâncias tão profundas, ou tão altas, que derivam da pobre, da bela potência erótica humana” (1982: 33-34). Uma ligação indubitavelmente forte entre o dispositivo erótico, a beleza e a poesia e onde o próprio dispositivo anímico desempenha uma função originária essencial. A poesia é uma função da alma, não do espírito. É verdade.
Permitam-me, pois, que lembre o que eu próprio escrevi, a este propósito, em “Pessoa Revisited”:
“Afinal, alma e espírito nem são a mesma coisa, pois este é culto e aquela, a alma, pode não ser. Falo no plano transcendental, claro, embora um espírito inculto seja mais alma do que espírito. Digamos, uma alma um pouco espiritual. Mas a verdade é que a alma não tem de ser culta. A alma sente e o espírito pensa. Mas pode haver um sentir inteligente, uma alma que pensa? Talvez não, porque a inteligência tende a embaciar o sentimento. Tal como o sentimento embacia a inteligência. Pelo menos em parte, porque não fluem, ambos, livremente, turvando-se mutuamente. É como o amor. Não há amor inteligente, mas amor feliz… e doloroso. O amor é mais da ordem da alma do que da do espírito. É por isso que se diz ‘dor de alma’ e não ‘dor de espírito’. E, por isso, o espírito é perigoso para o amor. Quando ele chega, dita lei e o amor acaba” (Santos, 2022).
E, por isso, só faltou, nesta passagem do meu Ensaio, ter verbalizado o que já lá estava implícito na distinção entre alma e espírito – a poesia. Mas isto já o dizia também de forma muito clara Jouve, em 1933: “La poésie est un véhicule intérieur de l’amour” (1982: 33). Função da alma e veículo interior do amor. Conexão íntima entre a alma, o amor e a poesia. Por isso, a poesia e o amor são irmãos gémeos e ambos habitam o mesmo espaço: a alma. E até são incestuosos. É em nome desta relação, deste vínculo natural, que Jouve recorre a Rimbaud para dizer: “j’y suis; j’y suis toujours”. Onde? Na “conservação viva e espiritual do amor”, pela poesia (1982: 34). Se dúvidas houvesse, aqui ficam elas esclarecidas.
II.
PARA PIERRE JEAN JOUVE, a alma é o magma intangível que nos energiza e abre a um vastíssimo espectro que a poesia tenta captar dando-lhe forma numa versão minimalista da linguagem estético-expressiva: a “narrativa” poética. Em boa verdade, nem é bem de narrativa que se trata, mas sobretudo de um “grito de alma” ou de uma “dor de alma” que são expressos através de palavras, em formas belas: poemas, estrofes, versos. E é precisamente a beleza que os fortalece e lhes dá o poder de, ao serem comunicados desta forma, subindo à “extremidade suprema do verbo”, “determinar o mesmo” (isto é, sensibilizar com o belo) “na alma de quem o poema quiser tocar”. É por isso que o poeta é essencialmente um jogral, um solista (“le poète reste um chantre”), qualquer que seja o grau de espiritualidade que ele atinja (1982: 52). Jouve, falando da “obra mística do poeta” (que pertence à esfera humana da beleza), afirma que, tal como os santos atenuam a sua solidão infinita através da comunhão com os seus pares, também o poeta tem como objectivo próximo e remoto que a obra comunicável (1982: 52) para poder chegar aos outros e, dessa forma, também ele romper a sua infinita solidão. A poesia nasce em solidão (parece não haver dúvida), mas aspira a ser universal e partilhada, universal-sensível, através da beleza, o que acontece no interior desse dispositivo anímico de que o ser humano é dotado.
III.
NADA MELHOR do que dizer o que é a poesia, usando as próprias palavras de Jouve:
“A Poesia é uma linguagem, por assim dizer, magnetizada, portadora de uma densidade (charge) diferente essencialmente da linguagem falada ou até mesmo da prosa escrita; através desta linguagem deve produzir-se a unidade ao mais alto nível entre o pensamento e a palavra, entre o sentido e o signo, entre uma resultante de todas as massas psíquicas em movimento e o desenvolvimento agradável das sílabas. Tudo isso coexiste porque tudo nasce em conjunto” (1982: 11; itálico meu).
E é por isso mesmo que na poesia não existe o problema da relação entre o fundo e a forma. Sente-se, ou pressente-se, esta relação, esta tensão, e até atormenta um pouco no acto da criação (e também falo por experiência própria), mas não existe como problema propriamente dito. Jouve cita Baudelaire para o confirmar: “L’idée et la forme sont deux êtres en un” (1982: 11). Na criação poética fundo e forma confundem-se e fundem-se. O fundo está lá na forma e esta, por isso, converte-se, na poesia, em unidade expressiva sem exterior. A forma não será poética se não provier ela própria do fundo, da substância anímica mais profunda. Dir-se-ia que o fundo fala directamente na forma e que esta é a sua face mais visível, ainda que relativamente cifrada.
IV.
ELE DIZ que a poesia “é um pensamento – um estado psíquico – de aglutinação” (1982: 9). Aglutinação de quê? “De tendências, de imagens, de ecos de vagas recordações, nostalgias, esperanças”. Ela parece-se com certos sonhos aparentemente absurdos, mas que, de repente, se iluminam quando os desenvolvemos invertendo o seu alinhamento (“si on les déroule à l’envers). O sonho ocupa na poesia um lugar cimeiro. Jouve cita Victor Hugo, que fala do promontorium somnii:
“no mundo misterioso da arte, há o cume do sonho. Neste cume da arte está apoiada a escada de Jacob. Jacob deitado junto da escada é o poeta, o que dorme com os olhos da alma abertos” (1982: 17; itálico meu).
O sonho é, pois, algo que, embora mereça uma operação de descodificação poética, especial, ocupa um lugar cimeiro na poesia e exige, lá no topo onde acontece, ser visualizado com “os olhos da alma”. O sensível onírico e a alma, atenta e de olhos bem abertos. Uma operação desenvolvida com os sentidos interiores, os da sensibilidade. A poesia, diz, “é uma coisa de alma”, é “um assunto de transcendência, sempre relativamente velado”, “um assunto de energia da alma” (Pierre Emmanuel). Sempre a alma e o mistério nesse vasto e oculto mundo interior que exige à poesia um atento olhar anímico e sensível.
A poesia é “aglutinação” das “massas psíquicas”, de estados interiores magmáticos, do fervilhar de fragmentos dispersos de memória, de nostalgia, quentes de estados não resolvidos, de perdas e desencontros, mas também de expectativas em face do poder que a poesia tem de tocar a alma do ser a que se dirige – de tudo isto, sim, mas numa unidade superior e numa toada sensível capaz de tocar em profundidade a sensibilidade.
V.
“Chose de beauté”, a poesia é canto que não se confunde com a própria oralidade e, por isso, muito menos se esgota nela, mas também não se identifica com a prosa escrita, embora use os mesmos meios, as palavras, o que faz, todavia, em registo minimal e em toada melódica. A poesia é canto que aspira a ser partilhado com seres psíquicos que andam por ali, nesse território, através do belo, que, nela, é resolução, libertação, apaziguamento de memórias quentes ou mesmo febris que vêm à tona, porque (segundo Baudelaire) ele, o belo, “tem uma força de integração total”, isto é, pode “engrandecer tudo aquilo em que toque” (1982: 9-10, 14). E é por isso que o livro começa com a citação de uma frase de Elisabeth Browning: “O poeta é aquele que diz as coisas essenciais”, para depois se referir à poesia como “a arte mais soberana e a mais misteriosa” (1982: 7). É por isso também que “o ‘pequeno veículo’ da Poesia transporta consigo os pesos mais pesados: ele torna-se tanto mais precioso para o amor e a justiça quanto mais o carro mecânico da iniquidade mundial engrossar” (1982: 53). Ela não desempenha papéis práticos ou de natureza utilitária, é verdade, mas como função da alma e veículo interior do amor cobre um raio de influência que acaba por se revelar essencial para promover a libertação e o apaziguamento dos seres sensíveis ao seu canto. Pelo menos desses.
VI.
CONCLUO, citando palavras de Jouve, em 1940 (tempo de guerra):
“Je proclame en ce lieu l’espoir, de sous la terre / Où tous mes frères inouïs sont ressemblés / Quand les faces convulsées de mort sont sur la terre…”
E duas estrofes do seu poema “Hymne”:
“Toujours je mangerai ton bien / Toujours je connaitrai ton centre / Toujours je verrai ton oeil peint / E j’aurai ta présence absente…
// La beauté traverse le temps / Le silence conquiert une arme / Je suis depuis longtemps ton sang / Ta pensée unie et ta flamme.” (1982: 53 e 57).
VII. REFERÊNCIAS
JOUVE, P. J. (1982). Apologie du Poète. Cognac: Le Temps Qu’il Fait.
SANTOS, J. A. (2022). “PESSOA REVISITED. Nova Versão revista e aumentada. A propósito de “Pessoa. Uma biografia de Richard Zenith”. In joaodealmeidasantos.com/Artigos-Ensaios, 12 de Outubro de 2022, Ponto IX.

O DISCURSO DOS POPULISTAS
Por João de Almeida Santos
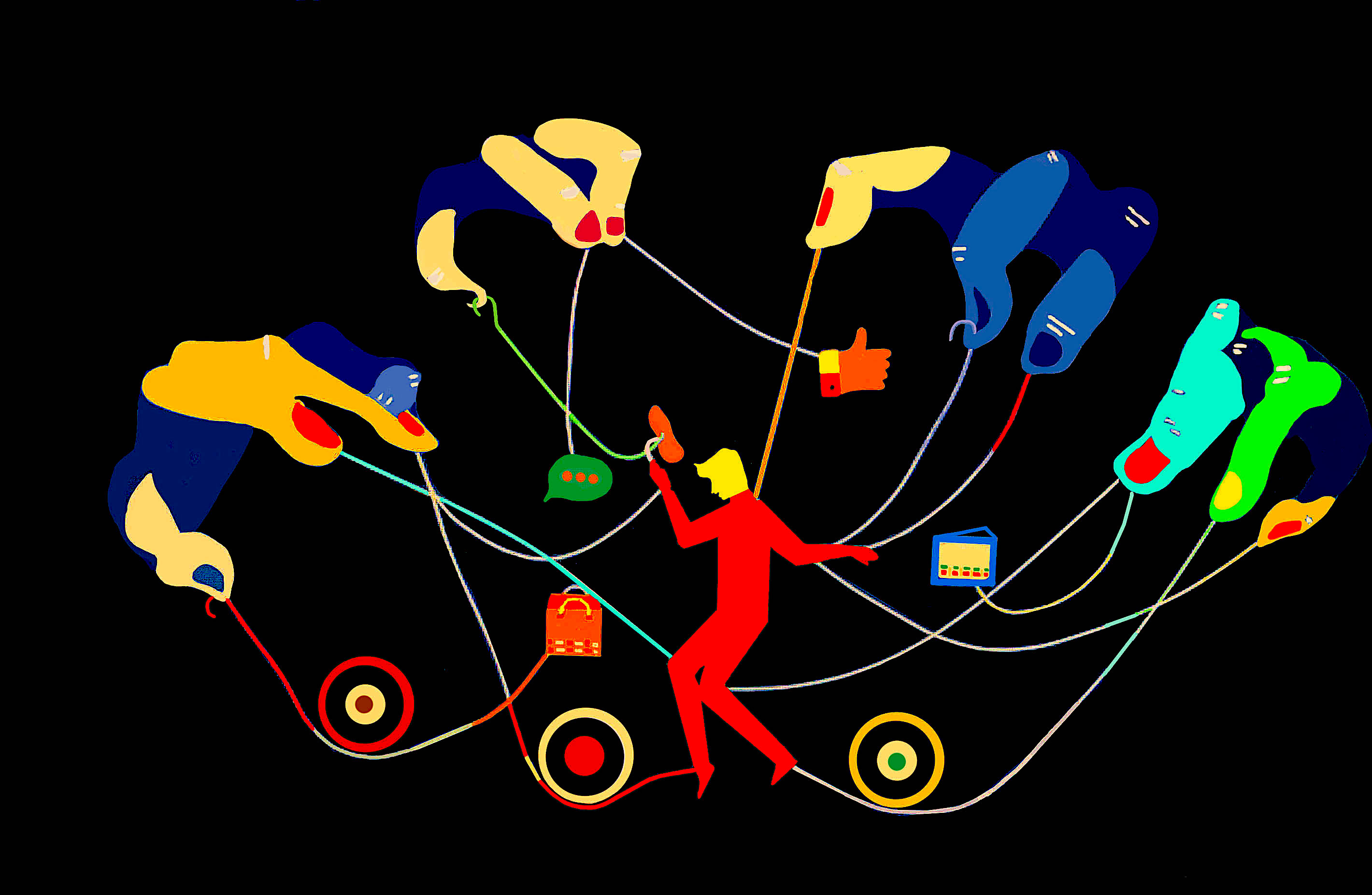
“S/Título”. JAS. 12-2022
É UMA PALAVRA muito gasta, esta – populismo. Como a palavra “neoliberal” ou a palavra “resiliência”. Já cansa ouvi-las. Não há conversa que as não use. A dúvida é se quem as usa sabe exactamente o que está a dizer. Hoje é da palavra populismo que me ocupo. Não para fins historiográficos, mas para fins de análise política e comunicacional. Um contributo para pensar melhor a política, nos dias de hoje.
I.
O POPULISMO nasceu na Rússia, à esquerda, na segunda metade do século XIX, e procurava dar voz ao campesinato e às suas formas organizacionais, os muziks e a obshina. Achavam eles que a Rússia não tinha de seguir a via da industrialização e que o progresso poderia acontecer com a civilização rural, desde que se suprimissem as formas de dominação imperial e se criasse novas formas de organização social e de legitimação política. O que se seguiu na Rússia, a seguir à segunda “Terra e Liberdade” (1876), é conhecido – a social-democracia russa, a Grande Guerra e a revolução da Outubro, com a instalação no poder do sistema soviético, afinal, mais poder do Estado do que poder dos sovietes (1). Entretanto, e fruto da Guerra e da revolução de Outubro, nasceram na Europa movimentos populares de direita e de esquerda com forte capacidade política, uns contra a revolução soviética e os seus efeitos na geografia política europeia, outros a favor. Os partidos comunistas, por exemplo, o português e o italiano, nasceram em 1921. Todos eles reivindicando-se do povo contra as elites no poder, designadamente as elites liberais. De facto, o populismo é antiliberal, seja ele de esquerda ou de direita.
II.
MAS QUE POVO É ESTE? De que povo se reivindicavam uns e outros? Uma coisa é certa e tem razão François Furet, no seu belíssimo livro O Passado de uma Ilusão, quando diz que a Grande Guerra deu origem à entrada das massas na política. Ortega e Gasset, em “A Rebelião das Massas”, na segunda metade dos anos vinte, vai no mesmo sentido (2). E, em geral, os partidos radicais de direita e de esquerda é também dessa realidade que se ocupam – organizar as massas em torno de uma grande narrativa mobilizadora (a classe, a raça, a nação). Na verdade, a maioria dos regimes que tinham, até então, a responsabilidade de governar a Europa em crise eram regimes liberais, monarquias constitucionais, regimes de elite, onde poucos eram os que votavam e muito menos os que chegavam ao poder. Ou seja, eram regimes censitários, tendo o sufrágio universal sido lentamente adoptado ao longo no século XX. Havia sistemas representativos, não havia democracias representativas.
III.
O MUNDO posterior à Grande Guerra inaugura uma nova era política, dando origem a dois populismos, um de direita e o outro de esquerda. Ambos falavam em nome do povo e contra as elites. Ambos eram anti-liberais. Mas, repito, que povo era este? À esquerda, o povo dos oprimidos, “les damnés de la terre”, para usar a feliz expressão do Frantz Fanon (título da sua famosa obra de 1961), os proletários e os camponeses. À direita, o povo-nação a quem as elites, diziam, tinham subtraído o poder soberano. Só que, na verdade, a ideia de povo nunca está muito bem definida. Para a esquerda, há sempre os dominadores, que não são considerados povo, e há também outras faixas que não o são, mas que também são consideradas como não sendo propriamente povo. Aqui o povo está identificado com o conjunto das classes subalternas, com os explorados, os oprimidos. Em geral, o povo é um conjunto indeterminado de indivíduos (plêthos, um dos significados de dêmos) num determinado território, dentro de determinadas fronteiras. Mas, em sentido político, a noção estreita-se. Na Grécia antiga, fora da ideia de povo (dêmos, -ou), no seu sentido político, enquanto conjunto de cidadãos (polítai), estavam as mulheres, os escravos e os estrangeiros, embora a palavra grega tenha, em geral, uma ampla extensão semântica: país, comunidade, território, povo, em contraposição a notáveis, multidão (Dicionário grego-italiano Gemoll). Na verdade, o povo confundia-se com os membros da cidade com direito de pronúncia sobre os assuntos comuns – a Ecclêsía -, mas não era propriamente um conceito jurídico, como, segundo algumas interpretações, viria a acontecer em Roma com o termo “populus” (populus, plebs, plethos, multitudo – palavras usadas para designar os membros da cidade), mas um conjunto de pessoas físicas. Na verdade, o que em Roma parece ter existido como populus era uma colectividade de cidadãos titulares de direitos. Populus romano, cives romanos, os que possuem cidadania romana, com os respectivos direitos. A questão que se põe reside em saber se populus é o conjunto dos cidadãos titulares individuais de direitos (Jhering) ou é já uma entidade colectiva abstracta (como o Estado, sujeito de direito em si), titular de direito (e lugar de soberania) superior aos cidadãos singulares. Como quer que seja parece haver um real avanço na integração política do populus, do povo, entendido, na maior parte das interpretações, como o conjunto dos cidadãos titulares de direitos (a pluralidade dos cives), independentemente de também poder ser considerado ou interpretado como parte do sistema de poder romano (os magistrados, o Senado e o povo), de ser lugar de soberania e de se identificar com a própria ideia de Estado. A verdade é que a noção de povo, no sentido político, continuou a ser muito indeterminada.
IV.
NA ÉPOCA LIBERAL, dessa noção política continuavam excluídas as mulheres e os que não podiam exibir determinados rendimentos – veja-se, por exemplo, a 19.ª Emenda da Constituição americana, de 1920, e a distinção entre cidadãos activos e cidadãos passivos na Constituição francesa de 1791. Na óptica marxista e dos partidos comunistas, o povo está identificado com as classes subalternas, por oposição à classe dominante, a detentora do capital e dos meios de produção. No meio estava a indefinida pequena burguesia. Nos movimentos de massas do pós-Grande Guerra a ideia de povo é mais indiferenciada, mas em geral identifica-se, por um lado, com as massas e, por outro, com a ideia de nação. Nas democracias de matriz liberal que se regem pelo sufrágio universal o povo é constituído por todos aqueles que votam, excluindo apenas os que, afinal, são tutelados por estes, isto é, os menores de idade, que não votam. A noção política de povo tem variado, pois, na história e é entendida diferentemente pelas diferentes ideologias políticas. Na verdade, o correlato político, o outro lado do povo, mais definido, é o próprio Estado. Poder-se-ia dizer que é a condição de configuração como Estado que identifica o povo como entidade política. O povo político, a cidadania. Mas a verdade é que, enquanto tal, e mesmo no sentido político, a noção de povo não pode ser considerada unívoca e, assim, ser elevada a conceito. Quando muito é uma noção ou uma ideia um pouco vaga. E, todavia, tem sido uma ideia generalizadamente utilizada no discurso político, à direita e à esquerda. É uma ideia genérica que tem servido para muitos e diferentes fins políticos. Designadamente para o populismo.
V.
O QUE É, POIS, O POPULISMO, lá onde o povo é simultaneamente fonte de legitimidade e destinatário do discurso e da respectiva política? Em qualquer caso, o populismo postula um regresso à fonte primária da legitimidade e promove a crítica das instâncias de intermediação na gestão do poder. É um retorno às origens através de uma recondução mais directa do poder ao soberano primário, esse povo, feita mais através da personalização do que de mecanismos quantitativos de medida do consenso e da própria representação política. Back to the basics. Por isso, o seu modelo ideal é mais a democracia directa do que a democracia representativa. Nele, a soberania reside no povo e não tanto, como quer a generalidade das constituições liberais, na nação. No essencial, o que esta posição critica é a separação de quem exerce o poder da fonte originária da sua própria legitimidade, ou seja, o domínio da burocracia e a prática generalizada da reprodução no poder por via endogâmica. As duas faces de uma mesma moeda. A personalização classicamente assumiu a forma do carisma num chefe oracular capaz de interpretar não só o sentimento popular, mas também os desígnios da história, quer seja por inspiração oracular quer seja por interpretação (científica) da verdade histórica. Isto aconteceu na era das grandes narrativas, que teve a sua época de ouro no período entre-guerras: fascismo, nacional-socialismo, comunismo – Duce, Caudillo, Fuehrer, Secretário-Geral. Em Portugal o líder, Oliveira Salazar, não tinha uma designação específica, era simplesmente conhecido como “O Botas”.
VI.
DURANTE MAIS DE SETE DÉCADAS, no pós-Segunda Guerra, assistimos, primeiro, a um mundo bipolar (político, ideológico, estratégico e económico) e, depois, ao aparente triunfo universal da democracia representativa (o chamado fim da história, de Fukuyama), com a queda do sistema socialista, à excepção do sistema chinês, que, mantendo o seu sistema político intacto, todavia, iniciou um percurso de superação da economia de plano a caminho de uma economia de mercado, com expansão mundial. O que, entretanto, se começou a verificar do lado de cá, com a crise da representação e dos partidos da alternância, foi a irrupção de tendências nacional-populistas (sobretudo de direita) com forte capacidade de afirmação política institucional, quer nos Estados Unidos (com a vitória e a presidência de Donald Trump) quer na Europa, com Viktor Orbán, na Hungria, Jaroslaw Kaczynski, na Polónia, Marine Le Pen, na França, os Brexiters, na Inglaterra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Beppe Grillo, em Itália. Este último representante de um populismo de novo tipo, mas que se distanciava ostensivamente da clássica tópica esquerda-direita. Sim, o fracassado M5S (pelo menos na sua forma original, uma vez que está a recuperar com uma nova identidade sob a liderança de Giuseppe Conte: 16,7%) inaugurou, de forma bastante exuberante, uma nova era no populismo sob a forma de neopopulismo digital (3). Mas neopopulismo digital é também aquele que, silenciosamente, praticam, na rede, os nacional-populistas de Steve Bannon, como já se viu.
VII.
O QUE NO POPULISMO MUDOU em relação à sua forma original, foi não só a sua base de apoio (deixou de ser rural), mas também a forma política que os movimentos populistas adoptaram, aceitando a democracia representativa, mas transformando-a internamente para instalar o seu sistema de poder (4). No caso do M5S tratou-se de um neopopulismo cujo povo se identificava com os users da plataforma digital Rousseau e, mais em geral, com o povo da rede. Nos outros casos, a base foi o soberanismo, o que mais se identificava com o sentimento nacionalista e, em particular, o que, em nome da segurança física e da segurança dos postos de trabalho, se manifestava intensamente contra a ameaçadora imigração, contra o outro, contra o invasor. Este sentimento parece ter prevalecido, por exemplo, no BREXIT. Um povo que cresceu muito com a onda gigante dos fenómenos migratórios resultantes da crise do grande Médio Oriente (Iraque e Síria). Mas é evidente que, com este fenómeno, com a crise da representação e com o gigantesco crescimento do povo da rede e, em particular, o povo das redes sociais, algo mudou em profundidade e está a mudar neste panorama. É certo que a ideia de “democracia do público”, centrada no império dos media na formatação da opinião pública, continua a manter a sua validade, mas também é verdade que, como diz Castells, com a rede está a emergir uma nova democracia de cidadãos centrada naquilo que ele designa por “mass-self communication”, comunicação individual de massas (Castells, 2007), também ela sujeita ao perigo de um processo de instrumentalização personalizada, como se viu nos casos do Brexit e da candidatura de Donald Trump, onde a Cambridge Analytica orientada pelo seu vice-presidente, Steve Bannon, condicionou fortemente e com sucesso o eleitorado em ambos os países (veja a este respeito o ensaio de Cadwalladr & Graham-Harrison, 2018). Se este terreno torna possível evoluir da democracia representativa para a democracia deliberativa, ele também é terreno muito favorável à intervenção do nacional-populismo através da injunção directa sobre os eleitores singulares nesse imenso campo silencioso, ou espaço intermédio, da rede. E isto não é futurologia, porque já foi feito com sucesso, continua e continuará a ser feito.
VIII.
É ESTE O TERRENO em que os novos populistas têm estado a intervir com maior sucesso do que as forças políticas moderadas. E é este o campo do seu discurso. A democracia clássica ainda não evoluiu para a democracia deliberativa porque os que mais deviam fazer por ela estão como que paralisados numa gestão asséptica do poder. Esta, de resto, é a única que pode resolver os problemas estruturais do modelo clássico da democracia representativa, mas a direita radical compreendeu melhor a nova configuração das sociedades contemporâneas e os seus temas fracturantes, incluídos os que hoje são representados pela ideologia woke (5), estando a gerir com inteligência o seu discurso e a adaptar com grande eficácia os mecanismos centrais do sistema representativo aos seus desígnios, alterando os seus equilíbrios internos. O caso de Viktor Orbán é exemplar. O caso da Cambridge Analytica também. Mas exemplar foi também a experiência do M5S quando, em menos de dez anos (entre 2009 e 2018), consegue elevar o seu score eleitoral a quase 33 por cento do eleitorado italiano. A que acresce ainda a experiência da LEGA de Matteo Salvini, que, explorando à exaustão o tema da imigração, chegou a atingir, nas europeias de 2019, cerca de 34 por cento do eleitorado. E ainda os Fratelli d’Italia que, em quatro anos, passam de pouco mais de 4 por cento para cerca de 26 por cento, estando hoje, já no governo, a crescer (média nas seis sondagens mais recentes: 28,5 por cento), enquanto o centro-esquerda e o centro-direita definham a olhos vistos (PD: 17 por cento).
IX.
ESTA É A REALIDADE que o centro-esquerda e o centro-direita teimam em não ver, pondo em risco uma conquista da civilização ocidental que, por entre avanços e recuos, levou mais de dois séculos a amadurecer para chegar a níveis de desenvolvimento civilizacional verdadeiramente notáveis. O populismo está na ordem do dia, tem como adversário histórico o liberalismo e como adversário político conjuntural e directo a ideologia e a política woke, que, de resto, para efeitos de combate identifica instrumentalmente com aquela doutrina, apesar da diferença matricial que as separa. Os italianos têm um expressão que se aplica eficazmente a este truque da direita radical: “fare di tutta l’erba un fascio”, meter tudo no mesmo saco para tornar o combate mais eficaz e aceitável, conhecendo muito bem o laxismo das forças moderadas, que se estão a deixar vergonhosamente infiltrar ou mesmo dominar por esta pretensa “nova esquerda” progressista e revisionista de largo espectro. Cabe, pois, aos defensores da democracia representativa e da matriz da nossa própria civilização acordarem, sim, acordarem para uma realidade que é por demais evidente, procurando repor uma hegemonia que está a ser tão tristemente perdida pelas piores razões. Mas não tenho grandes ilusões acerca de um combate para o qual parece não estarem realmente preparados.
X.
1. REFERÊNCIAS
CADWALLADR, C., & GRAHAM-HARRISON, E. (2018). “The Cambridge Analytica Files”. In The Guardian. Consultado a 17 de março de 2019, em https:// http://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files.
CASTELLS, Manuel (2007). “Communication, Power and Counter-power in the Network Society”, in International Journal of Communication, n. º1 (2007), pp. 238-266.
CERRONI, U. (1965). Le Origini del Socialismo in Russia. Roma: Riuniti.
FURET, F. (1995). Le Passé d’une Illusion: Essai sur l’idée communiste au XXème Siècle. Paris: Éditions Robert Laffont/Calmann Lévy.
ORTEGA Y GASSET (1930). La Rebelión de las Masas. Ciudad del México: La Guillotina.
SARTORI, G. (2009). La Democracia em 30 Lecciones. Madrid: Taurus.
2. NOTAS
(1). Há um livro belíssimo de Umberto Cerroni sobre As Origens do Socialismo na Rússia que desenvolve este tema (Roma, Riuniti, 1965).
(2). Veja, para ambas as referências, neste site, o meu artigo de 15.11.2022 sobre o PCP (“PCP – O Nome e a Coisa”), em particular as citações de Ortega y Gasset.
(3). Para uma melhor compreensão do MoVimento5Stelle veja o meu ensaio em ResPublica, 17/2017, pp. 51-78.
(4). Veja aqui, neste site, o meu recente artigo sobre “A Democracia Iliberal”, de 07.11.2022
(5). Veja aqui, neste site, o meu recente ensaio “WOKE”, de 14.12.2022, sobre esta ideologia.
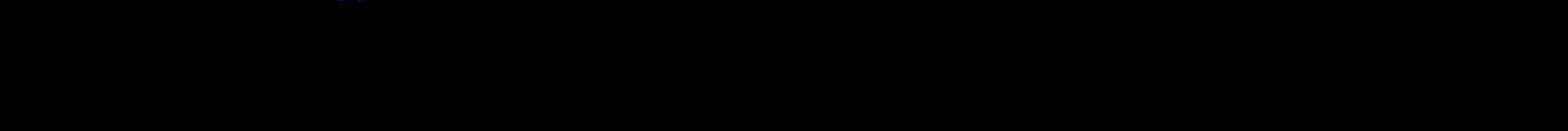
WOKE
Por João de Almeida Santos
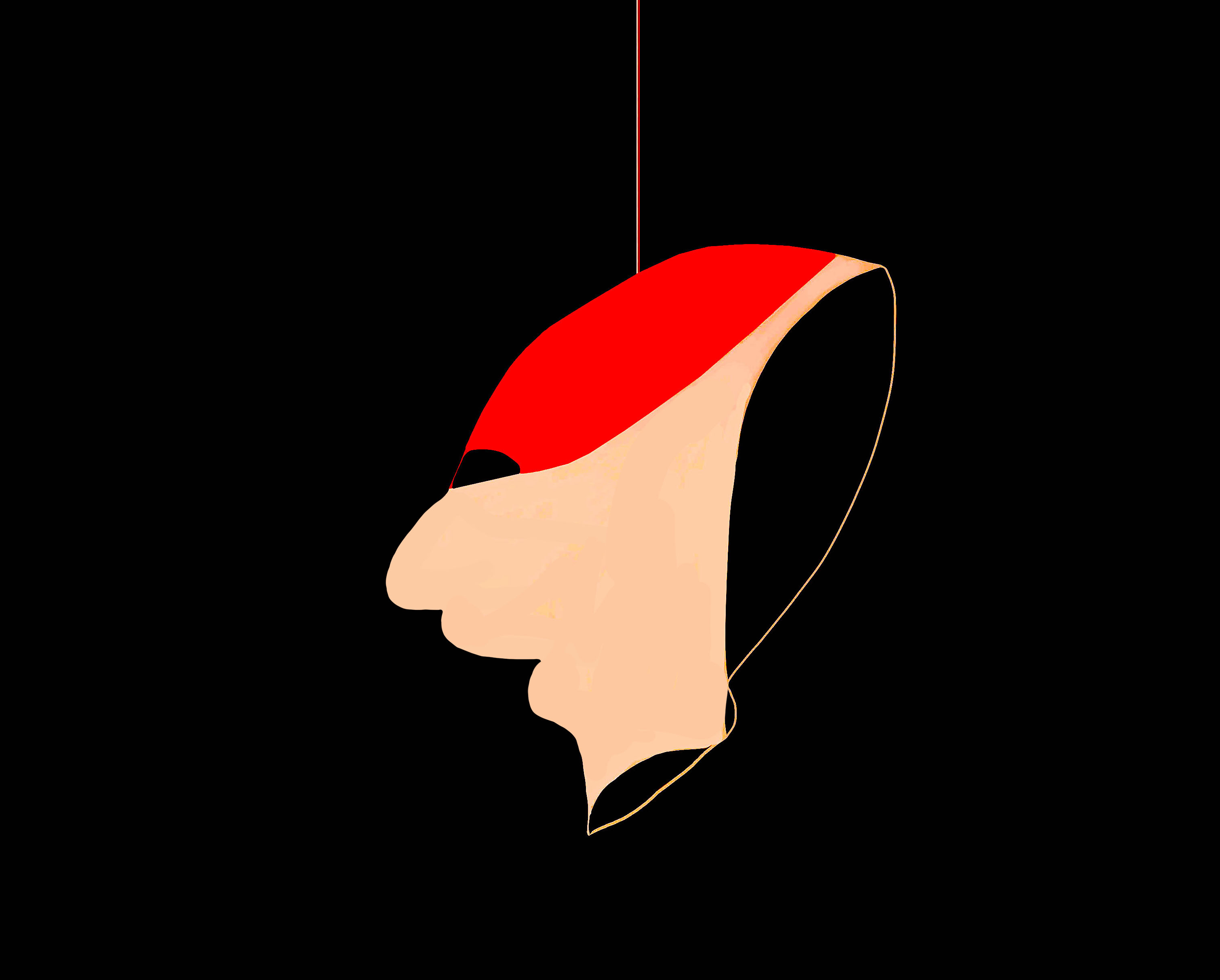
“Woke”. JAS. 12-2022
WOKE. A ideologia woke o que é? É uma ideologia? Sim, é, e tem todas as características de uma ideologia: uma visão parcial da realidade que aspira a tornar-se norma de comportamento universal, invertendo a ordem das coisas. Etimologicamente, deriva de wake, woken (acordar, acordado). E há duas referências que importa assinalar: o famoso artigo de William Melvin Kelley no New York Times, em Maio de 1962, “You’re woke, dig it” e o activismo do movimento Black Lives Matter. Segundo Juan Meseguer, este movimento “combate a injustiça social, mas também tudo aquilo que considera fonte de opressão: a heteronormatividade, o ‘privilégio cisgénero’, o modelo da família nuclear, o capitalismo, etc.” (Meseguer, 2022). A ideologia wokerefere-se, pois, à injustiça racial e social, podendo-se mesmo entendê-la como uma vasta moldura que integra a política identitária, o politicamente correcto, a famosa teoria crítica da raça e, em geral, a luta contra a discriminação de género, racial e de orientação sexual. A ideologia woke é protagonizada por uma certa esquerda de elite e de um bom nível económico. Não representa necessariamente, do ponto de vista sociológico, os grupos sociais a que se aplica. É uma ideologia de vanguarda e tem todas as características de uma ideologia: apresenta-se como uma mundividência com valor universal, apesar de ela própria combater o universalismo. Sim, a ideologia woke, a que nos diz para estarmos acordados, atentos, congrega a política identitária, a ideologia de género, o antirracismo radical, o revisionismo histórico, o politicamente correcto, a cultura do cancelamento, o triunfalismo e o orgulho LGBT, o maximalismo da velha teoria da diferença sexual (tão em voga em Itália nos anos oitenta), o multiculturalismo radical. É forte no mundo universitário e já penetrou em importantes instituições nacionais e internacionais. Identifica-se como a nova esquerda e, mais uma vez, o seu adversário histórico é o liberalismo. O mesmo que, curiosamente, é também o adversário histórico da direita radical. A história repete-se mais do que parece, como veremos.
1.
COM CERTEZA que devemos estar atentos às injustiças raciais, sociais e de género, mas também devemos estar atentos às próprias formas de combate, seja à esquerda seja à direita. E esta é a razão por que escrevo este pequeno Ensaio. Sim, atentos desde que estar atento não signifique partilhar formas absolutas de intolerância que ponham em causa o universalismo que integra a matriz da nossa civilização, fonte de tantos e reconhecidos progressos civilizacionais, provavelmente os maiores que o mundo alcançou até hoje, e que promovam uma lógica de antagonismo radical, sucedânea da luta de classes, como lei fundamental da sociedade. Porque é disso que se trata. Na verdade, a matriz da nossa civilização acolhe a diferença e procura integrá-la, exprimindo-a em cartas universais de princípios que são já património mundial: a Declaração do Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2000-2009. E esta matriz não é mesmo compatível com formas de policiamento da linguagem e do pensamento, com a intolerância moral e histórica, com a dialéctica negativa amigo-inimigo como lei fundamental da realidade societária, com o cancelamento da temporalidade histórica e a absolutização do presente como norma selectiva do passado, com a fragmentação identitária da sociedade ou com o neocorporativismo orgânico, disfarçado de religião da igualdade.
2.
O COMBATE WOKE ao universalismo de matriz liberal é uma discriminante fundamental que precisa de ser clarificada. Pelas razões que Juan Meseguer evidencia de forma muito clara e correcta:
“Nos anos oitenta, um grupo de juristas jovens retomaram a preocupaçãp de Derrick Bell (…) para demonstrar como o Direito servia para mascarar o ‘racismo sistémico’ ou ‘institucional’ (…) Inspirando-se na teoria crítica da Escola de Frankfurt, de orientação neomarxista, estes juristas propõem o estudo crítico do Direito e tentam demonstrar como a moldura jurídica da democracia liberal joga a favor da ‘hegemonia branca’ através de ideias como o Estado de direito, a objectividade da lei, a neutralidade do Estado ou o mérito” (Meseguer, 2022).
Ora aqui está uma boa formulação do problema: um claro desafio aos fundamentos da ordem liberal. A mesma que está na matriz da nossa ordem civilizacional. Mas esta visão não é nova. Já os românticos os combateram, ao combaterem o iluminismo, o liberalismo e o legado da Revolução Francesa. É famosa a afirmação de Joseph de Maistre, nas Considerações sobre França, de 1797, sobre este legado: “A constituição de 1795, como em todas as suas predecessoras, é feita para o homem. Ora não existe homem no mundo. Vi na minha vida Franceses, Italianos, Russos, etc.; até sei, graças a Montesquieu, que é possível ser persa; mas, quanto ao homem, declaro que nunca o encontrei na minha vida; a não ser que exista sem que eu saiba” (De Maistre, 1829: 94). E de que falam estas constituições? De direitos do homem. Em comentário a esta posição, Karl Mannheim, no seu excelente Conservative Thought, junta-lhe, depois, uma afirmação vinda da esquerda, de Marx, na Introdução à Crítica da Filosofia Hegeliana do Direito: “Mas o homem não é um ser abstracto, aninhado fora do mundo” (“Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, ausser der Welt hockendes Wesen”, Marx, 1981, I, 378). Há nesta posição uma evidente identidade entre os conservadores e a esquerda marxista, de resto já assinalada por Mannheim na obra que referi: a recusa do homem abstracto, político, artificial, alegórico, sob forma de cidadão (por exemplo, em Sobre a Questão Hebraica, 1981, I, 369-370). Com efeito, Marx, na Kritik des Hegelschen Staatsrechts e em Zur Judenfrage, desenvolve uma crítica estrutural quer do Estado representativo, como formulado por Hegel nos Princípios de Filosofia do Direito (1976), quer dessa universalidade abstracta e irreal do cidadão. No fundo, o que ele diz é que esta universalidade irreal(unwirkliche Allgemeinheit) e abstracta aprofunda a separação, o fosso entre o cidadão (Staatsbuerger) e o homem concreto e privado (Lebendigen Individuum), permitindo que as desigualdades efectivas se intensifiquem e reproduzam na sociedade civil, no lugar próprio do homem privado e egoísta, legitimando e preservando, deste modo, a ordem instalada. Esta universalidade abstracta fora teorizada pelos contratualistas e, depois, embora de forma diferente, precisamente por Hegel, naquela obra. Ora é precisamente por aqui que, consciente ou inconscientemente (com ou sem Harvard a legitimá-los cientificamente), navegam os identitários, embora alargando a esfera das identidades ou dos sujeitos históricos para além do indivíduo concreto ou da classe social, por exemplo, à mulher ou à raça, enquanto comunidades. Mas há mais. Em relação à universalidade do direito, desenvolveu-se mesmo uma doutrina marxista do direito (o chamado direito soviético) que reconduz o ordenamento normativo à classe dominante. Falo de Pashukanis, de Stuchka e de Vishynsky, entre outros, este último o famoso procurador-geral de Stalin. O que diziam eles? Que o direito é de classe, não universal. Ou burguês ou operário e socialista. Mas de classe. Um identitarismo de classe, aqui não de raça ou de género, mas mais geral e abstracto, no qual assentaria a redenção futura do ser humano, através da reapropriação da sua identidade, através da reabsorção daquele cidadão abstracto no ser humano concreto e emancipado, enquanto tal (na sociedade sem classes), promovida por este sujeito histórico axialmente centrado na verdadeira linha evolutiva da história, a classe operária. Esta posição está muito bem exposta no famoso livro de Lukács, História e Consciência de Classe, de 1923. Todos os teóricos do direito soviético consideram que a universalidade do direito é uma ficção para mascarar o efectivo domínio de classe (independentemente das discussões que houve sobre saber se o direito era, ou não, um ordenamento normativo). Posição que viria a ser totalmente refutada nos anos cinquenta por Hans Kelsen no célebre livro sobre A Teoria Comunista do Direito (Kelsen, 1981). O que daqui resultou foi que o sujeito da história era uma classe, uma concreta identidade, que se afirmaria por supressão de outra identidade (a burguesia), no interior de uma dialéctica negativa (a da luta de classes).
3.
POR QUE RAZÃO falo disto? Porque a política identitária também nega esta universalidade,considerando-a fictícia, enganosa e instrumental, em nome da verdade que se exprime nas diversas identidades que compõem o corpo social, sejam elas de género, étnicas ou de orientação sexual. O facto é que, segundo Kelsen ou Bobbio, o direito (e para além do conteúdo concreto das normas) tanto pode ser válido numa formação social capitalista como socialista, precisamente porque não é de classe nem pode ser identificado com um sujeito histórico em particular. Mas a sociedade, contrapõem os identitários, como já o fizeram os marxistas, não se resolve na abstracção normativa, que cobre o real domínio de uma raça sobre outra ou de um género sobre outro, tornando-se necessário promover uma viragem que ponha no centro do discurso as identidades sufocadas por essa ficção da universalidade abstracta da lei ao serviço do domínio dos mesmos de sempre (brancos e homens). E a linguagem torna-se, por isso mesmo, decisiva, sendo imperativo e urgente proceder à sua revisão institucional para a corrigir e a tornar politicamente correcta. O mesmo vale para a história, que conta a longa dominação de uns pelos outros, tornando-se necessário proceder também à sua revisão institucional e ao cancelamento dos seus símbolos mais odiosos, aos seus testemunhos de rua, de praça ou de museu, nas cidades por esse mundo fora (revisionismo histórico). É, pois, também urgente e necessário reconhecer as sociedades como realidades multiculturais integradas por identidades ou sujeitos irredutíveis ao velho universalismo abstracto, irreal e artificial. Esta ideologia woke é animada por um revanchismo histórico que põe no centro do discurso as diversas identidades, anulando a sua pertença a uma dimensão integradora e comum, logo, universal. O Estado e o direito têm essa dimensão e, por isso, falam esta linguagem. O direito, por exemplo: a lei é geral e abstracta. É essa a regra e não a excepção, ao contrário do que dizem os identitários e os apóstolos da ideologia woke. Precisamente porque quer o Estado quer o direito são universais e constituem a unidade da diversidade, o uno do múltiplo, o comum do diferente, tornando assim possível a promoção da intercambialidade entre aquilo que é diferente, entre as diferentes identidades, partilhando e participando no que é comum. E é comum enquanto forma reguladora das relações sociais (independentemente do conteúdo concreto da norma). Pelo contrário, elevar a diferença a norma significa torná-la irredutível, convertendo, deste modo, a lei social em dialéctica do conflito por falta de terreno comum para a partilha e a composição de interesses e valores. Alguém disse, e com razão, que as identidades não são negociáveis e por isso a sua lei é a do conflito permanente (Patrícia Fernandes; Fernandes, 2022). A narrativa contratualista sobre o Estado e sobre o direito (centrada na ideia de interesse) ou a sua conceptualização hegeliana (centrada numa exigência lógica) tinham precisamente este objectivo: resolver superiormente a guerra de todos contra todos, dando unidade à diversidade caótica da sociedade civil. É precisamente esta unidade que torna possível a afirmação livre e pacífica de todas as diferenças, a sua intercambiabilidade, o compromisso e a composição de interesses. Um terreno comum de negociação, portanto. E hoje este terreno comum até tem uma tradução constitucional, que se funda precisamente no património universal dos princípios constantes das cartas universais. Juergen Habermas, falando da União Europeia e das identidades nacionais que a integram, propôs um “Verfassungspatriotismus”, um “patriotismo constitucional” referido a um universo comum (a constituição) que torne possível a livre expressão de todas as identidades, nacionais, étnicas, regionais, de sexo, de língua, etc., etc. (Habermas, 1991: 132). Pelo contrário, a política identitária não tem chão comum, precisamente porque nega esta universalidade e afirma a primazia das identidades sobre a lógica e a unidade societária, ao identificá-la como pura máscara do domínio do homem branco e masculino sobre a raça negra e sobre a mulher ou sobre outras identidades. Como se só uma viragem, que antes se chamava revolução, pudesse acabar com esta evolução por inércia do domínio histórico de um sobre todos (homem e branco), através do artifício da pretensa universalidade. As identidades, sendo irredutíveis, inegociáveis e não intercambiáveis, por falta de um espaço comum, desencadeiam uma lógica que só pode ser a da dialéctica amigo-inimigo, a lógica do conflito radical que visa a aniquilação do outro, precisamente como se verificava com a luta de classes: a eliminação da burguesia. O universalismo encobre o domínio de uns sobre os outros e é nele que se centra a representação política, a passagem do particular para o universal, do indivíduo para o cidadão, da sociedade civil para o Estado e para o ordenamento jurídico. Acabar com um significa acabar com a outra, repondo a centralidade das múltiplas identidades como expressão orgânica ou corporativa de interesses e valores próprios. Entramos, assim numa lógica puramente corporativa que anula a representação e a individualidade singular e repõe a centralidade e a exclusividade da pertença comunitária. Não se vê deste modo como poderá falar-se de interesse geral e de vontade geral, uma vez que estes conceitos implicam um plano que só pode ser o de uma universalidade integrativa, que tem na constituição a sua carta expressiva, a única que, aliás, pode permitir uma pacífica dialéctica de identidades, com os seus interesses e valores, desde que no interior de um efectivo “patriotismo constitucional”.
4.
O QUE AQUI TEMOS, na ideologia woke, é, de facto, uma alteração substancial do sistema representativo ou mesmo a sua supressão: não há “representação política” do indivíduo singular, mas a projecção institucional da comunidade em que se integra (somente através dela a singularidade pode ser reconhecida), numa lógica corporativa ou de comissariado; não há “mandato não imperativo” porque este resulta de uma separação ou corte entre a génese do mandato e o mandato propriamente dito, como acontece no sistema representativo clássico; o mandato deixa de se referir à nação ou ao povo, mas sim à identidade, ao sujeito identitário, ou seja, não é universal, como o “mandato não imperativo”. Mesmo assim, coisa bem diferente era a classe como identidade ou sujeito, pois ela coincidia com a totalidade, ou seja, ocupava o eixo histórico evolutivo da história, como teorizado por Lukács na obra acima referida, não correspondendo a concretas determinações, como a de raça ou a de género, por exemplo, porque a classe podia integrar em si todas as determinações que hoje são diferenciadas como identidades ou sujeitos sociais comunitários. E só por isso a teoria podia postular que no fim as diferenças de classe iriam desaparecer, na “sociedade sem classes”. O que é de todo inconcebível com as identidades – por exemplo, a extinção dos géneros ou das raças. Estas são as consequências desta teoria elevada a modelo de sistema social, não contendo sequer alguns dos pressupostos que a teoria marxista podia apresentar, ao elevar a classe a sujeito histórico apontado ao futuro. Mas estas são características das chamadas teorias críticas, que mais não são do que puras ideologias de combate. E, por isso mesmo, elas devem ser combatidas com as armas da crítica, sim, mas também com as da democracia representativa.
5.
ESTA CONVERSA, como se vê, tem barbas e nada tem de original. E até possui menos coerência do que as suas antecessoras. O que foi (ou foram) e onde levou (ou levaram) todos sabemos. E onde levará, se a cavalgada da ideologia woke continuar, também todos sabemos. Os únicos que parece não saberem são os tradicionais partidos da alternância que já se deixaram infiltrar, à grande, por esta falsa esquerda pós-moderna que hoje se tornou o principal alimento do combate da direita radical, com os sucessos que todos lhe conhecemos. Se quisermos encontrar entre nós esta presença da linguagem “woke” basta ler alguns projectos de revisão constitucional que estão em debate parlamentar. Com uma agravante: a direita radical atribui esta mundividência a forças políticas que na sua matriz nada têm a ver com a ideologia woke ou a política identitária, mas que se deixaram seduzir por elas quando lhes faltou o conteúdo ideal que não souberam renovar ou que trocaram por um pragmatismo de governo axiologicamente asséptico e em molho “algebrótico”, como diria um psicanalista meu amigo, ao resumir, com uma só palavra, o linguajar exclusivo dos números e das estatísticas que a maior parte dos políticos exibe a propósito e a despropósito. As linhas de força deste universo problemático estão aí bem visíveis e se as forças moderadas que se reconhecem na matriz moderna do nosso quadro civilizacional não puserem cobro a esta cavalgada será a direita radical a promover o seu combate e a ganhar com isso fortes consensos eleitorais que continuarão a levá-la ao poder, como tem vindo a acontecer.
BIBLIOGRAFIA
CERRONI, U. (A cura di) (1964). Teorie Sovietiche del Diritto. Roma: Giuffrè.
DE MAISTRE, J. (1796; 1983). Considérations sur la France. In
FERNANDES, P. (2022). “A Viragem Identitária”. In “Observador”, 05.12.2022.
HABERMAS, J. (1991). “Cittadinanza e Identità Nazionale”. In Micromega 5/91, pp. 123-146.
HEGEL, G. H. (1821;1976). Grundlineen der Philosophie des Rechts. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp.
KELSEN, H. (1955;1981). La Teoria Comunista del Diritto. Milano: SUGARco.
MARX, K. (1843-44). Zur Judenfrage. In MEW (1981). Berlin: Dietz Verlag, I, pp. 347-377.
MARX, K. (1843). Kritik des Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In MEW (1981). Berlin: Dietz Verlag, I, pp. 378-391.
MARX, K (1843). Kritik des Hegelschen Staatsrechts. In MEW (1981). Berlin: Dietz Verlag, I, pp. 203-333.
MANNHEIM, (1953). Conservative Thought. In Essays on Sociology and Social Psychology. London: Routlkedge & Kegan, pp.74-164.
MESEGUER, J. (2022). “El gran despertar: Qué es y por qué importa la revuelta woke”. In Nueva Revista, 181, 21.07.2022: https://www.nuevarevista.net/el-gran-despertar-que-es-y-por-que-importa-la-revuelta-woke/.
SANTOS, J. A. (1986). O Princípio da Hegemonia em Gramsci. Lisboa: Vega, pp. 117-148.
SANTOS, J. A. (1999). Os Intelectuais e o Poder. Lisboa: Fenda, pp. 71-87.
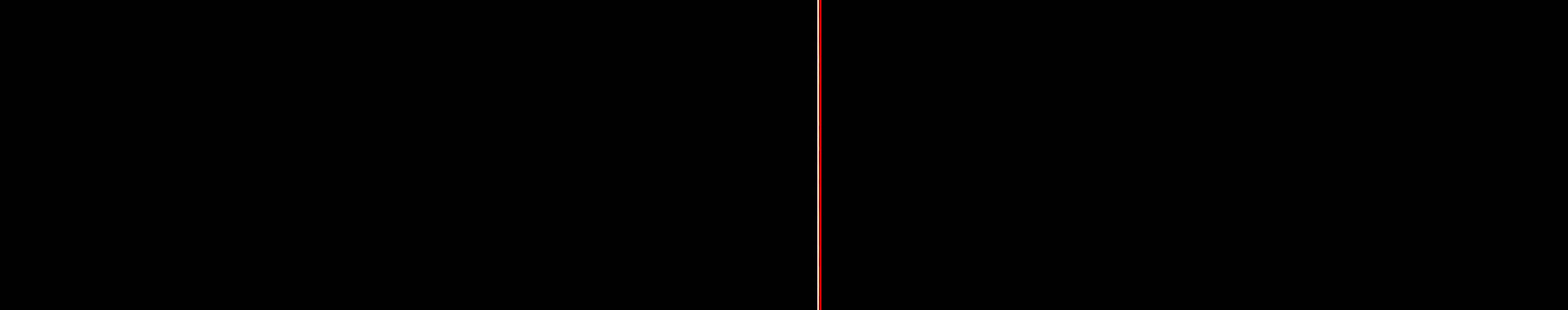
“A DEMOCRACIA ILIBERAL”
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 12-2022
TALVEZ O CONCEITO de “democracia iliberal” não seja, como parece, um oxímoro, porque há uma democracia que não é liberal: a democracia directa. Por exemplo, a que se exprime através dos referendos. De resto, ela até começou como democracia de assembleia, na Grécia – democracia não representativa, muito restrita nos direitos políticos (só os polítai participavam, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros) e onde a comunidade subsumia os indivíduos singulares, ao contrário do sistema representativo liberal que aponta para a centralidade do indivíduo singular: “um homem (literalmente), um voto” (veja a diferença no famoso discurso de Benjamin Constant no Ateneu Real de Paris, em 1819). Como diz Sartori, em “Elementos de Teoria Política”: para os gregos o homem identificava-se com o cidadão, e a cidade precedia-o: “era o polítes quem devia servir a polis, não a polis o polítes”. Pelo contrário, na moderna democracia representativa é o Estado que está ao serviço dos cidadãos, não os cidadãos ao serviço do Estado (2008, p. 40). Mas, verdadeiramente, não é esta a questão. A “democracia iliberal” mantém-se representativa, não propondo propriamente uma democracia directa, mas promove profundas distorções no sistema institucional. Por exemplo, lá onde o poder executivo se agiganta e sai fora das margens da separação dos poderes e dos princípios que animam a visão liberal do sistema representativo. Bom, o regime liberal no início nem era democrático e, portanto, não se identificava com a democracia, uma vez que era censitário e até proibia, com pena de prisão, a publicitação dos actos do poder legislativo, restringindo a liberdade e os direitos. É ver, por exemplo, o crime de breach of privilege para quem, no século XVIII, na Inglaterra, publicasse os debates parlamentares (veja o que diz Habermas no seu livro Strukturwandel der Oeffentlichkeit, de 1962). O que tínhamos no início da nossa modernidade era, na verdade, um sistema representativo, isso, sim, mas não uma democracia representativa, porque não havia sufrágio universal, mantendo-se muito limitado o número de cidadãos com direitos políticos e muito restrita a circulação de informação. Mas o sistema representativo e o Estado de direito, contra o regime do privilégio, foi um passo de gigante que haveria de ser completado com o sufrágio universal e com as cartas universais de direitos, uma logo em 1789, em França, e a outra em 1948.
I.
MAS QUEM VIU bem o problema que se insinua no conceito de “democracia iliberal”, já na primeira metade do século XIX, e previu esta possível evolução, foi Alexis de Tocqueville na sua magnífica obra “Da Democracia na América” (1835-1840), quando falou de “tirania da maioria” (Tocqueville, 2001). E é precisamente num sentido muito próximo do que, a este respeito, escreveu Tocqueville que se estão a desenvolver algumas experiências na própria União Europeia, por exemplo, na Hungria ou na Polónia. Por enquanto, não ainda em Itália. Só que o nome, agora, já não é o de “tirania da maioria”, mas o de “democracia iliberal”, a que alguns, seguindo mais de perto o caminho traçado por Tocqueville, também já designam por “autoritarismo maioritário” ou “maioritarismo extremo” (Thierry Chopin, Nadia Urbinati). Nadia Urbinati: “Il populismo al potere rende la democrazia un maggioritarismo estremo” (Anselmi, Blokker, Urbinati, 2018: 31). Não está em causa o sistema representativo, mas, sim, outras variáveis do sistema. E o pano de fundo é o “populismo de governo” (Pierre Rosanvallon) ou, mais em geral, o populismo ou o neopopulismo, devidamente mitigados ou acomodados à democracia representativa. Neopopulismo porque, em boa verdade, o populismo original nasce, à esquerda, na Rússia rural, precisamente como socialismo rural e tendo como seus primeiros inspiradores Herzen e Chernyshevski e como seus primeiros núcleos organizativos a primeira e a segunda “Terra e Liberdade” (constituídas, respectivamente, em 1861 e em 1876). Os seus referentes eram os camponeses pobres, os muziks, e a obschina (sobre este assunto veja o belo livro de Umberto Cerroni, Le origini del socialismo in Russia – Cerroni, 1965). Uma matriz bem diferente da que hoje inspira os novos populismos. Há experiências neopopulistas cujo “povo”, eminentemente urbano e economicamente confortável, é possuidor de uma boa literacia digital. O primeiro M5S, em Itália, de Beppe Crillo e Gianroberto Casaleggio, representava precisamente esse neopopulismo e dizia-se nem de direita nem de esquerda (o M5S actual, de Giuseppe Conte, já é outro). E há o plutopopulismo, o populismo dos ricos, de que Trump é o ícone máximo (“I am your voice”, terá dito, referindo-se aos americanos). O populismo moderno ganhou um rosto diferente daquele que era o seu nas origens. E este, o que anima a “democracia iliberal” ou o “autoritarismo maioritário”, também mudou de rosto ou mesmo de pele.
II.
O QUE DIZIA realmente Tocqueville? Vejamos algumas das formulações sobre o “despotismo da maioria”, a “tirania da maioria” ou a “omnipotência da maioria”, que constam da obra acima referida:
- «A omnipotência da maioria, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que favorece o despotismo legal do legislador, favorece também a arbitrariedade do magistrado», porque trata os cidadãos como seus súbditos (2001: 302-303; itálico meu).
- «Actualmente, e assim será ainda durante muitos anos, o perigo mais temível é a tirania dos legisladores» (2001: 309-310; itálico meu).
- «Não há monarca tão absoluto que consiga reunir nas suas mãos todas as forças da sociedade, eliminando resistências, como o pode fazer uma maioria revestida do direito de redigir as leis e de as pôr em prática». «A maioria (…) possui uma força a um tempo material e moral, que tanto age sobre as acções como sobre as vontades, e que impede a acção e, ao mesmo tempo, o desejo de a realizar» (2001: 303-304).
- «Na América, a maioria encerra o pensamento dentro de um círculo de ferro» e «a tirania(…) nas repúblicas democráticas (…) já não se ocupa do corpo; vai directamente à alma» (itálico meu).
- «Quando eclodiu a revolução americana (…) a opinião pública dirigia as vontades e não as tiranizava» (2001: 306; itálico meu).
- «Se algum dia se perder a liberdade na América, deveremos atribuí-lo à omnipotência da maioria, que terá conduzido as minorias ao desespero, obrigando-as a apelarem à força material. Encontraremos então a anarquia, mas ela chegará como consequência do despotismo» (2001: 309; itálico meu).
Tudo isto poderia ser resumido numa só formulação:
«quando sinto a mão do poder pesar-me na cabeça, pouco me interessa saber quem me oprime e não me sinto mais disposto a submeter-me ao jugo só pelo facto de ele me ser apresentado por um milhão de braços» (2001: 498).
Separação de poderes; forte afirmação do corpo de juristas, das leis e do poder judicial; comunidades locais fortes, com as suas associações, e uma imprensa local livre; igualdade de condições num território ilimitado, rico e pleno de oportunidades individuais; Estado federal, que conjuga e harmoniza a grande dimensão com a pequena; hábitos e costumes dos americanos, destacando-se dentre eles a religião.
São estes, para Tocqueville, os ingredientes cujo desenvolvimento pode impedir que venha a afirmar-se uma efectiva «tirania da maioria”.
Na verdade, é disto que se trata nas chamadas “democracias iliberais”: a criação de condições que possam permitir o domínio absoluto do executivo sobre todos os outros poderes, mantendo o sistema representativo (ainda que deformado).
III.
COMO PODEREMOS FORMULAR hoje a questão da «tirania da maioria»? Vejamos, com Giovanni Sartori, em Democrazia: Cosa è (2000: 93-96). Segundo ele, a «tirania da maioria» pode ser entendida em três sentidos: a) no sentido constitucional; b) no sentido eleitoral; e c) no sentido social.
No primeiro sentido, constitucional, consiste em violar os direitos das minorias, aplicando de forma absoluta o princípio maioritário. Portanto, quando não se verifica um exercício moderado ou limitado do princípio maioritário, estamos perante uma «tirania da maioria».
No segundo sentido, eleitoral, o que se verifica é uma espécie de «tirania dos números», uma vez que, não conseguindo eleger representantes, a minoria é institucionalmente eliminada. Este caso tem muito a ver com os sistemas eleitorais, designadamente, com a sua capacidade de dar maiores ou menores possibilidades às minorias de conseguirem eleger seus representantes. Sabemos que um sistema proporcional é, por isso, mais limitativo desta possibilidade de «tirania da maioria», no sentido eleitoral, do que um sistema maioritário, uma vez que está configurado para facilitar uma integração institucional proporcional das minorias e uma menor perda de votos para efeitos de contagem de mandatos. Tem defeitos, mas esta é uma sua vantagem.
No terceiro sentido, social, que é certamente aquele em que pensava Tocqueville, estamos perante o esmagamento da liberdade individual de pensamento perante a força do pensamento social maioritário, ou seja, perante uma espécie de opressão simbólica societária sobre o indivíduo. Para resolver esta distorção, o esforço deveria, por isso, ser dirigido não só à separação e autonomia recíproca dos poderes, à garantia de representação política das minorias, mas também à sua defesa, designadamente através dos instrumentos, muito americanos, associativos e dos poderes locais. Não é por acaso que Tocqueville valoriza tanto o associativismo quer político quer civil ou social. De facto, se a igualdade de condições tende a atomizar os indivíduos, uma vez que anula as «ordens» e as classes, libertando os indivíduos singulares dos vínculos orgânicos, também é verdade que, atomizando-os, os isola e lhes retira força social. Ora, só o associativismo pode recuperar a força que perderam, sobretudo se ele tiver uma sua forte expressão na imprensa, como seu cimento imaterial, como instrumento de ligação associativa metaterritorial e metapessoal. De outro modo, o indivíduo encontrar-se-á subjugado pelos ditames e tendências da maioria.
IV.
SABEMOS, aliás, que estas tendências têm vindo a ser reconhecidas no âmbito das teorias da comunicação, das chamadas teorias dos efeitos. Já em fins do século XIX Gabriel Tarde incorporava esta tendência nas suas leis da imitação. Mas ainda hoje, por exemplo, a teoria da «Espiral do silêncio» mais não é do que o reconhecimento do poder condicionante da opinião maioritária sobre o indivíduo singular e dos seus efeitos políticos e sociais. Imaginemos, agora, que esta maioria absoluta é usada para expandir a um nível quase absoluto um dos três poderes, ou seja, o do executivo, e poderemos encontrar o melhor modo de elevar não só a opressão simbólica societária, mas também a própria configuração do poder, a níveis democraticamente insustentáveis. O regime português do Estado Novo tem características muito parecidas com estas. Mas os exemplos que são regularmente referidos são o da Hungria do senhor Viktor Orbán e o da Polónia do senhor Kaczynski (não o Unabomber, claro, mas o líder do partido “Lei e Justiça”).
A preocupação de um liberal e democrata como Tocqueville pela questão da liberdade individual de pensamento perante as tendências sociocráticas da opinião maioritária é compreensível. Como é compreensível que, por estas mesmas razões, se tenham verificado tendências liberais hostis ao próprio pensamento democrático, visando limitar a tendência para o igualitarismo.
V.
É CLARO que a «tirania da maioria» encontra hoje obstáculos difíceis de transpor, sobretudo nos actuais sistemas onde as sociedades civis são muito mais robustas e onde encontramos partidos de massas que se alternam em ritmo cada vez mais rápido no poder. Mas esta dificuldade parece estar a ser superada pelos partidos populistas e pelas chamadas “democracias iliberais”, inimigos declarados do liberalismo, tendo aprendido a conviver com a democracia representativa, usando os seus mecanismos centrais a seu favor, isto é, aceitando as eleições, mas condicionando-as e anulando o equilíbrio dos poderes a favor de um executivo todo-poderoso que interfere em todas áreas institucionais do poder com vista à sua reprodução, ou seja, reduzindo o poder judicial, o parlamento e as instâncias institucionais independentes a meras próteses do poder executivo e do respectivo líder, preferencialmente carismático, fonte máxima da legitimidade do poder, enquanto oráculo do povo. Thierry Chopin define assim a chamada “democracia iliberal”:
” Este tipo de regime político caracteriza-se, pelo menos, por três atributos: a referência à soberania do povo como fundamento exclusivo da legitimidade democrática do poder; com base na legitimidade conferida pelas eleições e pelo voto maioritário dos cidadãos, o reforço do poder executivo; e a intervenção deste último sobre os contra-poderes de modo a reduzir o seu papel à custa do Estado de Direito” (Chopin: 2; itálico meu).
É este o caminho do actual autoritarismo nacional-populista, mais concretamente, do “populismo de governo”: alteração profunda dos equilíbrios do sistema representativo, através de um forte reforço do poder executivo, o “povo” como fundamento exclusivo da legitimidade, forte condicionamento, pelo executivo, de todos os outros poderes institucionais e da opinião pública. Um caminho que Tocqueville já tinha premonitoriamente antecipado com enorme clarividência. Os nacional-populistas agitam sobretudo a questão da corrupção (das elites), da segurança e da imigração e o nacionalismo como instrumentos para reforçarem os seus poderes de condicionamento da vida democrática. Mas usam também o truque político-ideológico de identificação das forças moderadas (centro-direita e centro-esquerda) com a política identitária e a ideologia do politicamente correcto (generalizando indevidamente aquelas que são incompreensíveis cedências de muitos dos que, afinal, se identificam com a matriz do liberalismo clássico, que é a do nosso próprio sistema democrático), alargando a frente de um combate que reivindicam como exclusivamente seu. E, além disso, fazem da tradição liberal o seu adversário histórico, como já antes os românticos haviam feito.
VI.
TOCQUEVILLE foi, de facto, premonitório e, quem sabe, talvez os nacional-populistas tenham lido à sua maneira a sua análise, fazendo da democracia representativa um simulacro de democracia, não recusando o sistema representativo, mas promovendo a distorção interna dos seus mecanismos centrais (sobretudo a separação e o equilíbrio dos poderes institucionais e a tutela constitucional dos direitos individuais). Garantem, assim, um simulacro de democracia representativa. Neste processo tende a emergir sempre uma figura tutelar que interpreta, representa e enaltece directamente a voz popular (“I am your voice”) contra as elites que, dizem, ao longo dos tempos se apoderaram do poder e o usaram a seu favor. Digamos que é um populismo deslizante que se desenvolve no interior do próprio sistema representativo, mas que aspira a elevar-se sobre ele, anulando a sua própria matriz liberal, os seus pesos e contrapesos, e impondo um decisionismo autoritário e pretensamente moral… em nome do povo.
REFERÊNCIAS
-
Anselmi, M., Blokker, P., Urbinati, N. (2018). La sfida populista. Milano: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
-
Cerroni, U. (1965). Le origini del socialismo in Russia. Roma: Riuniti.
-
Chopin, T. (2019). “Democratie illibérale” ou “Autoritarisme majoritaire”. Contribution à l’analyse des populismes en Europe. In “Europe puissance des valeurs”. Policy Paper n. 235, 19.02.2019. #Démocratie. Institut Jacques Delors.
-
Constant, B. (1819). “Discurso sobre a liberdade dos antigos comparada à dos modernos», pronunciado no «Ateneu Real de Paris», em 1819. In: http://www.panarchy.org/constant/liberte.1819.html.
-
Habermas, J. (1962). Strukturwandel der Oeffentlichkeit. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp.
-
Sartori, G. (2000) Democrazia: Cosa è. Milano: BUR.
-
Sartori, G. (2008). Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza Editorial.
-
Tarde, Gabriel (1890). Les Lois de l’Imitation. In: http://classiques.uqac.ca/classiques/tarde_gabriel/lois_imitation/lois_imitation.html
- Tocqueville, A. (2001). Da Democracia na América. S. João de Estoril: Principia.

PCP – O NOME E A COISA II
João de Almeida Santos
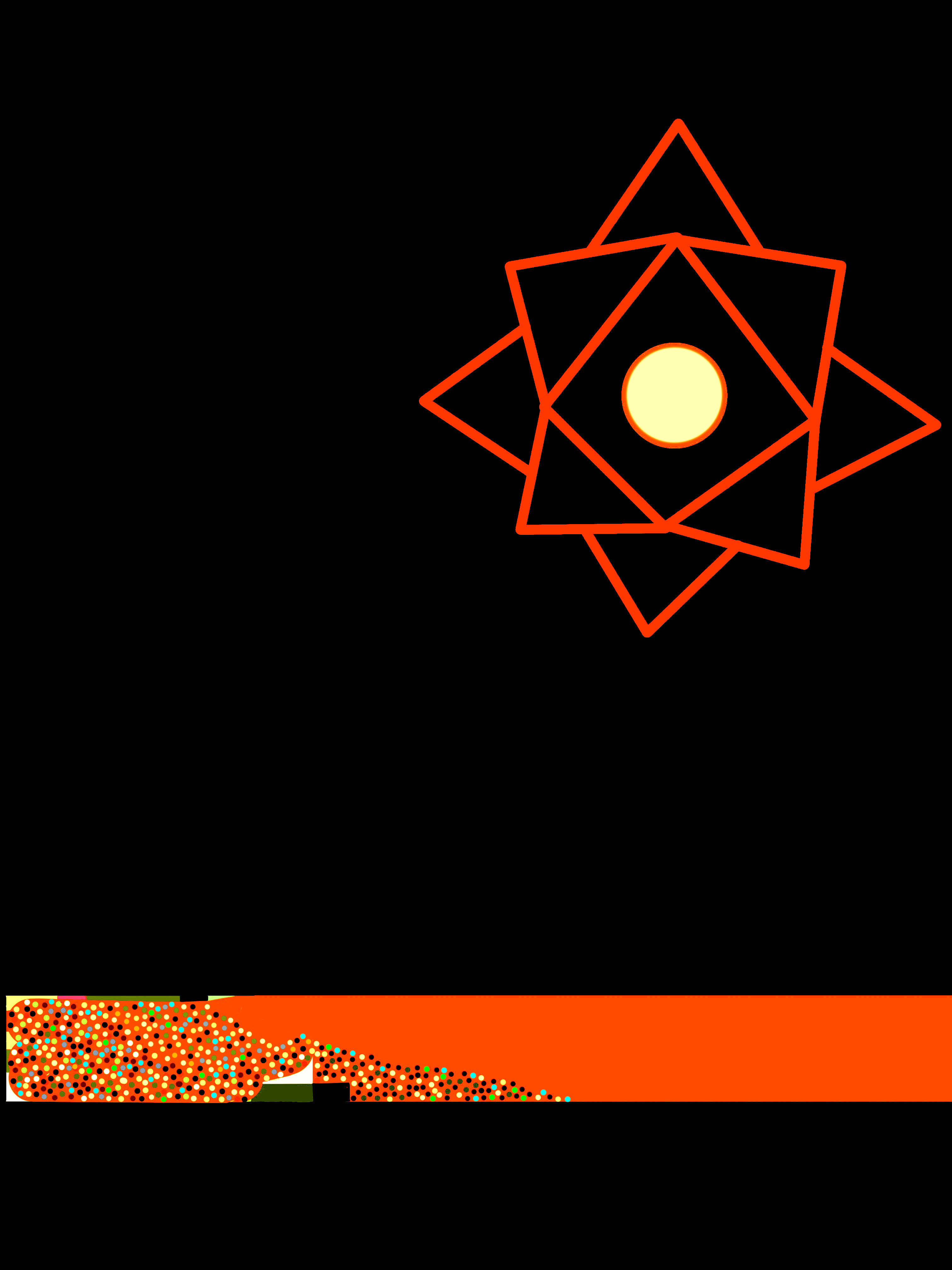
“S/Título”. JAS. 11-2022
RETOMO A REFLEXÃO sobre os partidos comunistas (veja o artigo anterior sobre o PCP, aqui: joaodealmeidasantos.com/2022/11/15/artigo-86/), no momento em que o novo secretário-geral do PCP (SG), Paulo Raimundo, está a dar os primeiros passos nessa condição. Desta vez, a propósito do papel do SG numa organização política deste tipo, muito diferente dos restantes partidos. Bastaria considerar a vigência do centralismo democrático para estabelecer uma fronteira clara entre o PCP e os outros partidos. Ou a natureza orgânica do partido, onde não há lugar para a afirmação do indivíduo como directo protagonista na cena política. No próprio discurso dos membros do partido é raro encontrar uma afirmação que remeta exclusivamente para a própria individualidade: “eu”, em vez de “nós” ou de “o partido”. Sendo verdade, podemos ainda encontrar uma dupla confirmação nas palavras de José Pacheco Pereira, na introdução ao primeiro volume do livro sobre Álvaro Cunhal: “como se ele (Cunhal) quisesse absorver na sua pessoa o conjunto de todos os actos dos ‘seus’, do Partido, de um ‘colectivo” de que ele acaba, nesta multiplicidade, por ser o único com direito à individualidade” (Pacheco Pereira, J., Álvaro Cunhal. Uma biografia política. Lisboa, Temas e Debates, 1999, I, pág. XVII). Talvez fosse mesmo assim. Do colectivo só uma individualidade emergia, a do secretário-geral, e só essa usava com total propriedade o plural majestático – na sua individualidade, na sua pessoa, no seu corpo se reflectia integralmente o colectivo, como no corpo de um monarca se espelha toda uma nação. Algo que, afinal, até nem é exclusivo do PCP porque, embora já num outro plano, também a comunidade científica portuguesa usa regular e sistematicamente o plural majestático nos textos escritos individuais: “nós”, em vez de “eu”. Mas neste partido esta prática tem um sentido muito claro: a prevalência do comunitário sobre o societário, onde, naquele, o todo subsume integralmente as partes e onde a massa orgânica se exprime através de uma única e simbólica individualidade concreta, a do líder comunitário. Esta distinção foi estabelecida em 1887 por F. Toennies na sua obra Gemeinschaft und Gesellschaft e também assumida por Max Weber. Na concepção de Toennies comunidade, “vida real e orgânica”, opõe-se a sociedade, “formação ideal e mecânica”, e, por isso, os membros da comunidade são “essencialmente ligados, apesar do que os separa”, enquanto os da sociedade são”essencialmente separados, apesar daquilo que os une”. A comunidade é animada por uma “vontade essencial” (Wesenwille), imanente ao grupo, que não se dissolve numa societária “vontade arbitrária” (Kuewille) dos indivíduos singulares (veja Sergio Cotta, na Entrada “Comunità”, em Enciclopedia Treccani). E isto bastaria para explicar tecnicamente, e fora da tradição marxista, esta eleição, a forma como se processou e o resultado. O SG foi escolhido sem competição aberta entre propostas programáticas e candidatos alternativos e o resultado foi uma personalidade desconhecida da opinião pública, sem curriculum digno de especial registo. Na realidade, um funcionário de partido de longa data (e desde muito jovem, com 19 anos). E sem experiência parlamentar (o que, todavia, na lógica do PCP não tem importância de maior). Não são conhecidas as verdadeiras razões por que foi escolhido. Talvez os candidatos há muito em pole position se tenham anulado uns aos outros. As razões que explicam a forma inopinada da sua eleição (a mudança estaria prevista para 2024, em Congresso) e até a ausência de um ritual celebrativo que teria a sua expressão precisamente num congresso estão por explicar cabalmente. Digamos que o SG foi gerado organicamente pelo sistema, algo verdadeiramente impessoal. O processo consistiu, como disse Paulo Raimundo, numa recente e longa entrevista a Daniel Oliveira, em consultas individuais aos membros do Comité Central com ulterior aprovação, por unanimidade, pelo mesmo Comité Central. E do processo de gestação resultou um militante como todos os outros, embora já ocupasse, desde cedo, posições de relevo no partido (no secretariado e na comissão política). Este processo, onde o SG não é eleito pelos militantes, mas pelo órgão máximo do partido, não mereceria, mesmo assim, particular atenção não fosse verificar-se na história centenária dos partidos comunistas uma tradição um pouco diferente, logo a começar pelo PCP, precisamente com a figura carismática de Álvaro Cunhal. Uma tradição onde os secretários-gerais eram, de facto, figuras carismáticas e portadoras de um historial heróico. Exemplos? Lenine, Estaline, Tito, Mao-Tse-Tung, Dimitrov, Gramsci, Togliatti, Fidel, Berlinguer, Cunhal. E onde os rituais que os acompanhavam eram sempre de um simbolismo muito intenso e correspondiam a efectivo poder na máquina partidária. Este aspecto não é de somenos porque anda de mãos dadas com a grande narrativa, ou a metanarrativa (“métarécit”), comunista, sempre associada a uma filosofia da história (o materialismo histórico) e também à própria civilização industrial, para usar o conceito de Jean-François Lyotard, no seu famoso livro La Condition Postmoderne, de 1979. De facto, com a introdução da micro-electrónica, nos anos ’40 do século passado, ter-se-ia iniciado a época pós-industrial e pós-moderna, ou seja, a superação da civilização industrial, a cujo destino estariam ligados os partidos comunistas e a sua própria narrativa.
1.
Quando Fidel Castro morreu, em 2016, escrevi um artigo sobre esta tradição. Retomo, pois, em parte, e a este propósito, o que então escrevi. Trata-se de um caso com um particular simbolismo se considerarmos todas as circunstâncias que rodearam a sua vida e a sua função, inscrevendo-se totalmente e de forma, diria, exuberante, na tradição do marxismo-leninismo e dos partidos comunistas. De facto, a sua partida foi um acontecimento histórico, mas do foro puramente simbólico. Como se se tivesse encerrado uma grande narrativa que sempre teve o seu centro discursivo e vital em grandes figuras carismáticas. Dir-se-á que os partidos comunistas continuam, embora o registo doutrinário, designadamente o marxismo-leninismo e a própria economia de plano, já tenha perdido eficácia teórica e política e credibilidade. Mas até as constituições socialistas foram, ao longo do tempo, removendo os resquícios da inspiradora Constituição soviética de 1936. Veja-se, por exemplo, a Constituição de 1982 daquele país (ainda em vigor, no essencial, com diferentes revisões, como a de 2018, a última) e compare-se o art. n.º 2 do Cap. I desta Constituição com o art. n.º 2 da de 1975. O que quero significar é que a liturgia perdeu a última referência simbólica em 2016, por mais que Xi Jinping queira entrar na galeria heróica, mantendo e prolongando a velha tradição. E a partida, mais recente, de Mikhail Gorbachov tem outro significado, que já aqui analisei num recente Ensaio, “Mikhail Gorbachov. Perestroika ou o Princípio do Fim” (https://joaodealmeidasantos.com/2022/08/), porque representa precisamente a tentativa de superação de dimensões nucleares do velho sistema socialista. Nesta liturgia, as figuras carismáticas tinham um tal ascendente que a doutrina lhes era imputada nominalmente: marxismo, leninismo, marxismo-leninismo, estalinismo, titoísmo, maoísmo ou marxismo-leninismo-pensamento-de-Mao-Tse-Tung (a fórmula oficial). Até com direito a inscrição constitucional, como se pode verificar, por exemplo, no Preâmbulo da constituição chinesa de 1982, para os nomes de Mao Tse Tung ou de Deng Xiaoping, e, agora, na recente revisão constitucional de 2018, para o nome de Xi Jinping, o actual líder, que poderá manter a sua liderança por tempo indeterminado: “a visão científica do desenvolvimento e o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era”.
2.
OS ROSTOS E OS NOMES constituíam, pois, uma iconografia doutrinária que animava a liturgia. Basta consultar as obras dos pais fundadores nas edições oficiais para o constatar. Por exemplo, as edições da Dietz Verlag, de Berlim (com fotografias destacáveis). A iconografia oficial punha em linha os rostos de Marx, Engels, Lenine, Estaline, Mao. Lenine e Estaline foram embalsamados e colocados na Praça Vermelha. Mao, Deng e Jinping estão inscritos na Constituição da China (Preâmbulo). A unidade da Jugoslávia e da Liga dos Comunistas era garantida pela figura do Marechal Tito. Em Portugal, Álvaro Cunhal era o líder carismático incontestado e o seu intelectual de referência. A sua história pessoal confundia-se com a história do próprio partido. Verdadeiramente, a atmosfera dominante era a do culto da personalidade. Mas o que acontece é que a natureza orgânica e comunitária do sistema exige figuras tutelares, intérpretes oraculares da doutrina e do sentido da história. A ideologia elevava-se a ciência e a filosofia (o Istmat e o Diamat) e estas não eram acessíveis no seu significado mais profundo ao homem comum. Elas eram, no plano político, mais de natureza oracular do que verdadeiramente científica ou filosófica. Até porque o património teórico do marxismo não era de fácil acesso intelectual. Bastaria, para tal, referir a complexidade da obra de Marx (embora pouco ou nada tenha a ver com o marxismo-leninismo, mais inspirado na obra de Engels). Por isso, exigia intérpretes qualificados e não só politicamente, mas também intelectualmente. Autênticos intelectuais orgânicos, além das especiais qualidades políticas e pessoais. E Fidel era um deles, o último dos ícones. A sua partida pode ser entendida como se tivesse caído o pano sobre uma dramaturgia a que a sua figura ainda continuava a emprestar um certo realismo e um certo encanto, embora cada vez mais como último sobrevivente de um longo e sofrido naufrágio ideológico e político, marcado pelo tempo e pela evolução histórica da sociedade industrial rumo à sociedade pós-industrial. Não por acaso, as visitas a esse oráculo vivo, a esse testemunho da utopia perdida eram permanentes e vindas de todos os quadrantes. Ver ao vivo o passado, aquilo que já acabara. Um oxímoro, mas, por isso, ainda mais fascinante.
3.
A QUE SE DEVE o estranho e animado debate em torno de uma figura que representou em tudo uma evidente ditadura que deveria ser, pelos defensores da democracia representativa, liminarmente rejeitada, juntamente com os seus protagonistas? A que se deve essa admiração reverencial por Fidel Castro, esse fascínio “del Comandante”? Não vou fazer comparações de mau gosto e injustas entre Fidel e Pinochet, como fez um colunista do “Observador”. Por uma simples razão, que talvez explique o fascínio pelo personagem e pela doutrina. E essa razão centra-se na força e no valor da utopia: a libertação das massas do jugo do capital e a luta pela autodeterminação dos povos. Os comunistas lutaram e lutam por este objectivo e pelos seus valores associados (o que torna ainda mais estranha a posição do PCP sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, mesmo no quadro do seu feroz anti-imperialismo americano). Não interessa, para compreender este fascínio, discutir a validade da sua grelha de leitura da história e as suas concretas opções políticas, económicas, sociais ou filosóficas. A história já respondeu a isso, rejeitando-as. O modelo era o dos sistemas políticos orgânicos, não o da democracia representativa, o da economia de plano, não o da economia de mercado e nem sequer o da economia social de mercado (o modelo proposto na Perestroika), e o da rejeição do direito à propriedade privada (dos meios de produção). Modelo que faliu. Mas, para o que nos interessa, a questão de fundo reside nos ideais. E esses são absolutamente compartilháveis. E se a isso juntarmos os actos de resistência e de heroísmo que sempre se inscreveram nessa luta pelos ideais pode compreender-se o fascínio da doutrina e dos personagens. Fidel é um interessante exemplo disso. Não podemos esquecer que durante várias décadas o mundo viveu em regime de partilha global com os sistemas socialistas e a sua doutrina (Bloco de Leste, China, Cuba, Movimentos de Libertação, partidos comunistas ocidentais, alguns muito poderosos, com o o italiano, por exemplo, movimentos estudantis, movimentos de natureza multicultural, etc.). E Fidel esteve sempre plenamente integrado neste movimento global. Acresce que ele se encontrava numa situação muito particular para ganhar força simbólica: uma pequena ilha socialista junto ao gigante americano capitalista. Um David contra Golias em conflito mais que latente. Crise dos mísseis em 1962, com Cuba no centro; Fidel que resiste a um interminável embargo, empenhando-se, além disso, na luta pela emancipação de povos no continente americano e noutros continentes. Mais do que a iconografia – que foi muito importante, a boina do Che ou o charuto e as barbas de Fidel –, foi a posição estratégica de Fidel que determinou o fenómeno da popularidade e do fascínio ao limite do mito. Esta localização também lhe serviu para se consolidar, uma vez que lhe permitiu exibir, perante os cidadãos cubanos, os Estados Unidos como o inimigo externo (físico e ideal) sempre incumbente, gerando, assim, uma permanente coesão interna. Táctica de manual. A mesma que agora Putin está a usar na Rússia. Na verdade, o personagem aliava à nobreza dos ideais e à inteligência política uma força anímica e uma estética discursiva que sempre encantaram a esquerda. Um David que cresceu, como personagem cénica, à dimensão de um Golias. E este é um exemplo simplesmente fascinante, talvez mais do que qualquer outro, na tradição do marxismo-leninismo e do sistema socialista. Um mito que se inscrevia plenamente nesta grande narrativa.
4.
FIDEL converte-se ao marxismo depois de ter tomado o poder (1959). Ainda foi recebido na Casa Branca (pelo vice-Presidente Nixon). Mas logo, dois anos depois, adopta um “programa marxista-leninista” e cria o Partido Comunista, em 1965. O passo seguinte foi a elaboração de uma Constituição (1975) e a sua aprovação em 1976 (agora alterada, em 2019, mas conservando o essencial do regime), em referendo esmagador. É aqui que se dá forma à democracia orgânica cubana, com todas aquelas características nucleares que se encontram nas constituições dos Estados socialistas, inspiradas na soviética de 1936: sistema orgânico, Estado gerido (constitucionalmente) pelo partido comunista e inspirado na doutrina marxista-leninista (inscrita na Constituição), centralismo democrático, mandato (dos deputados) imperativo, ou seja, revogável (art. 83 da Constituição de 1976 e art. 116, secção II, cap. II da actual, de 2019 ). E uma Assembleia Nacional que nem sequer era eleita por sufrágio universal directo (mas hoje já é, art. 104, secção I, cap. II), mas que resultava das assembleias municipais (art. 69).
As características do sistema político cubano eram (e continuam a ser, no essencial) equivalentes às das democracias orgânicas do sistema socialista. Este sistema manteve sempre uma componente carismática centrada na figura de Fidel, não existindo razão aparente para não ser julgado com a mesma rede crítica aplicável às outras ditaduras de esquerda. Mas a verdade é que a percepção pública sempre foi, neste caso, diferente. Certamente pelas razões que apontei, mas também pelo difuso sentimento anti-americano inscrito em tantas frentes da esquerda, mesmo na sua ala mais moderada. E partilhado ainda hoje. Sentimento que Fidel sempre interpretou com notável maestria política.
5.
A PARTIDA DE FIDEL tem relevância histórica também por isso, ou seja, porque o sistema socialista sempre teve ícones, sempre se alimentou deles como se essas figuras tutelares não só dessem um rosto e um corpo à doutrina, mas também humanizassem esse colectivismo orgânico tão impessoal e frio que estava inscrito na natureza do regime. Mas eu creio que é a própria natureza orgânica destes regimes que, paradoxalmente, solicita esta fortíssima personalização de uma doutrina que, afinal, a refuta. O colectivo, sim, o colectivo, mas com figura tutelar, que dê unidade e, sobretudo, alma e corpo ao conjunto. Como nas religiões. Ou nas monarquias. Uma estrutura orgânica que actualiza a “graça”, ritualizando-a, mas com um Papa, um Aiatolá, um Profeta, um Secretário-Geral como figuras tutelares. E este também foi o caso de Cuba e do seu eterno líder. Um líder que personificava o regime, a doutrina de libertação de Cuba e em geral dos povos oprimidos, que simbolizava a coragem de enfrentar a vizinha e máxima potência do imperialismo mundial, que participava nas lutas de libertação nacional e que, ao mesmo tempo, exibia uma humanidade pouco comum em líderes desta natureza. Não deixará de lá estar uma certa latinidade e mestiçagem, numa espécie de socialismo tropical, que dão a Cuba um cromatismo existencial e uma exuberância que marcam a sociedade em todas as suas frentes. Mas o fundamental estará certamente naquilo que Fidel interpretava, como o fazia, em que lugar geométrico o fez e em que tradição se inscrevia. Diz isto alguém a quem Fidel nunca fascinou. Mas não admira. O meu fascínio sempre esteve mais naquela figura fisicamente um pouquinho disforme, mas intelectualmente com a dimensão de um verdadeiro Golias: António Gramsci, prisioneiro e mártir pelas suas ideias em tempos de fascismo.
6.
POIS BEM, se Cuba tinha Fidel, o PCP tinha Álvaro Cunhal. Uma personalidade que ganhou também uma dimensão de mito. A história deste partido quase se confunde com a vida dele. Pacheco Pereira, que publicou vários e extensos volumes biográficos sobre ele, di-lo no segundo volume: “No essencial, o PCP dos anos quarenta é Cunhal, como o vai voltar a ser nos anos sessenta” (Pacheco Pereira, 2001, II: XV). Mas, sem qualquer dúvida, será correcto afirmar que quase toda a história do PCP se confunde com a dele – “a sua biografia (a do jovem Cunhal) ainda não coincide com a do PCP, como acontecerá depois dos anos quarenta”, diz Pacheco Pereira (1999: I, XIX). E o corpo colectivo também encontrava nele a personificação perfeita, a cultura, a sofisticação intelectual, a ética socialista, o realismo e a inteligência táctica, a sua inscrição no património do socialismo mundial, o heroísmo, uma vida de luta contra a ditadura. Tudo. Álvaro Cunhal era ao mesmo tempo o líder político e o intelectual orgânico do partido e fazia a ponte, a ligação, com o que de melhor tinha a tradição doutrinária do marxismo-leninismo. Com ele, durante décadas, a tradição interna do partido cumpriu-se sem sobressaltos de maior que não fossem, naturalmente, os que advinham da difícil e dura luta contra a ditadura. Depois, com a sua saída, também o PCP passou por uma orfandade que nunca mais viria a recuperar, nem com Carvalhas nem com Jerónimo de Sousa e, provavelmente, nem com Paulo Raimundo. Porquê? A saída de Cunhal é equivalente ao fim de Fidel Castro e ao fim da grande narrativa comunista interpretada e personificada pelos líderes carismáticos. A figura de Estaline vale simbolicamente, e ao extremo, por todas. Ou a de Fidel. Por isso, eu creio que esta escolha de Paulo Raimundo, não parecendo, representa a consumação da ruptura com a velha tradição. E digo não parecendo porque a escolha ainda se inscreve na filosofia global e abstracta do marxismo-leninismo e no organicismo partidário, mas, de facto, ela representa a consumação de uma ruptura já que à grande narrativa comunista sempre correspondeu a existência de um intérprete carismático que a corporizasse e a singularizasse como função, sim, mas também como corpo, como pessoa concreta dotada de especiais capacidades, designadamente intelectuais, e de efectiva auctoritas e gravitas. Uma personalidade de natureza oracular. Poderia simplificar o significado da mudança extremando um pouco as posições: se, antes, a história do partido se condensava na história de Cunhal, agora, é a história do novo SG que se condensa (até factualmente) na história do partido. Uma inversão total no protagonismo relativo. O partido, com a nova identidade do SG ganha uma singularidade que com Cunhal não tinha, pois ela era como que delegada na sua personalidade (no mínimo, partilhada), na sua persona, no seu corpo e no seu discurso.
Não me atrevo a dizer que Paulo Raimundo não tenha estas qualidades. Não o conheço, nem pessoalmente nem politicamente. Mas parece não poder tê-las – finda a grande narrativa, também acaba a necessidade de a interpretar e de a personalizar, como uma dramaturgia, a um nível superior através de heroicidade e de carisma pessoais.
7.
QUE SIGNIFICADO TEM, então, a escolha de Paulo Raimundo? Na realidade, tem dois significados: cumpre a tradição teórica e abstracta, ao elevar à máxima função um trabalhador comum (mas na verdade trata-se mais de um funcionário de longa data do partido do que de um trabalhador comum), como previsto na evolução histórica, mas não cumpre a tradição histórica porque não se inscreve na tradição carismática dos líderes do movimento comunista internacional, todos eles com dimensão de intelectuais orgânicos dos respectivos partidos, de produtores e de intérpretes oraculares da doutrina; mas também, aparentemente, não responde (ou respondia, havendo no partido outras personalidades mais adequados a este papel) às exigências de personalização da política que decorrem da civilização da imagem e do marketing eleitoral para os efeitos políticos que a democracia representativa e pluralista vem exigindo a todas as lideranças, de esquerda ou de direita. Não se trata aqui de uma capitis diminutio do novo líder nem de uma avaliação da sua liderança ou da sua capacidade de afirmação, mesmo depois de ter ouvido com toda a atenção a longa entrevista que deu a Daniel Oliveira. Seria, pelo menos, injusto e desapropriado. Trata-se, isso sim, de uma análise histórico-comparativa: o fim das lideranças carismáticas corre paralelo ao fim das grandes narrativas que se afirmaram no Século XX e por isso esta liderança cumpre deste modo a sua função temporal, de solução de continuidade, embora ainda de forma somente parcial. Pode até acontecer que Paulo Raimundo se venha a afirmar como um excelente líder e com sucesso, mas o que não acontecerá será a simbiose que antes se verificava entre doutrina e liderança. Isso não acontecerá de certeza. Até porque, como no anterior artigo julgo ter demonstrado, a doutrina perdeu, até no PCP, a sua centralidade, a sua pregnância, o seu valor invocativo, mantendo-se apenas como remota utopia, meramente indicativa e por razões de identidade e de história patrimonial. Na realidade, não havendo uma grande narrativa com efectiva pregnância política é natural que não haja uma figura oracular que a represente, a interprete e a produza com a profundidade histórica com que foi concebida. O PCP estando ainda, de algum modo, marcado e condicionado pela velha tradição da democracia orgânica, nestes quase 50 anos de democracia também já metabolizou os principais mecanismos da democracia representativa. É neste complexo e difícil intervalo entre uma e a outra que, no meu entender, se inscreve a eleição de Paulo Raimundo como SG do PCP. E é nele que terá de se mover, a não ser que se venha a verificar uma profunda mudança na identidade estatutária, programática e até doutrinária, através da eliminação dos resquícios organicistas que ainda subsistem. Mas este passo não viria a pôr o PCP perante uma radical crise de identidade, obrigando-o a confrontar-se com a necessidade de assunção de formas políticas de que sempre se distanciou e que até sempre energicamente combateu? Jas@11-2022
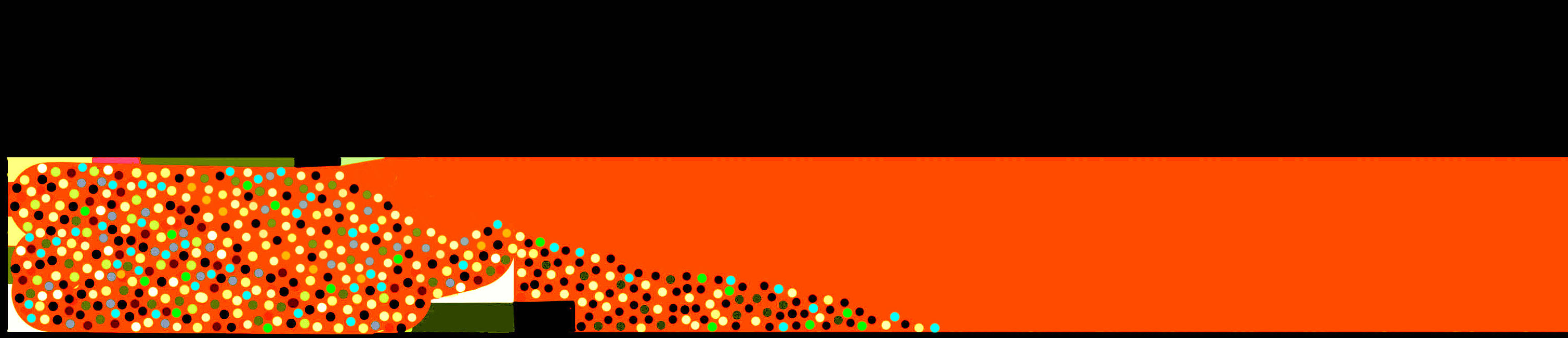
ANTÓNIO DE CASTRO GUERRA
UMA VIAGEM NO TEMPO Romance
Por João de Almeida Santos

Foto da Capa, de António de Castro Guerra
Texto completo da minha intervenção na Sessão de apresentação de "Uma Viagem no Tempo" (Lisboa, Rosa de Porcelana, 2022, 218 pág.s) no Grémio Literário de Lisboa, ao Chiado, no dia 17 de Novembro de 2022.

Imagem da minha intervenção na sessão de apresentação de “Uma Viagem no Tempo”
1.
ANTES DE ENTRAR directamente no tema, permitam-me uma nota de carácter pessoal. Tenho conversado muito com o António de Castro Guerra e, frequentemente, no mesmo registo que nos tem, nos últimos tempos, levado a escrever fora da nossa zona de conforto profissional (no autor, a economia, na minha a filosofia e a comunicação política), entrando directamente na esfera do exercício estético (a narrativa literária, a fotografia, a poesia e a pintura), que é ao mesmo tempo uma nova e diferente forma de olhar para o mundo, mas também de se relacionar com ele. Ou seja, agora, que não estamos dependentes do trabalho profissional, da captação dos recursos financeiros necessários à sobrevivência (sempre necessários, mas agora não tão prementes) e das exigências formais da vida social ligada à profissão ou às funções que fomos desempenhando ao longo da vida, e foram muitas e diversificadas (e até partilhadas), ocorre um livre reencontro connosco próprios, com o nosso tempo de vida, seja ele passado, presente ou futuro. O tempo, o destino e as incontornáveis contingências da vida – é o que está em causa. Tudo, para além da vontade com que a enfrentámos e da representação que dela fizemos, porque este, o de hoje, é um tempo diferente em que o passado e o futuro ganham maior acuidade e urgência (como julgo que está escrito, e bem, no livro). Aqui, como se compreende, o que do passado persiste como presente é decisivo até porque o futuro, no fundo, já é mais tempo de balanço do que de um programa estratégico. Mas não se trata de algo que tenha a ver com uma espécie de relatório. Não. Trata-se de arte, ou seja, de “viagens no tempo” recriadas e revividas com as categorias da arte. Viagens, pois, esteticamente comprometidas, que acrescentam algo, tornando, afinal, o “balanço” mais uma nova forma de vida, de vida bela, de vontade e de representação do que de um frio relatório de contas, de sucessos ou de fracassos. Melhor, a arte permite-nos reconstruir o tempo vivido em formas esteticamente partilháveis e fruíveis, tornando esse exercício uma revivescência, sim, mas num plano superior, o da beleza sensível. E o que é mais interessante é que do passado vivido e sofrido o que tende a ser reconstruído não são os sucessos, mas sim os insucessos, o inacabado, o imperfeito, o inconcluso, o ausente, a perda. A arte como solução do inacabado e como redenção. Espelho do imperfeito (com as refracções próprias da arte), sim, porque este é o lado mais humano e contingente. É esse inacabado que nos motiva, quase como imperativo, exigência incontornável. E eu creio que é este o sentido deste romance autobiográfico. Porque é, sim, um romance autobiográfico assumido. E, naturalmente, ficcionado. Ma non troppo. Di-lo ele, na Nota do Autor. E digo eu, que julgo conhecê-lo um pouco e que também me encontro nestas andanças de procura e de recriação estética do tempo perdido no tempo.
2.
NAS NOSSAS CONVERSAS, temos relembrado, frequentemente, a Marguerite Yourcenar e o monólogo do Michelangelo Buonarroti com o seu amante Gherardo Perini no seu livro “Le Temps ce Grand Sculpteur”: “Gherardo”, diz Michelangelo, “maintenant tu es plus beau que toi-même”. Queria ele dizer que, por um lado, a partida do amante e, por outro, num momento em que ainda podia chorar a sua partida, seriam as condições imprescindíveis para lhe poder imortalizar a alma pela arte. Mais uma vez, a arte como solução ou resolução superior do inacabado. Ausência, sim, mas também pulsão que resistiu à partida, algo que lhe sobrou daquilo que perdeu – condições fundamentais para o exercício estético, com as categorias da arte. Como se se tratasse de uma forte pulsão dionisíaca que permaneceu e que, depois, alimentou, como energia, o voo apolíneo da arte. Para o dizer com o Nietzsche de “A Origem da Tragédia”.
Por que razão falo disto?
Falo disto porque creio que o movimento em que se inscreve a actual vida (literária) do António Castro Guerra (e a minha) também é este. Elevar o seu passado mais remoto, aquilo que dele ficou por concluir e que, com intensidade subsistente, lhe sobrou, à sua máxima expressão estética, neste caso através de um romance ou, simplesmente, no caso do outro livro (Quase memórias de um lugar e de outras andanças, Lisboa, Rosa de Porcelana, 2020), de uma concreta narrativa literária centrada em Valezim, essa bela aldeia situada nas margens do rio Zezerim. Mas não como ajuste de contas. Não. Nem ele é homem para perder tempo com isso. Como recriação do vivido, sim, e com desejo de universalidade, a que a arte torna possível, mas também de partilha e, digamo-lo sem rodeios, de redenção. A arte existe para ser comunicada, dizia, se não erro, o Bernardo Soares, e, ao sê-lo, muitas vezes sob a forma de directa interpelação e até de dádiva, desencadeia um processo que até pode ser de redenção. Sim, de redenção. Pela arte. Que melhor do que isto?
3.
TOMEMOS O FIO CONDUTOR do romance, a relação entre António Baltazar com a jovem francesa Ariel, aqui identificada, na dedicatória, com a pequena sereia de Hans Christian Andersen. Não quero nem devo antecipar o que acontece no romance (isso seria maldade para com o editor), mas tão-só a minha impressão de que essa história foi de tal modo inacabada (de tão “perfeita” ter sido) que o obrigou a recriá-la e a ficcioná-la com as categorias da literatura. A perfeição nunca se atinge e obriga sempre a ulteriores aproximações. E talvez também por isso ele se tenha obrigado a uma “viagem no tempo”, a uma improvável revivescência. Como impulso ou pulsão incontornável.
Não direi que o tenha feito com as seis categorias que o Italo Calvino considerava serem as categorias literárias deste milénio que já estamos a viver, mas com algumas, das quais sublinho a leveza, a rapidez e a visibilidade. Categorias que julgo atravessarem toda a narrativa. A história é um exercício de leveza sobre a relação entre os dois personagens (António e Ariel), mediada pelos ambientes naturais em que os encontros ocorrem, mas é também uma rápida visualização de um tempo (o deles) em que o peso insustentável da existência quotidiana e profissional fica de fora, sem interferir na relação, nas vivências partilhadas que acontecem quase em modo de levitação. Leveza da narrativa, portanto. O autor até parece ter um imenso pudor em se concentrar sobre as intensidades subjectivas de cada um, preferindo, pelo contrário, gerá-las indirectamente através da descrição da beleza natural e da exuberância algo dionisíaca dos ambientes em que os encontros ocorrem. Isso parece ter a ver com a própria paixão física do autor (de resto, o narrador parece confundir-se mesmo com o próprio autor) pelos ambientes naturais, tendo sido na infância muito influenciado pelo belíssimo vale – uma confluência de três vales banhada por um rio de água cristalina – onde nasceu e cresceu e da montanha mais alta que o enquadra. Essa paixão física mantém-se e até pode levar-nos a pensar que ela funcionou ex post como excesso que cobre e periferiza literariamente as próprias atmosferas mais íntimas ou sensuais. Mas não sei. O que sei é que a suspeita deriva da intensidade narrativa sobre os ambientes em que ocorrem os encontros.
4.
NA VERDADE, esta, que parece – digo parece com alguma ênfase – ser uma história de amor contido ou de fronteira, é exposta com leveza, expressa num pudor que vai desde a dimensão sexual (quase oculta ou apenas indirectamente aludida) até à partilha afectiva e sensual, quase inexistente (na narrativa explícita), porque fundida ou confundida com as intensities dos ambientes naturais. Tudo parece acontecer numa espécie de exaltação dionisíaca da vida e da natureza, num certo paganismo ou imanentismo, no poder telúrico da vida simples e natural, que me faz lembrar, até pelas várias descrições que se encontram no romance, quando acampam nos mais variados lugares (da Costa Alentejana ao Gerês), o canto de Liolà para o Zio Simone, na belíssima peça homónima (“Liolà”), de Luigi Pirandello:
Io, questa notte, ho dormito al sereno; /solo le stelle m’han fatto riparo: /il mio lettuccio, un palmo di terreno; /il mio guanciale, un cardoncello amaro. /Angustie, fame, sete, crepacuore? /non m’importa di nulla: so cantare! /canto e di gioja mi s’allarga il cuore, /è mia tutta la terra e tutto il mare. /Voglio per tutti il sole e la salute; /voglio per me le ragazze leggiadre, /teste di bimbi bionde e ricciolute /e una vecchietta qua come mia madre.
É mais ou menos também este o ambiente que António Baltazar oferece a Ariel e é este o ambiente que ela ama. Ou em que ela o ama. E é neste ambiente que cresce e se reproduz a ligação entre ambos, a ponto de António Baltazar começar a notar o semblante tristonho de Ariel quando o ambiente natural que lhe oferece não corresponde às suas expectativas, mudando de imediato quando a riqueza exuberante da natureza ressurge, regressa. Sim, a mediação da exuberância natural era decisiva ou até mesmo constitutiva da própria relação. Quase um certo paganismo sedutor que os envolvia e que surge aludido pelo fascínio que lhe suscitaram as histórias do famoso padre de Vilar de Perdizes, que, por isso, quis encontrar, embora sem sucesso. Idílio pastoral – é expressão que, exagerando um pouco, se poderia aplicar aos momentos de êxtase ambiental e natural que lhes aconteciam sempre que iam de encontro à simplicidade e à exuberância natural dos lugares que os acolheriam. Repito as palavras de Liolà: “Io, questa notte, ho dormito al sereno; / solo le stelle m’han fatto riparo”. Pirandello, Sicília, o jovem Liolà que dormia, como eles, ao relento, tendo ele as estrelas como “riparo” e eles uma tenda como abrigo.
5.
E, TODAVIA, ao leitor não é, de facto, oferecida uma panorâmica aprofundada do universo interior dos personagens nos seus longos, repetidos e diversificados encontros e nas intimidades partilhadas, digamos. Diria mesmo: nas pulsões sensuais, dionisíacas. Da terra natal de António Baltazar ela reteve sobretudo o rio, a vontade de acampar ali ao lado para nadar, possivelmente nua, e ali adormecer ao som do murmúrio das suas águas cristalinas, nos braços de António Baltazar, digo eu (que o narrador não fala disso). Era assim que eles melhor se encontravam e se reconheciam. Era assim que os seus universos interiores se conjugavam, induzidos pela força telúrica da natureza. Pois bem, quando isto não acontecia as relações tendiam a esmorecer e talvez tenha sido por isso mesmo que a relação ficou inacabada, à espera que o destino marcasse um futuro que talvez nunca fosse acontecer e que, de resto, nem eles programariam. Ou à espera da sua conversão literária, digo eu, agora. O que for, há-de ser, dizia sempre, de si para si, António Baltazar. Como se conscientemente tivesse deixado ao destino decidir do futuro da relação, lembrando-se do desfecho da relação da pequena sereia com o príncipe, no conto de Andersen?
Na verdade, parece-me legítimo suspeitar que esse pudor extremo de António Baltazar e, já agora, do autor, em manter velado o universo sentimental de ambos, não o dissecando na narrativa, não o expondo mais do que o necessário para dar vida à relação, não o revelando até para resolver com palavras o que a existência não resolveu, fosse sinal de que tudo foi obra do destino, mais do que de intencionalidade ou de racionalidade estratégica de qualquer um deles. E o destino exige pudor, respeito, silêncio, porque nunca se sabe o que nos reserva. Porque é nele que habitam os deuses e o arbítrio divino. Ao que se juntava ainda, neste caso, a expressividade, a intensidade e a exuberância da natureza que os acolhia e com a qual procuravam identificar-se ao ponto de quase se anularem, imergindo nela com todos os sentidos em alerta. Um destino, pois, marcado, mais uma vez, pela força telúrica da natureza. Ou pelos deuses que o habitam, o destino. Vá lá saber-se.
6.
E ASSIM NASCE o romance escrito. A reposição ficcionada, a recriação de uma história vivida, como se o acto de a reviver permitisse resolvê-la. Mas parece que não a resolveu e disso mesmo há o testemunho do narrador e também de Daisy, a mulher de António Baltazar, que, mais tarde, o incentivaria a que fosse encontrá-la lá onde ela vivia, como se, mulher, bem compreendesse que sem esse passo nem o melhor dos romances conseguiria fechar, concluir a relação. Uma pedra no sapato era o que talvez Daisy sentisse. “Vai, vai lá e resolve isso de uma vez por todas. Por ti e, já agora, também por mim”. Isto, digo eu. Mas é o próprio romance que prevê isso mesmo, o que nos deixa entender que o assunto não ficou mesmo resolvido com esta ficção literária. Mas, pergunto, algum dia ficará? O passado poderá ser cabalmente reconstruído através da literatura para ser livre e confortavelmente habitado, sem ponta de inquietação? Não será também aqui o destino a decidir? Ou os deuses? E, de qualquer forma, o estro passar a ser a medida da própria eficácia existencial do romance, da obra de arte? A beleza esteticamente construída como fonte de sedução…
7.
ESTE ROMANCE será lido pela própria (supondo que ela seja mais do que uma versão romanceada da pequena sereia de Andersen), partilhando assim a revivescência, sabe-se lá com que sentimentos interiores? O pudor extremo da narrativa é devido a essa eventualidade? Há esta intenção originária na escrita? Um diálogo à distância? Uma espécie de interpelação? Ou o autor mantém-se numa pura posição transcendental, ou seja, age literariamente “como se”? Talvez o que reste sejam apenas modulações de intensidade desses fragmentos de memória viva, muito viva. À procura do tempo perdido… Mas será possível reencontrá-lo e revivê-lo? Acho que sim, em parte. E se for através da poesia talvez a revivescência seja ainda mais intensa e reparadora, pela sua alta performatividade. Em qualquer caso, ficará, todavia, sempre um sentimento de perda e de ausência. Tem razão a Yourcenar. Ou o Michelangelo. O mesmo sentimento que, afinal, anima, energiza a pulsão da arte. Sim, uma perda irreparável que é compensada ou relativizada pela beleza a que o autor a eleva, universalizando-a e possibilitando a sua partilha com os amantes do belo e dos segredos mais profundos da alma humana. Verbalizar a perda para a relativizar, sem ser psicanálise, mas arte. E até com alguém que poderá compreender agora melhor o que ele sentiu então, nesse passado ao mesmo tempo luminoso e inocente. Sim, porque só por isso esse sentir se pôde projectar como momento de uma narrativa romanesca futura. Talvez seja esta a solução. E aquilo que na origem era perda talvez se tenha transformado, com o acto da escrita, em dádiva esteticamente oferecida, quadro pintado com palavras para que conste da galeria de arte das suas vidas. Pintura com o que lhe sobrou, porque foi (e continuou a ser) verdadeiramente intenso. Sobrou-me algo de ti (aquilo que outros nunca em ti encontrarão, diria Michelangelo Buonarroti) e com esse algo imobilizo-te a alma numa obra de arte. A escrita acontece assim como acto sublime de viver e de reviver. Mesmo assim, estou convencido de que o António Baltazar vai continuar a dizer: o que for, há-de ser. Talvez seja esse o seu ADN. Se a encontrar, claro, apesar de o breve encontro de Paris nos dar bem conta dos embaraços que o tempo sempre produz nas relações temporalmente interrompidas ou suspensas. Encontro futuro que não é uma certeza, porque, na verdade, os seus encontros com ela passaram a ser a um outro nível, digamos, encontros aproximados de “terceiro grau”, o da arte (depois dos reais e dos da memória). Mas tenho a certeza de que este encontro, agora mediado não pela natureza, mas pela arte, vai acontecer. Passa-se assim da exuberância natural à exuberância estética da palavra escrita, que é a versão decifrável da alma, onde o encontro agora ocorrerá. Mais: já está a ocorrer. Quase me apetecia perguntar ao autor: você vai enviar-lhe o livro? Ela até fala português… Supondo que ela exista fora do romance. Mas não sei. E nunca perguntaria ao autor… O que sei, e já não é pouco, é que o romance é também (ou sobretudo) dedicado a essa “pequena sereia que viveu muitas vidas” e que tem por nome Ariel.
8.
MAS A NARRATIVA não se esgota nesta história (de amor?). Ela desenvolve-se em descrições concretas, variadas e demoradas acerca dos ambientes que serviram de fundo aos seus encontros e reencontros. A América (New York, Newark, Washington e Filadélfia), Paris, a costa alentejana, o Buçaco, o Gerês, Terras de Basto, Valezim, na Beira Interior. Uma preocupação que o autor teve em dar ao leitor informações acerca destes locais que ambos frequentaram e fruíram. Sim, sempre eles e as suas circunstâncias. Às vezes (quase sempre) mais as circunstâncias do que eles. Na narrativa, claro.
9.
O ROMANCE também procura resolver uma dúvida existencial do personagem António Baltazar acerca da sua própria identidade remota. Vai às suas próprias origens tal como vai ao seu futuro, ao adoptar (enquanto personagem central do romance) o nome do seu próprio neto. Também aqui “uma viagem no tempo”: ao passado e ao futuro, consignando em plenitude a sua identidade passada e futura ao mundo da arte, expondo-a na sua galeria pessoal, a das suas memórias filtradas pela arte e com sinais de futuro (o nome do personagem). Mais uma vez a recriação da uma linha temporal através da chamada literária dos seus familiares à narrativa para resolver um assunto familiar existencialmente há muito pendente. Quase apetece dizer que também aqui a literatura é uma solução para a própria vida. E também que o companheiro de Ariel era esse mesmo cujas origens e identidade a narrativa também viria finalmente revelar… e a projectar. Milagres da arte!
10.
NÃO É, COMO SABEM, a primeira vez (nem será a última) que o António Castro Guerra vai às raízes e as projecta literariamente, recriando aquilo que lhe vai na alma, lá mais no fundo da alma, e que tem o seu contraponto (como o silêncio na música) no território que ele palmeia frequentemente com aquele prazer de quem gosta de sentir os perfumes da terra húmida, das árvores, das plantas, das flores, as vertigens da montanha, o sussurrar das águas desse rio que não lhe sai da alma, porque nasceu com ele, a ouvir-lhe os murmúrios líquidos, ali ao lado da sua casa. Este território físico e interior parece ser um dos pilares essenciais da sua vida vivida, algo que nunca o abandonou nas mil e uma andanças por este mundo. E faz-se sentir de forma poderosa até na relação com uma mulher, quase a dissolvendo na exuberante imanência natural como abrigo de almas e lugar de destino. Mas agora parece ter chegado o momento de pôr no devido lugar, um pouco mais acima, mais alto, a desordem dessa vida que sempre nos vai atropelando e até nos impede de seguir rumos diferentes daqueles que acabamos por seguir, por vontade ou por destino. Ah, foi assim? Pois agora sou eu que decido através deste instrumento extraordinário que está à minha disposição: a narrativa literária. A arte. Recrio a minha vida, mesmo aquela ou sobretudo aquela que teve uma solução de continuidade e dou a tudo a harmonia e a beleza que o poder da palavra escrita me conceder. Chamo a mim um tempo que sempre transbordava do leito por onde corria a minha própria vida. E dou asas ao desejo. Resolvo o que não teve solução? De certo modo, sim, porque elevo essa circunstância à universalidade da arte e até a posso partilhar com quem comigo viveu esse tempo existencial. E, assim, posso revivê-lo… em cumplicidade. Verbalizando-o ou ocultando-o (o tal pudor), digo eu, não só como narrativa, mas também como gesto, o gesto da escrita e da consignação desse tempo ao futuro. E não só, poderia ainda acrescentar. Ele, o autor, anda também às voltas, para além da escrita, com a recriação plástica de fragmentos da sua vida interior e dos ambientes que lhe servem de moldura viva. Um dia há-de fazer como eu e encontrar a sinestesia como rumo estético entre a pintura e a literatura. Ou talvez já o faça, em parte, através de uma conjunção entre a fotografia e a narrativa literária, onde aquela funciona para ele como suporte inspirador da escrita. Exercício plástico muito inspirado também na sua visão do mundo e da amada natureza, lá onde, tal como os deuses, também residem as cores que nos seduzem o olhar. Não era o Leonardo da Vinci que dizia, no “Tratado da Pintura”, que “la pittura è partorita da essa natura”, filha da natureza e parente de Deus, ou, diria eu, dos deuses? Fazendo arte, ele, o autor, está como que a ajudar o tempo a esculpir melhor a sua própria vida, chamando o futuro a um presente mais completo, promissor e, sobretudo, livre. Fazer do passado uma linfa que lhe alimente a veia artística e, assim, ir construindo livremente o seu próprio futuro com as asas do desejo. Mesmo, ou sobretudo, insisto, daquele que não se cumpriu integralmente por obra do destino. Mas que, por isso mesmo, aqui se projecta em forma de arte. Jas@11-2022
PCP – O NOME E A COISA
Por João de Almeida Santos
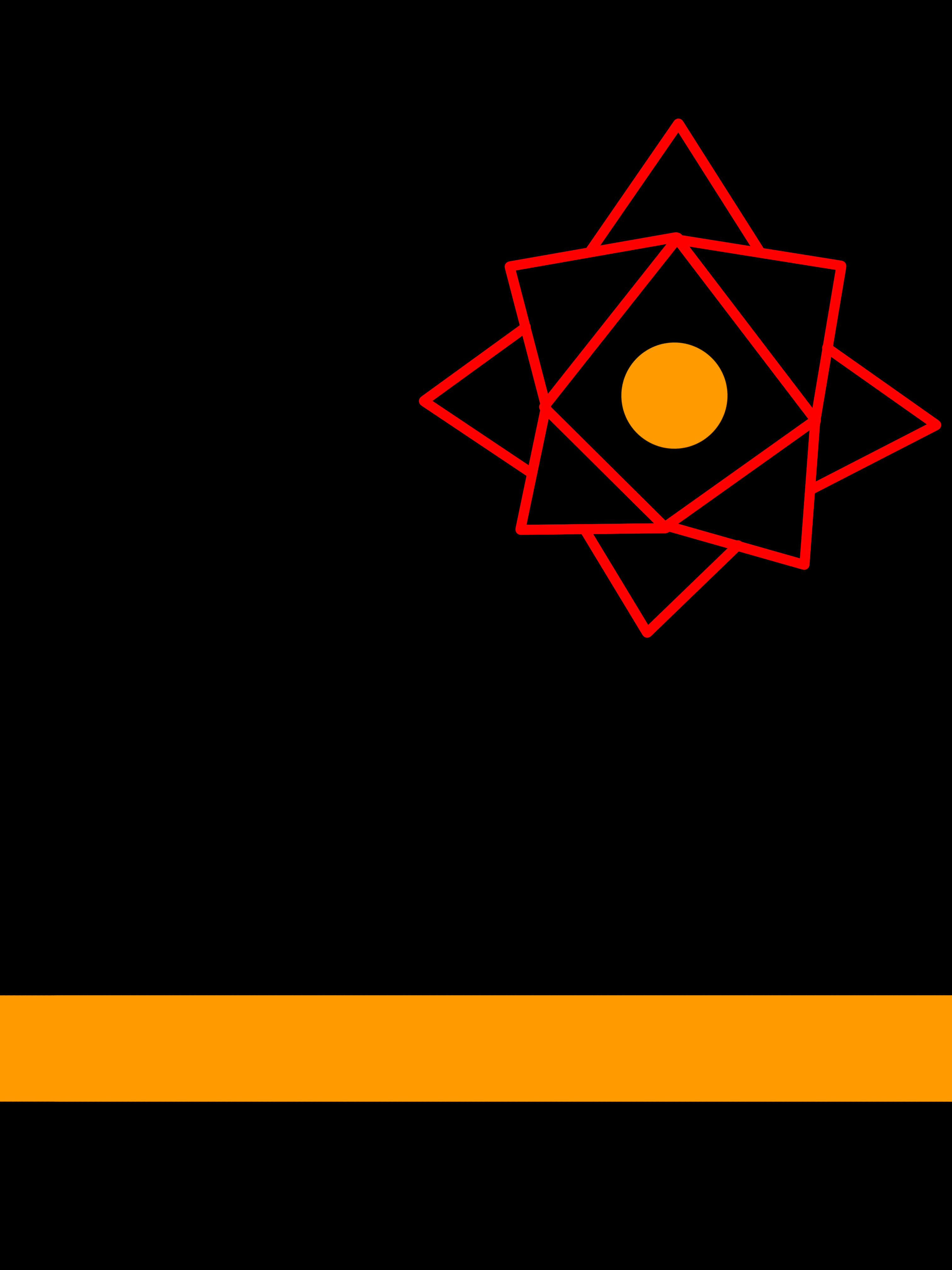
“S/Título”. JAS. 11-2022
A INESPERADA E RÁPIDA eleição do novo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, justifica uma incursão pelo universo doutrinário em que se move este partido, não só pela densidade histórica específica que ele transporta consigo, mas também pela sua inscrição numa tradição que determinou o destino de grande parte do século XX. E talvez ainda se justifique mais por, pela segunda vez consecutiva, o secretário-geral ser (depois de Jerónimo de Sousa) de uma condição diferente das de anteriores secretários-gerais, Álvaro Cunhal e Carlos Carvalhas, dois intelectuais: vir do mundo do trabalho e não ter formação superior, fazendo jus à natureza de classe do partido e, no fundo, melhor representar o trabalhador comum, sendo um deles. Vejamos.
I.
OS PARTIDOS COMUNISTAS nasceram na época das grandes narrativas ideológicas, disputando seriamente o terreno às narrativas religiosas. Os mesmos rituais, os mesmos catecismos, a mesma ordem existencial. Só que se a utopia religiosa coloca a utopia e a felicidade no além, a utopia comunista e a felicidade são terrenas. Mas eles são também filhos remotos do industrialismo, da revolução industrial inglesa e do êxodo rural para as periferias das grandes cidades. E surgiram também com a laicização integral e anti-elitista da política. E, ainda, da rápida evolução do sufrágio eleitoral, do alargamento da participação política e da emergência da sociedade de massas. François Furet, no seu belíssimo e longo livro sobre a utopia comunista Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XX.e siècle (Paris, Éditions Robert Laffont/Calmann-Lévy, 1995), fala da emergência das massas na política com a Grande Guerra e, depois, com a revolução soviética e os movimentos políticos radicais, de esquerda e de direita, que se lhe seguiram Europa fora, com as consequências que todos conhecemos. Todos lemos a obra do Ortega y Gasset, La Rebelión de las Masas, de 1926-1930 (1930; Ciudad del México, La Guillotina, 2010) e ficámos a saber que:
- “Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. (…) Esta crisis (…) se llama la rebelión de las masas” (10; itálico meu).
- “Así (…), creo que las innovaciones políticas de los más recientes años no significan otra cosa que el imperio político de las masas” (p. 20; itálico meu).
- “El modo de operar natural a las masas”: a «acción directa», que consiste em «proclamar la violencia como prima ratio, en rigor, como única razón” (pp. 104-105; itálico meu).
- “El estatismo es la forma superior que toman la violencia y la acción directa constituidas en norma. A través y por medio del Estado, máquina anónima, las masas actúan por sí mismas (p.173; itálico meu).
Nestas afirmações de Ortega y Gasset é possível encontrar o pano de fundo em que se inscreviam os movimentos mais radicais, de esquerda e de direita, que haveriam de se impor durante o período entre guerras. Estes movimentos representam, de facto, a rebelião das massas e dão origem a formas políticas que já nada têm a ver com a tradição liberal nem com a democracia representativa, que, na verdade, era considerada o verdadeiro inimigo, para uns e para outros.
II.
OS PARTIDOS COMUNISTAS nasceram no início dos anos vinte inspirados na revolução soviética e na doutrina marxista, apesar de a revolução russa ter sido mais filha da guerra do que da industrialização. De resto, a lógica que subjazia à sua doutrina era a lógica da guerra, a da aniquilação do inimigo de classe, o capital, a burguesia e, por consequência, também a propriedade privada dos meios de produção, como se verá, depois, de forma explícita, na Constituição soviética de 1936. Nada de estranho, portanto. Mas a verdade é que a Rússia era um país rural e a palavra que traduzia bem essa condição era obschina, formas de autogoverno das comunidades rurais russas, que viriam a ser abolidas definitivamente com o processo de colectivização da agricultura (1928-1929). Não se verificava, pois, um processo de industrialização, como previsto pela teoria. Antonio Gramsci até escreveu, a este propósito, um artigo no “Avanti”, em 24 de Novembro de 1917 (XXI, n. 326), cujo título era “A Revolução contra o Capital”. Sim, contra “Das Kapital”, de Karl Marx:
“Esta é a revolução contra o Capital de Karl Marx. O Capital de Marx era, na Rússia, o livro dos burgueses, mais do que dos proletários. Era a demonstração crítica da fatal necessidade que, na Rússia, se formasse uma burguesia, se iniciasse uma era capitalista, se instaurasse uma civilização de tipo ocidental, antes que o proletariado pudesse sequer pensar na sua desforra, nas suas reivindicações de classe, na sua revolução. Os factos superaram as ideologias (…), os cânones do materialismo histórico” (Gramsci, A., Scritti Giovanili, 1914-1918, Torino, Einaudi, 1958, p. 150).
E foi isto que aconteceu. Provavelmente, se não tivesse havido guerra não teria havido revolução. Não é por acaso que François Furet diz que o comunismo e o fascismo são filhos da guerra: «bolchevisme et fascisme sont les enfants de la Première Guerre mondiale» (1995: 39-40). E sabemos também que o marxismo que viria a enquadrar a ideologia dos partidos comunistas foi mais o DIAMAT e o ISTMAT (o materialismo dialéctico e o materialismo histórico) do que a extraordinária obra de Karl Marx. E que a obra de Friedrich Engels (sobretudo A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, a Dialéctica da Natureza e o Anti-Duehring) o influenciou mais do que a obra de Marx. Esta orientação viria, depois do tão divulgado Manual Popular de Sociologia Marxista, de N. Bukhárine, de 1921, a ficar consignada no famoso n. 2 do capítulo IV da História do Partido Comunista (Bolchevique) da URSS, de 1938, que seria publicado autonomamente em todo o mundo e que assumiria a função de autêntica bíblia do movimento comunista nacional e internacional. Mas não só. A estrutura constitucional dos países do socialismo de Estado viria a ficar, no essencial, definida na famosa Constituição Soviética de 1936.
(Para uma visão global sobre o comunismo veja o capítulo “Novas formas de comunismo e radicalismo de esquerda”, de minha autoria, na obra, coordenada por António Reis, As Grandes Correntes Políticas e Culturais do Século XX, Lisboa, Colibri, 2003, pp. 155-181).
III.
FOI ESTE O ENQUADRAMENTO DOUTRINÁRIO em que sempre se moveu o PCP. O marxismo que cresceu a seu lado, conhecido como marxismo ocidental – Gramsci, a Escola de Frankfurt, a escola dellavolpiana ou o estruturalismo marxista francês, de forte inspiração gramsciana – foi-lhe sempre estranho. E também a experiência do eurocomunismo, de Enrico Berlinguer, Georges Marchais e Santiago Carrillo, lhe foi estranha e claramente rejeitada. A sua posição de alinhamento com a URSS em relação à revolta húngara, em 1956, subsequente ao XX Congresso do PCUS (sendo provável, não consegui, todavia, obter informação segura sobre a posição do PCP sobre esta matéria), e à de Praga, em 1968, também. E finalmente, a clara rejeição da Perestroika. E, ainda, agora, mesmo depois do fim da URSS, a posição sobre a agressão russa à Ucrânia. E assim continua, fiel ao santuário russo da revolução de Outubro, ao anti-imperialismo americano e a essa tradição marxista-leninista, centrada na contradição principal entre trabalho assalariado e capital, na ideia de “consciência de classe” e na projecção da utopia de uma sociedade sem classes, “a sociedade nova”, de que falou o novo secretário-geral, Paulo Raimundo, no seu discurso de investidura, no passado domingo. É aqui que, no essencial, ainda estamos e é com estas categorias e posições que deveremos compreender o PCP, enquanto partido inscrito numa tradição que vem do século XIX e que ainda mantém nas suas grandes linhas. Se lermos o Programa e os Estatutos do PCP (Lisboa, Editorial “Avante!”, 2013) aí encontraremos uma componente doutrinária perfeitamente alinhada com esta tradição (especialmente nas pág.s 72-79).
IV.
VEJAMOS, pois, algumas afirmações constantes do Programa:
- Do capitalismo ao socialismo: “No sistema de capitalismo monopolista, o Estado, dada a sua natureza de classe, integra e assegura o funcionamento do modo de produção capitalista e a sua manutenção, inclusivamente com recurso à violência e a métodos coercivos, sendo, na sua essência e em geral, um instrumento do capital.” No capitalismo “acentua-se a contradição entre o capital e o trabalho, entre o carácter social da produção e a apropriação privada dos meios de produção, entre os monopólios e as camadas não monopolistas, entre as principais potências capitalistas e os países em desenvolvimento” e “impõe-se a superação revolucionária do capitalismo com a instauração de uma formação económica e social superior – o socialismo” (p. 75; itálico meu).
- O grande objectivo do PCP: “a abolição da exploração do homem pelo homem, a criação de uma sociedade sem classes antagónicas” – “liquidação da exploração capitalista” através da “revolução socialista” (pp. 79 e 72). “No horizonte da evolução social está o comunismo – sonho milenário da humanidade progressista, sociedade sem classes, sociedade de abundância, de igualdade social, de liberdade e de cultura para todos” (p. 81; itálico. meu).
- Historicamente, “as revoluções socialistas, com o poder dos trabalhadores, empreenderam a construção de uma nova sociedade sem exploradores nem explorados, sem classes antagónicas, sem discriminações e injustiças sociais, uma nova sociedade” (p. 74; itálico meu).
- Em Portugal, as características da sociedade socialista, segundo o PCP, são: no sistema político, o poder dos trabalhadores”, “a propriedade social sobre os principais meios de produção, uma direcção planificada da economia combinada com a iniciativa e directa intervenção das unidades de produção e dos trabalhadores”, “ a libertação dos trabalhadores de todas as formas de opressão e exploração” (80), a transformação da cultura em património, instrumento e actividade de todo o povo”, a “luta de classes” (p. 81; itálico meu).
- A autocrítica ou a crítica do socialismo de Estado: “um «modelo» que violou características essenciais de uma sociedade socialista e se afastou, contrariou e afrontou aspectos essenciais dos ideais comunistas. Em vez do poder político do povo, um poder excessivamente centralizado nas mãos de uma burocracia cada vez mais afastado da intervenção e vontade das massas e cada vez menos sujeito a mecanismos fiscalizadores da sua actuação. Em vez do aprofundamento da democracia política, a acentuação do carácter autoritário do Estado. Em vez de uma economia dinamizada pela propriedade social dos principais meios de produção, uma economia excessivamente estatizada desincentivando progressivamente o empenhamento dos trabalhadores e a produtividade. Em vez de um partido de funcionamento democrático, enraizado nas massas e delas recebendo energias revolucionárias, um centralismo burocrático baseado na imposição administrativa de decisões, tanto no partido como no Estado, agravado pela fusão e confusão das funções do Estado e do partido. Em vez de uma teoria viva e criativa, a sua dogmatização e instrumentalização” (p. 77; itálico meu).
No essencial, são estas, em discurso directo, as posições que constituem o pano de fundo doutrinário do PCP e que o identificam com a tradição marxista-leninista a que me referi: a natureza do sistema capitalista e o antagonismo económico, político e social; a luta de classes pela emancipação das classes subalternas e a superação da contradição entre capital e trabalho, guiada pela vanguarda da classe operária, o PCP, neste caso; a utopia comunista e da sociedade sem classes e sem propriedade privada dos meios de produção. Mas também o elogio da experiência histórica das sociedades do socialismo de Estado e a crítica dos seus desvios, do “modelo” que promoveu um Estado autoritário, o centralismo burocrático (e não o centralismo democrático), a estatização da economia (e não a propriedade social dos meios de produção), a confusão entre Estado e partido, o dogmatismo e a imposição administrativa das decisões. Assunção plena da velha tradição, balanço das coisas positivas da experiência socialista, mas também crítica dos graves desvios que levou à derrota do sistema.
V.
A TRADIÇÃO em que se inscreve a doutrina do PCP recusa frontalmente a tradição liberal (mas não são os únicos, pois até a orientação dominante do partido socialista tende também, e incompreensivelmente, a rejeitar a tradição liberal, agora dominantemente, e comodamente, lida e identificada como doutrina neoliberal, a sua versão mais radical); defende uma visão orgânica ou mesmo organicista da sociedade; aplica o centralismo democrático, fundado, no essencial, no domínio das relações verticais (da base para o topo e do topo para a base) sobre as relações horizontais (entre as estruturas); assume a natureza de classe do partido (“Partido político e vanguarda da classe operária e de todos os trabalhadores”; p. 82) e uma visão antagonista da dialéctica política e social, aliás, pouco conforme à natureza da dialéctica política democrática (na democracia não há inimigos, mas adversários); um partido onde o interesse geral e a vontade geral são identificados como coincidentes com o destino de uma concreta classe (o proletariado), aquela na qual Lukács, em História e Consciência de Classe, de 1923, reconhece existir uma “consciência de classe” em sintonia integral com a evolução necessária do processo histórico na fase do modo de produção capitalista, bem diferente, pois, da “falsa consciência” da burguesia.
Este património tem sido, como vimos, preservado, mesmo à custa de perda de influência, mas, na verdade, ele tem sido, na prática, relativizado pela experiência de quase meio século de concreto exercício da política no interior de uma democracia de matriz liberal, embora, por exemplo, nos estatutos esteja previsto o dever de os deputados, e outros eleitos em cargos públicos, manterem “sempre os seus mandatos à disposição do Partido” (n. 1 do art. 54 dos Estatutos), contrariando, deste modo, e frontalmente, a natureza do mandato não imperativo. Ou seja, tendo os partidos a exclusividade de propositura dos candidatos a deputados, eles, todavia, não são os titulares dos mandatos conquistados uma vez que, por um lado, são os eleitores a conferi-los e, por outro, se trata de funções de soberania no Estado, superiores à natureza privada dos próprios partidos e dos seus órgãos. Não é por acaso que os mandatos não são revogáveis e muito menos pelos partidos que propuseram os seus titulares. De qualquer modo, o PCP assume claramente a democracia representativa:
“democracia política baseada na soberania popular, na eleição dos órgãos do Estado do topo à base, na separação e interdependência dos órgãos de soberania, no pluralismo de opinião e organização política, nas liberdades individuais e colectivas, na intervenção e participação directa dos cidadãos e do povo na vida política e na fiscalização e prestação de contas do exercício do poder”, em suma, um Estado democrático e representativo (pp. 29, 36, 38).
E assume também de forma explícita e detalhada os princípios relativos à liberdade de expressão e de imprensa, o direito à informação e à livre constituição de partidos políticos sem “autorização prévia de entidades públicas”, o que, mais uma vez, parece contrariar o estipulado pela Constituição da República na alínea e) do n. 2 do art. 223 sobre as competências do Tribunal Constitucional: “ Verificar a legalidade da constituição de partidos políticos e suas coligações, bem como apreciar a legalidade das suas denominações, siglas e símbolos, e ordenar a respetiva extinção, nos termos da Constituição e da lei” (pp. 32-34). Competências que, de resto, hoje, este Tribunal parece já estar a usar com excesso de zelo. Mais: o PCP defende, curiosamente, que a democracia é a via para o socialismo, embora relativizando temporalmente a afirmação: “No Portugal do tempo em que vivemos o caminho do socialismo é o da luta pelo aprofundamento da democracia” (p. 73; itálico meu). O socialismo parece ser aqui assumido como democracia aprofundada, que, no fundo, é o que o PCP propõe como “democracia avançada”. A doutrina desenha a utopia, a prática relativiza-a e converte-a.
VI.
EM SÍNTESE, o PCP mantém no plano doutrinário os princípios fundamentais da tradição do DIAMAT e do ISTMAT, mas deu passos de gigante na assunção sem reservas da democracia representativa e dos seus princípios fundamentais, apesar de, tal como ela existe, ter uma matriz claramente liberal, tradição que foi sempre, e é, no plano doutrinário, rejeitada. Esta afirmação de que a democracia (e não a ditadura do proletariado) é a via do socialismo já fora assumida em 1989 pelo PCI e, até antes, se não erro, por Enrico Berlinguer. Um caminho que o PCP poderá aperfeiçoar sem trair o essencial dos valores que defende.
Que esta seja mesmo, cada vez mais, a via e que, com ela, o PCP também possa evoluir para a plena aceitação da União Europeia e da NATO como organização exclusivamente defensiva é o que deseja quem considera ser o PCP um partido necessário ao sistema de partidos português. E nesta sua nova fase, et pour cause, é natural que deseje os maiores sucessos ao PCP e ao seu novo Secretário-Geral. O seu sucesso será também o sucesso de uma democracia pluralista, justa e que não discrimina as diferenças políticas desde que elas se processem no interior de um verdadeiro patriotismo constitucional e de uma eficaz democracia representativa, que até poderá vir a ser uma democracia deliberativa. Jas@11-2022.

A POESIA E A PINTURA SEGUNDO LEONARDO
O "TRATADO DA PINTURA"
Por João de Almeida Santos

“Mulher”. JAS. Composição sobre desenho de LdV. 11-2022
VISITO COM FREQUÊNCIA o “Trattato della Pittura” (1631; Roma, Club del Libro Fratelli Melita, 1984) de Leonardo da Vinci (1452-1519). Desta vez, fui reler o que ele diz na I Parte (pp. 3-31), em particular o discurso sobre as relações entre a pintura e a poesia. E não resta qualquer dúvida: ele considera a pintura superior à poesia como arte, embora lamente que a pintura não esteja integrada nas chamadas “artes liberais”: gramática, retórica, dialéctica (trivio), aritmética, música, geometria e astronomia (quadrivio):
“Con debita lamentazione si duole la pittura per essere lei scacciata dal numero delle arti liberali” (p. 18).
Uma boa parte da argumentação de Leonardo baseia-se na superioridade da visão relativamente aos outros sentidos: “os olhos, que dizemos serem janela da alma” (p. 10). E no poder de oferecer, de forma imediata, à fruição uma totalidade expressiva que representa o que a natureza nos oferece, a realidade. O que, para ele, não acontece com a poesia. Acresce ainda que, nesta, pode não haver sequer correcto entendimento (“spesse sono le volte che non le sono intese”, p. 13), sendo necessários comentários, que muitas vezes também não espelham o pensamento do poeta (“la mente del poeta”). Ora isso não acontece com a pintura, que permite uma fruição com a mesma rapidez com que se fruem as coisas naturais (“com quella presteza che si vedono le cose naturali”). Se uma, a poesia, exige uma progressiva descodificação e interpretação a outra dá-se com imediatidade e de forma transparente ao olhar (“senso più nobile che l’orecchio”), de onde resulta uma “proporzione armonica”, o que não acontece com a poesia “per esser le sue parti dette separatamente in separati tempi” (p. 13). Separadamente, em tempos separados, sucessivamente, em progressão, no tempo de fruição. Compreende-se: a poesia trabalha com palavras, é preciso saber ler, conhecer as línguas ou então estar em condições de descodificar o que se ouve e progredir na leitura para ir dando conta do sentido do poema, enquanto a pintura se oferece sem necessidade de mediações e de esforço analítico (o pintor “abbraccia in sè la prima verità di tali corpi”, p. 7). E, para Leonardo, a comunicabilidade das artes, maior na pintura, marca profundamente a sua eficácia e a sua utilidade. E, além disso, a pintura comunica com universalidade sem ter necessidade de “intérpretes de diversas línguas, como têm as palavras” (p. 4).
I.
E, TODAVIA, LEONARDO diz o seguinte:
“La pittura è uma poesia muta, e la poesia è uma pittura cieca” (p. 12).
O que é curioso é esta intercambiabilidade da poesia e da pintura, reconhecida aqui por Leonardo. Esta equivalência, embora com configurações diferentes – uma é cega e a outra é muda – só se verifica na recíproca condição de artes, no seu reconhecimento como artes. A identidade de uma (a sua essência) equivale à da outra, mas cada uma surge determinada ou condicionada pelos sentidos com que opera. Cega ou muda, consoante seja a visão ou a fala/escrita que as caracterizam. Mas elas, sendo diferentes, são equivalentes – não é só a música que é irmã da pintura (p. 19) – enquanto arte, o género de que participam, para usar uma linguagem platoniana. Ou seja, elas só não se identificam porque os sentidos a que pertencem são diferentes no seu valor sensitivo e cognitivo, exibindo uma posição hierárquica diferente, onde a visão ocupa um lugar cimeiro. A frase é muito interessante e de certo modo relativiza o juízo drástico de Leonardo sobre a superioridade da pintura em relação à poesia. Superioridade bem expressa não só quando fala explicitamente do valor cognitivo do olhar, mas também quando diz que “la pittura è partorita da essa natura”, é filha da natureza e parente de Deus. É por isso que ele diz que “quem condena a pintura, condena a natureza” e é falho de sentimento (p. 7).
Mas vejamos ainda mais de perto o que Leonardo diz da sobre a pintura e a poesia:
“A pintura exibe um mérito superior ao da poesia, representa com mais verdade as obras da natureza do que o poeta, e são muito mais dignas as obras da natureza do que as palavras, que são obras do homem; porque tal proporção é a mesma que se verifica entre as obras dos homens e as da natureza e a que se verifica entre o homem e Deus” (p. 7; tradução minha).
II.
UMA DIFERENÇA ONTOLÓGICA, quase se poderia dizer, apesar da equivalência que Leonardo lhes reconhece. Da ordem do ser. No meu entendimento, do que aqui se trata é da natureza eminentemente sensitiva ou sensorial da arte (estamos perante um tratado sobre a pintura, onde as restantes sete partes se ocupam da técnica da pintura) e é por isso que ele reconhece a superioridade da pintura, já que ela não exige o esforço analítico e a mediação intelectual que a poesia exige, porque se dirige mais directa e rapidamente aos sentidos do que esta. E este, que não é também um problema da música, não só é um problema da poesia como é também um problema de toda a literatura. Só que a poesia o minimiza pela forma que assume: por um lado, pela sua dimensão musical, rimática, pela toada que o encadeamento rítmico dos versos gera; por outro lado, pela sua expressividade não analítica e a sua alta performatividade. Na poesia, cada palavra tem como que um valor de tipo onomatopaico, é como uma ressonância vital, um sentimento estilizado, um grito de alma, uma interjeição. É aqui que a poesia, diferenciando-se do romance, se aproxima mais da pintura e da música. E até do silêncio. Dá-se de forma mais imediata aos sentidos ao ponto de quase se confundir com eles. É isto que quero dizer quando digo que ela é altamente performativa. De resto, até já assistimos a experiências de escrita desenhada de poesia, a da poesia visual e concreta, que funde desenho e poesia, algo ainda mais íntimo do que o próprio processo sinestésico. E também existem as experiências de poesia meta-semântica onde a sonoridade domina e determina, de forma simplesmente alusiva, a própria dimensão semântica. Ou seja, o significado não está lá (as palavras são totalmente artificiais) e o que resta é tão-só a mera sonoridade, que pode ou não aludir indirectamente a determinadas palavras, através da proximidade dos sons. Mas é o próprio Leonardo que encontra algumas coincidências em ambas: a “invenzione” (na matéria) e a “misura” (nos versos ou na proporção das pinturas); mas também diz que, ao contrário do que acontece com a poesia, as outras ciências (por exemplo, a astrologia) vão beber na pintura e, ainda, que a pintura “muove più presto i sensi (…) che la poesia”, a pintura estimula mais rapidamente os sentidos do que a poesia (p. 16). É, portanto, mais sensitiva, mais sensorial, mais directamente dirigida ao sentidos, mais impressiva.
III.
A PINTURA, para Leonardo, exprime a relação do pintor com a natureza, enquanto a poesia exprime a relação do poeta consigo mesmo, enquanto sujeito poético, ou, como ele diz,
“rappresenta le opere dell’operatore, cioè le opere degli uomini, che sono le parole, com’è la poesia” (5).
Diria, pois, que ela exprime mais a atmosfera anímica do que a realidade externa, é mais espelho do “operatore” do que de algo que lhe seja exterior. Uma diferença muito consistente, mesmo tendo em conta que este naturalismo ou, se quisermos, este positivismo de Leonardo em relação à pintura não exclui a intrusão do pintor na alma do rosto que pinta, seja o seu seja o de outrem. Ou ele não diria de forma tão clara que os olhos são a janela da alma (p. 10) e o que liberta o corpo da sua prisão física. A conceptualização é assim, radicaliza as posições para que sejam mais nitidamente determinadas.
IV.
FIXEMO-NOS, pois, sobre o que ele diz acerca de outras diferenças entre a poesia e a pintura, lembrando-nos do famoso escrito de Walter Benjamin, de 1936, sobre “A obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica” (Torino, Einaudi, 1966), em particular da ideia de “aura”, de unicidade da obra de arte. O que diz Leonardo? Esta, a pintura, “não se copia”, “não faz infinitos filhinhos como (se) faz com os livros impressos”, é “preciosa e única” e “nunca pare filhinhos iguais a si”. Tal singularidade, acrescenta, “la fa più eccelente che quelle che per tutto sono pubblicate” (p. 5). É disto mesmo que se trata. A “aura” é a unicidade da obra de arte, a sua singularidade, a sua autenticidade e a sua inscrição numa tradição e num culto que funcionam como seus ambientes e de onde não é legítimo retirá-la sem que a sua singularidade seja afectada (W. Benjamin, na obra citada). Pois também nisto Leonardo estabelece a diferença: a que existe entre os livros que transportam igualdade absoluta entre eles, valor desmultiplicado e igual, ao contrário de uma obra de arte, de uma pintura que é única, singular e não reprodutível. E esta é também uma diferença relevante na lógica de Leonardo.
V.
MUITAS SÃO AS DIFERENÇAS entre a pintura e a poesia para Leonardo da Vinci, sendo certo que esta última se aproxima mais da pintura e da música do que o romance. É evidente que Leonardo partia claramente de uma posição naturalista sobre a pintura e não valorizava suficientemente a estrutura nuclear da poesia e as componentes que a aproximam da pintura ou da música, quer do ponto de vista semântico quer do ponto de vista mecânico, se assim posso dizer, referindo-me à sua dinâmica musical, à toada e à melodia, mas também ao minimalismo frásico do discurso poético, características que o tornam mais intenso e sensitivo, mais capaz, portanto, de estimular rápida e directamente os sentidos… e não só o espírito. É a conjunção destes elementos que faz do discurso poético um discurso altamente performativo e que lhe atribui um poder sensitivo ou sensorial provavelmente maior do que o que transparece do escrito de Leonardo.
VI.
ESTAS SÃO CONSIDERAÇÕES, centradas no “Trattato della Pittura”, sobre a relação entre a pintura e a poesia, sem considerar outras convergências, como as da sinestesia, ou diálogo convergente, mas com autonomia relativa, entre a pintura e a poesia e a própria experiência da poesia visual e concreta, que, todavia, considero como experiência falhada, sobretudo por ser desviante e por retirar densidade e mistério à poesia ou mesmo por não passar de um mero “amusement” poético e plástico. E, todavia, também esta foi uma tentativa de aproximação da poesia da pintura, de simbiose experimental de duas artes. Ou ainda como a da poesia meta-semântica, onde a sonoridade é o eixo decisivo da composição poética. O exemplo que mereceria uma aturada reflexão é “Il Lonfo”, de Fosco Maraini.
VII.
COMPREENDO MUITO BEM a posição de Leonardo, o seu objectivo neste tratado sobre a pintura, mas parece-me que a poesia reflecte uma tal posição intermédia entre a narrativa literária e a pintura que merece uma reflexão que vá para além das categorias que o grande Leonardo aqui avança. Esta posição intermédia não só reflecte o intervalo em que o poeta se coloca, mas também o carácter não analítico, mas sensitivo (sensorial e sensual) do discurso poético. Diria, por fim, que a poesia é uma arte que se aproxima mais da pintura e da música do que da própria narrativa literária, a que parece pertencer. Jas@11-2022.
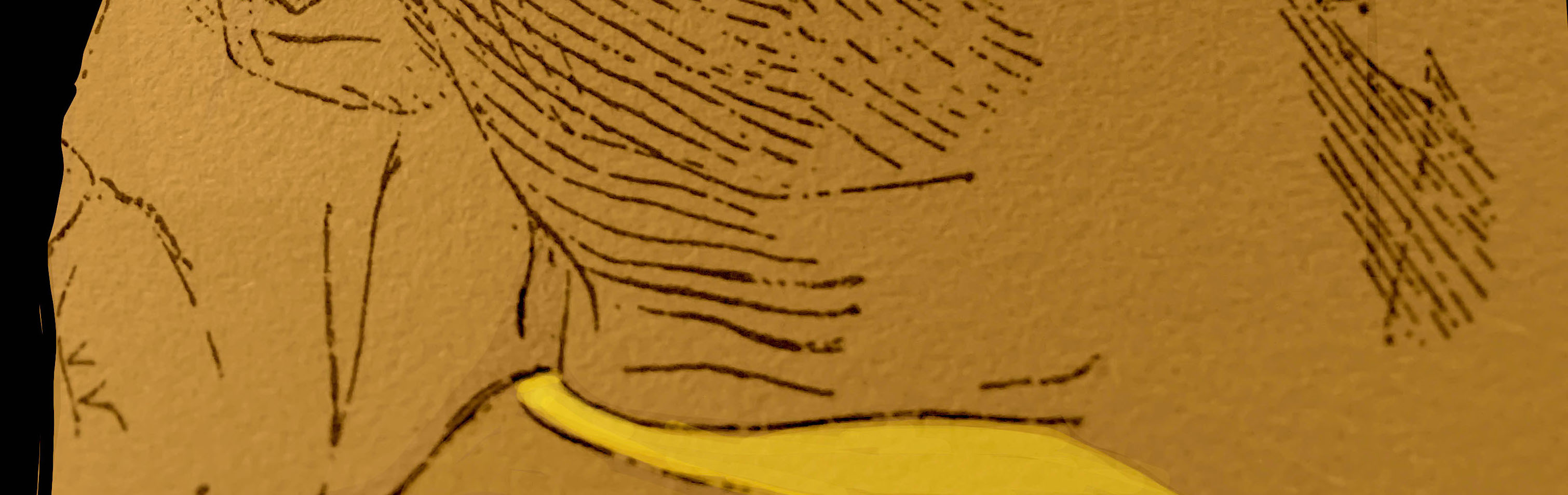
“TRIAL&ERROR”
O MÉTODO DA POLÍTICA BRITÂNICA
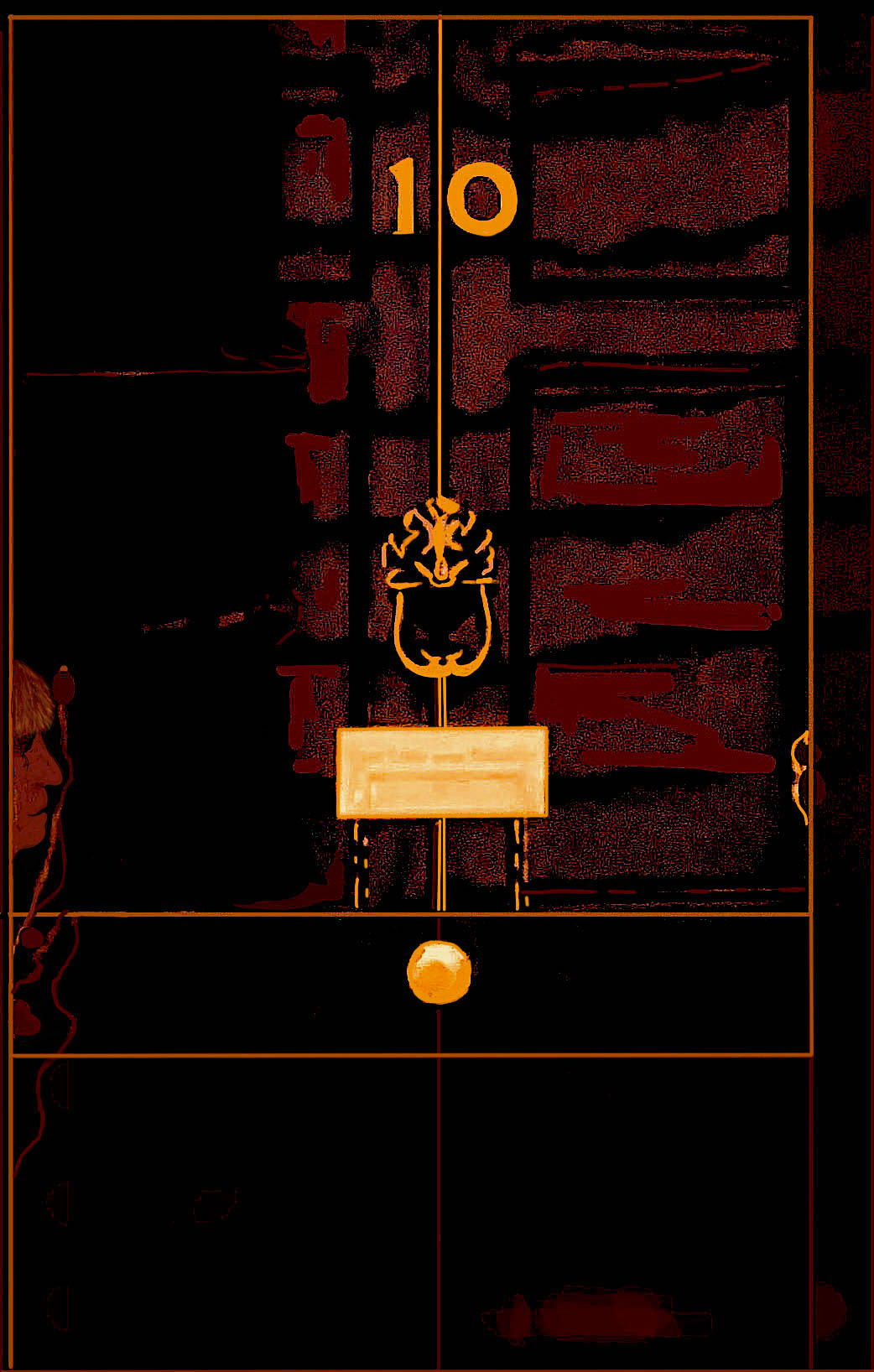
“S/Título”. JAS. 10-2022
AS ELEIÇÕES OCORRERAM no final de 2019, com um extraordinário resultado para os tories de Boris Johnson, mas, como se sabe, este, atropelado pelas inúmeras trapalhadas ocorridas durante a pandemia, foi forçado a deixar a liderança e, consequentemente o cargo de primeiro-ministro (é esta a norma no sistema britânico), tendo sido substituído por Liz Truss, após uma renhida disputa com Rishi Sunak. Agora, pouco tempo depois de assumir a liderança, também Liz Truss acabou por ter de sair e o Partido Conservador escolheu rapidamente, mais uma vez, um novo líder e um novo primeiro-ministro. Três líderes e três primeiros-ministros em três anos (e cinco em seis anos, desde 2016). Pior: três primeiros-ministros num só ano. Pior ainda: entre Julho e Outubro. É obra, temos de reconhecer. E as eleições só serão em Dezembro/2024 ou em Janeiro/2025. Haverá ainda tempo para um quarto líder e um quarto primeiro-ministro? Não se sabe, mas, à prova dos factos, já verificados, tudo pode acontecer. O método parece ser o conhecido “Trial&Error”. Os conservadores vão tentando, até reduzindo procedimentos, até acertar. É a política compatível com este método?
I.
O PARTIDO CONSERVADOR tem uma maioria muito confortável no parlamento (357 mandatos, contra 196 dos trabalhistas, sendo necessários para a maioria absoluta 326). O sistema institucional numa democracia parlamentar como a britânica confia a formação do governo ao partido que tiver maioria. Apesar do poder (basicamente cerimonial) de nomear e exonerar o primeiro-ministro e de dissolver o parlamento, a margem de escolha do Rei não existe, pois este, de acordo com a tradição, deve aceitar as escolhas políticas que o primeiro-ministro e o parlamento fizerem, não dispondo do poder de livremente decidir sobre a nomeação do primeiro-ministro ou sobre a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições. O rei reina, mas não governa e tem o estrito dever de manter neutralidade política.
“the Crown is an integral part of the institution of Parliament. The King plays a constitutional rol in opening and dissolving Parliament and approving Bills before they become law” (...) “Time has reduced the power of the monarchy, and today it is broadly cerimonial” (…). “The day after a general election the King invites the leader of the party that won the most seats in the House of Commons to become Prime Minister and to form a government” (…) “The Crown also dissolves Parliament before a general election” (do Site do UK Parliament).
Numa palavra: os poderes do rei são de carácter meramente formal. A neutralidade real é garantida pela (obrigatória) assunção formal das decisões políticas tomadas pelo Parlamento e pelo PM. O partido maioritário detém, assim, todo o poder e, note-se, está também acima de qualquer liderança, relativizando de certo modo aquela que tem sido a crescente personalização da política (maior nos sistemas presidencialistas e nos sistemas eleitorais proporcionais). Mas também acontece que o poder do partido e o da liderança não anulam o poder de cada militante (decisivo para a eleição do líder) e, sobretudo, de cada deputado no seu interior, enquanto eleito em sistema maioritário uninominal e portador de legitimidade originária própria. Note-se que, desta vez, por decisão do Comité 1922, Rishi Sunak foi eleito somente pelos deputados do partido, sem recurso ao voto dos militantes (o que não acontecera com Liz Truss). Neste sentido, o partido conserva uma forte dialéctica interna diferente daquela onde a liderança partidária domina absolutamente a vida interna dos partidos, sendo a militância sobretudo “braço armado” da liderança de turno, “massa de manobra” para o combate eleitoral, não tendo os deputados o mesmo poder. Isto sobretudo nos partidos mainstream, nos partidos que tradicionalmente disputam a alternância governativa e que, por isso, dispõem de um vasto poder de ocupação da administração do Estado. Neste caso, o sistema eleitoral que melhor se adapta é o sistema proporcional com listas fechadas, onde não só as lideranças podem impor os seus candidatos, mas onde também estes não têm de disputar directamente os círculos eleitorais onde se candidatam – na verdade, a disputa centra-se sobretudo no partido (na sigla) e numa liderança altamente personalizada. E por isso verifica-se uma diferença substancial entre estes dois sistemas: em ambos o partido é decisivo, mas no sistema maioritário uninominal não só os deputados têm uma maior autonomia política, correspondente à responsabilidade pessoal de ganhar o respectivo círculo eleitoral (constituency), como também o partido na sua proposta tem de reconhecer e respeitar as dinâmicas da sociedade civil, sendo obrigado a fazer criteriosas escolhas dos seus candidatos se quiser ter sucesso eleitoral. Nestes sistemas muitas vezes a maioria eleitoral no país nem sequer corresponde à maioria vencedora. Esta pode perder no país, mas ganhar em mandatos. Este sistema eleitoral (maioritário uninominal) tem naturalmente uma influência directa sobre o próprio partido. Não é a panaceia que tudo resolve, mas é melhor do que um sistema que acabe sempre por afunilar o processo político na liderança do momento. Tal como as primárias abertas não o são, embora também estas sejam melhores do que o sistema que não as adopta. A questão é mais funda, mas também aqui está muito em jogo o bom e o eficaz funcionamento de um partido político.
II.
O SISTEMA INGLÊS tem esta vantagem e não raramente se assiste a crises de líderes (e de primeiros-ministros) centradas nos respectivos grupos parlamentares. Foi o que aconteceu com Johnson e com Liz Truss. Parece ser negativo, mas, na realidade, é mais positivo do que negativo. O sistema ganha maior vitalidade e liberdade interna.
Mas, neste caso, depois da saída de Liz Truss, será compreensível que se assista a uma terceira tentativa sem que, razoavelmente, a palavra seja devolvida ao povo (mas nem sequer foi dada aos militantes), verificada que está a longa desorientação do próprio partido conservador? Provavelmente, se fosse uma república parlamentar, como a nossa, o Reino Unido estaria agora em eleições antecipadas. Em Portugal seria assim, com toda a certeza. Já aconteceu por menos (recentemente, mas também com a dissolução do Parlamento por Jorge Sampaio). Só que na monarquia constitucional britânica, com um Rei desprovido tradicionalmente de iniciativa política, não há mecanismo institucional que possa decidir eleições antecipadas, estando esse poder no Parlamento (existe, para a dissolução, um Fixed-term Parliaments Act 2011: “An Act to make provision about dissolution of Parliament and the determination of polling days for paliamentary general elections”) e no primeiro-ministro.
E, todavia, parece evidente, vistas as circunstâncias, que o Reino Unido ganharia em ir para novas eleições legislativas como vem pedindo o Labour de Keir Starmer, dado, pelas sondagens, como claríssimo vencedor se isso viesse a acontecer, o que indicia uma evidente perda de legitimidade dos conservadores. Mas os tories, estando no poder desde 2010 (desde o tempo de David Cameron, o verdadeiro responsável moral pelo BREXIT) e estando, numa sondagem de YouGov, 33 pontos abaixo dos trabalhistas (21% contra 54% do Labour) e 21 pontos noutra, da Survation, não parece estarem muito interessados em ir para eleições, esperando melhores condições em 2024/2025. O que não será coisa fácil. O novo líder foi, de facto, declarado na Segunda-Feira e nomeado pelo Rei ontem. E é Rishi Sunak. O sistema procede, pois, por um cada vez mais expedito método “trial and error” no interior do partido maioritário e, consequentemente, no próprio executivo britânico. Vamos ver se é de vez agora e iremos também ver se os cidadãos e o grupo parlamentar farão uma avaliação positiva da sua acção até às próximas eleições. Rishi Sunak tem, portanto, pouco mais de dois anos para mostrar o que vale. Como se dizia na segunda-feira, 24.10, no New York Times (Eshe Nelson), ele vai precisar de muita habilidade para navegar entre um partido “unruly and fractious” e o rigor nas finanças públicas exigido pelos mercados financeiros. Para já, reconduziu grande parte do governo anterior.
III.
NA VERDADE, esta situação não parece dignificar muito a própria política, ao reduzi-la simplesmente a uma questão de poder e, neste caso, ao único objectivo de manter o poder a todo o custo. As virtudes do sistema britânico têm, neste caso, consequências que são claramente negativas. Na verdade, não havendo eleições, como decidido pela ex-primeira-ministra e pelo Comité 1922, isso significará uma ulterior degradação da política ou mesmo uma autêntica autêntica palhaçada democrática, como afirmam os autores de uma petição em curso (promovida pela Avaaz.Org – The World in Action) para a realização imediata de eleições: “it makes a mockery of democracy”. Pelo menos, parece ser a redução da política a um mero exercício de poder, a um seu uso instrumental, a uma menorização do próprio princípio da legitimidade substancial e da legitimidade de exercício. E um uso excessivo (em política), e cada vez mais expedito, do método assente em “trial and error”, pouco adequado ao processo político democrático, mesmo tendo em consideração a natureza (livre) do mandato não imperativo. De resto, como vimos, as sondagens são claríssimas sobre o estado da opinião pública e a legitimidade do partido conservador para governar. Talvez Keir Starmer tenha mesmo razão: “the Tories have shown they no longer have a mandate to govern. (…) It’s time to a general election” (de um e-mail de Starmer). Parece-me mesmo que sim. Em nome da decência política. Mas isso não irá acontecer se Sunak conseguir estabilizar a liderança do partido conservador, a sua principal tarefa, já que a resolução da crise se mostrará muito mais difícil.
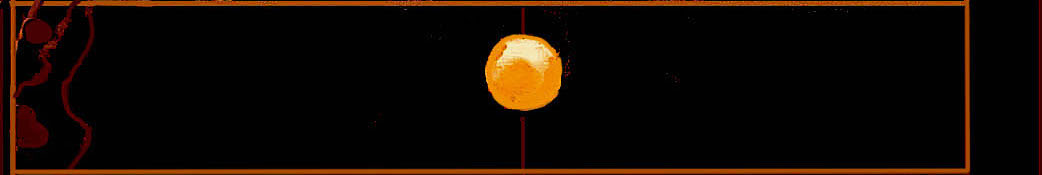
A LIÇÃO ITALIANA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 10-2022
TALVEZ O CASO ITALIANO mereça uma atenção especial. Não seria a primeira vez. E não só porque, na sua história, houve a originalidade da criação do fascismo. Ou porque foi também a única democracia europeia (não falo das autocracias que, entretanto, se mantinham) que permaneceu mais de quarenta anos bloqueada, sem alternância no poder, até à queda do Muro de Berlim. Houve sempre uma conventio ad excludendum relativa ao único partido de oposição (o PCI) com capacidade alternativa de governo que impedia a sua chegada ao poder. Isto, apesar de, em 1981, François Mitterrand ter engajado quatro ministros do PCF no poder (entre os quais Charles Fiterman), levando desse modo, e paradoxalmente (ou não), este partido ao desaparecimento da cena política francesa. Mas em Itália a situação manteve-se inalterada. Apesar do eurocomunismo e da liderança confiável de Enrico Berlinguer e de quem se lhe seguiu na liderança (Alessando Natta e Achille Occhetto). A Itália é uma grande democracia que viu o imenso património político e ideal acumulado do PCI desmoronar-se progressivamente a caminho da actual irrelevância do Partito Democratico. Trata-se de um país que é um poderio económico europeu e com um património histórico e cultural único. Um dos pilares da União Europeia. Um berço da Europa. Um país que conheço bem, onde vivi e trabalhei dez anos e sobre o qual escrevi centenas e centenas de páginas. Conheci muito de perto os meandros internos da política italiana pela proximidade que tive com vários dos seus mais altos representantes. Vivi por dentro a sua história política, mas também a sua história cultural. Mas hoje vejo-me confrontado com algo que julgava que nunca iria ver na minha vida: as mais altas posições do Estado estarem ocupadas pela direita radical, aquela cujo património nos leva directamente ao Movimento Sociale italiano (MSI), de Giorgio Almirante, e mesmo à Repubblica di Salò. Com efeito, o Senado é já hoje dirigido por Ignazio la Russa, um personagem que deu os seus primeiros passos políticos no MSI de Giorgio Almirante e que sempre me fez lembrar um episódio impressionante desse extraordinário filme de Bernardo Bertolucci, o “Novecento”. Por sua vez, Lorenzo Fontana, o novo Presidente da Câmara dos Deputados, da LEGA de Salvini, é um católico ultra, tradicionalista e alinhado, através do seu conselheiro espiritual Vilmar Pavesi, com as posições do famoso bispo Marcel Lefebvre (casou-se segundo o “rito tridentino”) e defensor acérrimo das idiossincrasias mais retrógradas; um homem que reza, diz-se, cinquenta avé-marias por dia e que enxameia as redes sociais com santos e santinhos. Nada de mal, mas algo que nos dá bem ideia do que será a gestão institucional de Itália. Amanhã, a defensora da “universalidade da cruz” e fundadora dos “Fratelli d’Italia”, Giorgia Meloni, será a Presidente do Conselho de Ministros. Seguir-se-á a ocupação de todos os cargos de nomeação por parte dos conservadores radicais. Não estaremos a caminho de uma teocracia nem do fascismo. Não. Mas lá que devemos estar atentos, lá isso devemos. Pelo caminho, até já tenho saudades dos tempos em que Itália era governada pela DC e pelo PCI (que nunca governou, mas que tinha, e exercia, muito peso político).
I.
MAS A VERDADE É QUE, no país, o bloco de direita é minoritário porque, à prova dos factos (eleitorais), teve menos um milhão e meio de votos do que o centro-esquerda. A sua vitória deveu-se sobretudo ao sistema maioritário uninominal, a uma só volta, aplicável a cerca de 37% do eleitorado, e à estupidez umbilical do centro-esquerda. Mas agora também acabamos de ver o partido de Berlusconi (excepto o próprio e a ex-Presidente do Senado Casellati) a não participar na votação de La Russa, que obteve, todavia, da oposição 17 votos. O que me dá algumas garantias. Se nem a oposição se preocupa, por que razão me hei-de preocupar eu? O governo está em formação e veremos se o programa de governo exprime aquele que foi o moderado programa eleitoral do bloco de direita ou se haverá alterações substanciais ao que foi apresentado aos eleitores. E, todavia, não creio mesmo que se possa dizer que o fascismo chegou a Itália, assim, com a reposição de algo que a democracia rejeitaria liminarmente, até porque ela ainda dispõe de mecanismos suficientemente robustos para isso. A chave de leitura do que virá aí, na minha perspectiva, não será essa. A história tem, claro, “corsi e ricorsi”, como dizia o Giambattista Vico. Mas os “ricorsi” não suficientes para fazer regressar Mussolini. E, de qualquer modo, nesta teoria a história progride sempre para novas fases. E até creio que, apesar de soberanistas (a LEGA e Fratelli d’Italia), nem sequer será a questão europeia (não esqueçamos que Itália é o país que leva a maior dotação do PRR, mais de 200 mil milhões de euros) a marcar a diferença ou a da guerra na Ucrânia. Neste último aspecto, Giorgia Meloni sempre foi clara. A “pacchia” pode ter acabado, mas 200 mil milhões são sempre 200 mil milhões. E, tenho a certeza, a Itália não é a Hungria, que, apesar de tudo, se mantém na União. Farão bloco, sim, “ma non troppo”. Disso também tenho a certeza. Por uma simples razão: Itália não fez parte do bloco das repúblicas socialistas, do Comecon ou do Pacto de Varsóvia. E isso fará alguma diferença.
II.
AS QUESTÕES INCONTORNÁVEIS serão, no meu entendimento, as da imigração e dos direitos civis. Mas a mudança ocorrerá também no plano mais global da hegemonia ético-política e cultural. Foram muitos os anos em que a direita mais radical esteve também sujeita a uma conventio ad excludendum. E em que sofreu uma capitis diminutio ideológica e política, para pagar o preço do “ventennio”. E outros tantos anos em que a hegemonia foi claramente do partido comunista italiano, incluído o campo cultural. A este propósito, veja-se os meus ensaios “La Cosa” e “A Revolução no Sistema Político Italiano e a Esquerda” na Revista “Finisterra” (5/1990 e 15/1994, pp.95-109 e 51-69), onde mostro como. Mas, depois, o que tivemos foram outros tantos anos em que a ideia de hegemonia, com a tecnicização progressiva da política e a financiarização global da economia, parece ter sido banida do vocabulário político, à esquerda e à direita. Só que, entretanto, ela parece estar a regressar em força, quer na óptica da direita mais radical quer na de uma esquerda fracturante que procura impor uma visão do mundo politicamente correcta. Uma matriz mais tradicionalista e outra mais construtivista. Duas visões antitéticas que nada devem à tradição iluminista e liberal. Ou seja, a hegemonia está a entrar pelos lados mais perigosos da história, pondo em causa a própria ideia de liberdade e a matriz da nossa própria civilização. O tradicionalismo e o construtivismo são, de facto, duas visões que tendem a anular uma parte substancial e progressiva da história que renasce com a Revolução Francesa. Esta dimensão da hegemonia, entretanto, tem vindo a ser ignorada pelo centro-esquerda que, em compensação, se está a deixar seduzir pelo militantismo do politicamente correcto, do construtivismo social e das políticas identitárias, acabando por não definir com exactidão aquela que deveria ser a sua própria colocação. Esta marcha tem ajudado à paralisia ideológica do centro-esquerda, que tem preferido, pelo contrário, embarcar acriticamente neste discurso, exibindo-o retoricamente como o discurso da nova esquerda, talvez porque, assim, não tem de propor um seu discurso próprio, progressista, sim, mas mais realista e respeitador da temporalidade histórica, ao mesmo tempo que também se alimenta do anacrónico discurso do militantismo antifascista, como se a história não fosse dotada dessa astúcia (List) da razão que se impõe à dialéctica das contingências ou das meras oportunidades. Alguma transcendência será possível encontrar na história, sem que ela tenha de ser referida necessariamente a deuses ou ao destino. Sim, mas a verdade é que o centro-esquerda sente-se muito bem aconchegado e resguardado num “politiquês” asséptica e programaticamente correcto e num manto discursivo diáfano transversal capaz de encadernar muito bem as políticas ao sabor das contingências, dos oportunos cálculos eleitorais e do ditame da razão económica global. Do que não se apercebe é que há uma cidadania que tem vindo a crescer ao lado destes discursos e que já não os absorve acriticamente, votando hoje cada vez mais em discursos com substância e clareza (seja ela de esquerda, França, por exemplo, seja ela de direita, Itália, por exemplo) ou, então abstendo-se.
Pois bem, o bloco de direita italiano somar-se-á aos da Hungria e da Polónia e tentará desenvolver mecanismos políticos internos que transformem a sua hegemonia eleitoral numa mundividência hegemónica. Ou seja, a questão central disputar-se-á no terreno da sociedade civil e, por isso, o centro-esquerda deve construir a sua própria e autónoma identidade ético-política e cultural de modo a que se possa contrapor com eficácia à visão tradicionalista, nacionalista e soberanista do bloco de direita, e no qual, de resto, a visão neoliberal é claramente minoritária (enquanto representada por Forza Italia). Sinceramente, não sei se a direita radical italiana será movida por essa pulsão hegemónica (ajudada pela crescente tendência mais global), se terá essa ambição, sem se deixar afogar nas ingentes tarefas governativas e pela gestão dos próprios interesses de curto alcance. Alguns já falam de uma revolução ou agenda “antropológica positiva” alternativa. Que ela tem condições para isso, é verdade, não só porque dispõe de doutrina, mas também porque é nela que tem vindo a sustentar o seu próprio crescimento político e eleitoral, designadamente no seu combate frontal à agenda dos apologistas do politicamente correcto e das políticas identitárias. No extremar de posições, designadamente no plano dos direitos civis, sente-se cada vez mais a falta de uma consistente e hegemónica visão progressista, moderada, respeitadora da temporalidade histórica e adversária quer do tradicionalismo ultra quer do construtivismo social e linguístico.
III.
E, TODAVIA, SE VIRMOS DE PERTO o panorama político do centro-esquerda italiano o horizonte é algo desolador. O PD é todo para reconstruir e redesenhar. É convicção generalizada que a mudança não pode esgotar-se numa simples mudança de dirigentes. Mas também é convicção generalizada que a operação não é simples. O Movimento5Stelle deverá, com Conte, consolidar uma sua identidade, que já não é a de um “partido digital”, a do defensor da democracia directa, a do neopopulismo que não é de esquerda nem de direita. Também este partido terá de se identificar melhor aos olhos dos italianos. Depois, vem o chamado terceiro polo de Calenda e Renzi. Mas aqui, com o imprevisível Renzi, é impossível prever o que possa vir a acontecer. Deste personagem pode-se esperar tudo e o contrário de tudo. A sua única estratégia é a da sobrevivência política, sem olhar a meios políticos ou morais. O seu modelo parece ser o do partido unipessoal. E por isso não é preciso ver mais para que a dúvida permanente se instale sob forma de certeza: não se pode confiar nele, porque se trata de um verdadeiro catavento.
IV.
O essencial discute-se aqui, talvez mesmo mais do que a perspectiva programática, uma dimensão para onde as forças de governo parece, cada vez mais, tendencialmente convergirem (todas elas), como se os governos fossem uma espécie de oráculo onde os vários sacerdotes se vão revezando nas liturgias, com os “deuses” a comandarem lá de longe, movendo os fios a seu bel-prazer, isto é, de acordo com os seus interesses e fins últimos. E sabemos bem que os partidos da alternância estão mesmo em crise, até nos casos em que ainda governam. De resto, os sistemas de partidos estão fragmentados por todo o lado e os seus discursos perderam poder mobilizador perante a cidadania. O asseptismo ideológico veio para ficar e só falta mesmo que os políticos passem a dizer, sistematicamente, sempre que haja uma decisão a tomar, que a entregarão aos técnicos da matéria em causa. Especialistas, técnicos, reguladores, tribunais constitucionais, grupos de missão, União Europeia – tudo serve para “descontaminar” a decisão da política. E por isso acho que a descolagem já é com a própria política, mais do que com os programas, de resto, cada vez mais tendencialmente iguais. A tendência é, de facto, a de mascarar a decisão política com a roupagem tecnocrática ou até científica, ou seja, a de retirar dimensão política à decisão. De resto, o bem-estar dos cidadãos parece ter sido mesmo reduzido a uma questão de gestão. A uma questão empresarial. Uma questão de racionalidade técnica. A determinação de fins, o funcionamento global da sociedade, os valores, o intangível, a educação estética do cidadão, a profundidade temporal (em relação ao passado e em relação ao futuro), tudo isso é redutível e convertível numa visão simplesmente empresarial da sociedade, quando, afinal, o que da experiência sabemos é que é precisamente o contrário o que acontece: a importação para dentro do universo empresarial das próprias categorias da vida social. Isto nas visões empresariais mais avançadas. Exemplo clássico? O fordismo. Veja-se o que dele disse Gramsci nos “Quaderni del Carcere”.
V.
A POLÍTICA MUDOU MESMO. Por um lado, os partidos da alternância tendem cada vez mais a despolitizar a decisão política, deixando que ela se exprima somente durante os períodos de deliberação política, sobretudo eleitorais. Por outro, cresce na cidadania a vontade de uma política diferente que não lhe é oferecida, a não ser pelos extremos do espectro partidário. Mas é disso que os partidos mainstream não se querem convencer. E sinceramente não sei como é que o Partito Democratico se vai reconstruir: que discurso, que identidade, que estratégia. E não sei se se porá a questão da hegemonia, ou seja, a procura de uma identificação com o que de melhor a Itália tem para oferecer em todas as dimensões da sua riquíssima história. A experiência ganhadora do M5S acabou. Esse já não é o partido de Conte. Casaleggio morreu. E Beppe Grillo já só pensa em si e nos benefícios que ainda pode conseguir da sua posição de “Garante”. O Luigi di Maio nem sequer foi eleito pela sua minúscula e recente formação política. Desapareceu. Como desapareceram politicamente os herdeiros de Casaleggio, a começar pelo filho. E quanto ao chamado “terzo polo” não vejo mesmo como é que se poderá aguentar com um saltimbanco como esse tal Matteo Renzi. Falta gravitas à política actual. E a cidadania cada vez se reconhece menos nela. Senão vejamos. Como acreditar, quando um dos parceiros do bloco de direita que venceu as eleições, precisamente Silvio Berlusconi, diz da futura Presidente do Conselho de Ministros: “Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”. Mas, mais: ela é “supponente, prepotente, arrogante e ofensiva” e até “ridicola”, se a palavra não tivesse sido riscada. E Forza Italia é um partido necessário para garantir uma maioria de suporte do governo chefiado por Giorgia Meloni. Berlusconi sabe bem do que fala, pois ela foi sua ministra (da Juventude) num dos seus governos e não adianta que agora venha desmentir para levar a bom porto as suas operações ministeriais. E a LEGA? O famoso “Senatur” Bossi ainda mexe e muitos já falam do regresso da velha LEGA. E, para ser sincero, nem me parece que os 26% de Fratelli d’Italia estejam ancorados muito solidamente na sociedade italiana. Porque a falta de gravitas, na verdade, talvez seja mesmo transversal.
VI.
A CIDADANIA TAMBÉM MUDOU muito e hoje o cidadão pode saber tudo acerca de quem o representa e de quem o governa. Conhecer as vidas dos representantes e dos governantes. O sistema informativo, mesmo com essa enorme dimensão simulacral que o integra, cresceu brutalmente e isso veio alterar significativamente a percepção acerca da política. Já não é possível determinar instrumentalmente a estrutura da opinião pública como quando eram os grandes meios de comunicação, o outro lado do poder, a fazê-lo. Esta mudança implica uma mudança radical na forma como a cidadania olha para o poder. Mas é precisamente aqui que os partidos mainstream falham rotundamente ao não perceberem que a política deve ser abordada com outras categorias que não as que tem vindo a adoptar. Que deve restaurar a sua natureza originária, como governo de seres humanos e não de coisas. Olhar para o exemplo das religiões e do poder que elas exprimem. Olhar para o seu sucesso. Ou para os grandes desportos de massas. Numa palavra, olhar para a dimensão emocional da política, para aquilo que toca mais profundamente o ser humano, por um lado, humanizando-a e, por outro, tornando-a mais amiga da natureza. E não só para sobreviver fisicamente, mas também como reconhecimento de que o ser humano é também ele próprio natureza. As sociedades não são empresas porque nelas a presença do elemento emocional (e os sentimentos) é decisiva e deve ser considerada fundamental. O Max Weber falava criticamente de “gaiola de aço” para designar o sistema jurídico-racional que tendia a engavetar a realidade em fórmulas burocráticas e desumanas. Hoje temos “gaiolas electrónicas” e “gaiolas estatísticas” que engavetam a vida dos indivíduos. O Fernando Pessoa, no dizer de Richard Zenith, na sua monumental biografia do poeta, parece ter dito, em meados dos anos trinta, que Salazar era “demasiado técnico”, faltando-lhe “criatividade e calor humano”: “Para ele o país”, dizia o Pessoa, “não é a gente que nele vive, mas a estatística dessa gente”. E vivíamos num período conhecido como a época de ouro das ideologias. Imagine-se, pois, o que Pessoa não diria da política de hoje, com o eclipse das ideologias e o triunfo das visões tecnocráticas do mundo, da racionalidade global e da financiarização integral da economia. Mas é disto mesmo que se trata: a nova visão é a dos grandes números da macroeconomia, a única visão que os políticos do mainstream parece saberem proclamar. Não é assim tão difícil de perceber: esmague-se a cidadania com impostos e depois poderemos exibir resultados nas finanças públicas suficientes para todos abrirmos os olhos de espanto com tanta competência. Gasta-se demais? Tem de ser, porque são imperativos sistémicos. Esta parece ser a conversa principal dos partidos mainstream. Mas é por aqui que os extremos avançam ao proporem sociedades fundadas em valores, sejam eles os da “soi-disant” esquerda sejam eles os da mais tacanha tradição.
VII.
É CLARO QUE NÃO HÁ RECEITAS MÁGICAS. Mas também é claro que basta abrir os olhos para ver a crise da política e as tendências que começam a formar-se na sociedade civil e na opinião pública. O que aconteceu nos USA, com Trump, não parecia possível. O que está a acontecer no Brasil, com Bolsonaro, também não. O que aconteceu na Itália era realisticamente previsível, mas, ainda assim, não deixa de chocar e de impressionar. O que aconteceu na Suécia, também, com um partido radical como segundo partido, com cerca de 20%. O Alternative Fuer Deutschland sobe aos 13% e a CDU/CSU já se encontra a 10 pontos (com 30%) acima do SPD de Olaf Scholz (segundo uma recente sondagem da Allensbach para o Frankfurter Allgemeine) e com um consistente grupo parlamentar. O que está a acontecer na Hungria e na Polónia merece atenção redobrada. Isto para não falar de Espanha, onde o fenómeno VOX tem vindo a emergir com muita força, cifrando-se hoje o seu score eleitoral em cerca de 15% (na média de 10 sondagens entre 17/10 e 03/10; o que, somado com os 31, 58% do PP, permite atingir uma maioria absoluta à direita espanhola, mantendo-se o PSOE em cerca de 25%). Em França é o que se sabe, com a extrema-esquerda a ocupar o lugar do centro-esquerda e a extrema-direita sempre à espreita da Presidência da República e agora com um numeroso grupo parlamentar. Em Portugal algo se move neste sentido, ao mesmo tempo que o centro-esquerda adormece sobre uma concepção de política assente no movimento por inércia.
É também claro, como disse, que a direita italiana não tem uma posição muito estável, sobretudo se atendermos à posição de Forza Italia na eleição para o Presidente do Senado e ao juízo de Berlusconi sobre Giorgia Meloni. Ou também às movimentações internas na LEGA. Mas seguramente terá oportunidade para dar início a uma tentativa de hegemonização na sociedade italiana rompendo aquele que sempre foi tradicionalmente um espaço dominado pela esquerda, desde os tempos da esmagadora hegemonia do PCI. O suporte político já existe e certamente não perderá a oportunidade de se afirmar também nessa frente, logo a começar pela agenda “antropologicamente positiva”, sendo, todavia, certo que não há uma linearidade entre uma hegemonia político-eleitoral e uma hegemonia ético-política e cultural. Mas o que é certo é que a direita radical tem, neste domínio, um seu claro património consolidado, o que não acontece com o centro-esquerda, que terá de o reinventar, ao mesmo que tempo que terá também de se reinventar politicamente. A ver vamos.
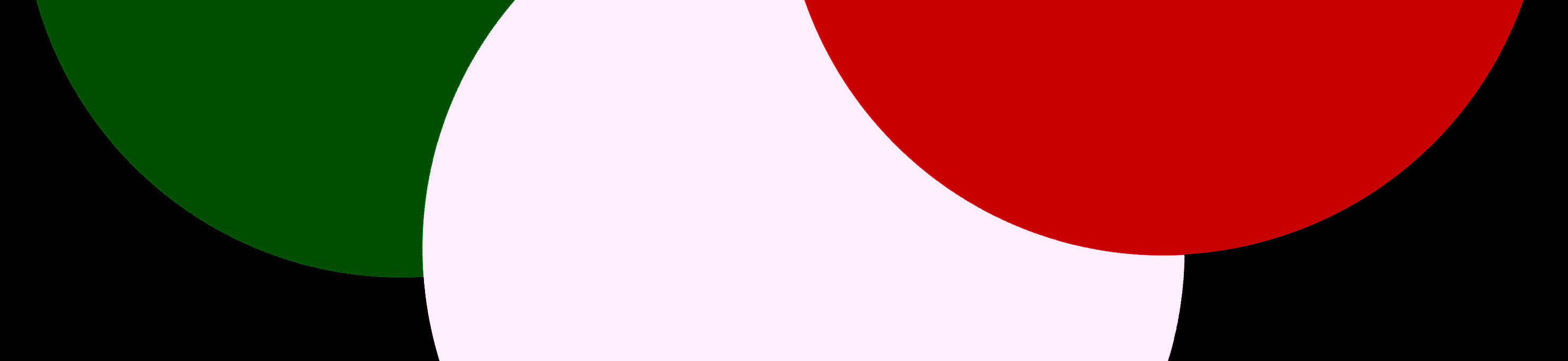
PESSOA REVISITED
(Nova Versão revista e aumentada)
A propósito de “Pessoa. Uma biografia”,
de Richard Zenith
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 10-2022
“PESSOA. UMA BIOGRAFIA”, de Richard Zenith, é uma obra monumental, com quase 1200 densas páginas (mais exactamente: 1184; Lisboa, Quetzal, 2022, com uma excelente tradução do original em inglês por Salvato Teles de Menezes e Vasco Teles de Menezes), que segue milimetricamente a vida e a obra de Fernando Pessoa, do nascimento à morte, como se o autor procurasse, pela via histórico-analítica, encontrar o verdadeiro Pessoa, o que se escondia sempre nos inúmeros heterónimos, do Alexander Search (“uma projecção do próprio Pessoa”, p. 266), dos primórdios, ao neopagão António Mora, ao Alberto Caeiro, ao Álvaro de Campos ou ao Ricardo Reis. Estes três últimos os principais. Encontrar o personagem que ia sendo moldado (embora o seu mestre Caeiro gostasse de dizer: “contenta-me ver com os olhos e não com as páginas lidas”) pelas inúmeras referências intelectuais que visitava regularmente, John Keats, Edgar Alain Poe, Milton, Walt Whitman, Oskar Wilde, Shakespeare, ou até ele-próprio na figura do seu assumido mestre Alberto Caeiro, o poeta puro, o guardador de rebanhos. Não tanto o Bernardo Soares, porque esse era somente um semi-heterónimo (p. 889) que, por vezes, se identificava totalmente com o Pessoa (p. 817), esse sujeito que chegou até nós envolto na neblina dos heterónimos e nalgum sebastianismo. Parece, de facto, ser verdade que, por vezes, “Pessoa e Soares coincidem na perfeição”, diz Zenith (p. 939). E digo também eu, que não sou especialista em Pessoa, mas um simples frequentador assíduo do Livro do Desassossego, essa admirável obra filosófica em fragmentos. Sendo ele próprio, ou quase, não podia ser seu mestre, como reconhecidamente acontecia com o Caeiro. Mas, quem sabe? Com o Pessoa tudo é possível.
I.
A coisa é tão espantosa que até o nome Fernando Pessoa parece ser também o heterónimo de um sujeito não inscrito no registo civil, como se a pessoa física estivesse integralmente subsumida no produtor de arte literária, não existisse enquanto tal. É por isso que algures, neste livro, se diz que Fernando Pessoa é aquilo que escreve. Nada mais. Como se o resto fosse simplesmente espectral. Se dúvidas houvesse, bastaria ler o que ele próprio escreveu em 24.08.1930: “Não sei quantas almas tenho / Cada momento mudei / Continuamente me estranho / Nunca me vi nem achei” (p. 850). É fingimento? A julgar pelo que foi realmente a sua vida e a acreditar no que nos conta Zenith, sim, é fingimento, mas para valer, como se fingir fosse viver ainda mais profundamente do que, pura e simplesmente, existir, se é que é possível existir sem fingir. Fingimento poético, entendamo-nos. Ou não fosse verdade o que dizia o bobo Bitolas a Aurora, em “Como Vos Aprouver”, de William Shakespeare: “a poesia mais verdadeira é a que mais finge” (p. 877). Ora toma! Logo haveria de ser Shakespeare o inspirador da sua “Autopsicografia”. O nosso autor bebeu bem em Shakespeare. Sem dúvida, como está clara e amplamente demonstrado nesta obra. Uma coisa é certa: a poesia não é descritiva, denotativa, como gostam de dizer os linguistas. E, se não é, o fingimento tem um valor diferente, na poesia. Com ela, não se descreve, sente-se, mesmo que se finja. Mais: só é mesmo poesia se fingir. Se tiveres de confessar algo, dizia ele, então “confessa o que não sentes”, ou seja, finge (p. 998). Finge que é dor a dor que deveras sentes. Mas não é poesia se não se sentir. Assim é que é. O resto é virtuosismo linguístico, jogo artificial. Só quem sente pode poetar, mesmo que seja só pelo gosto de sentir, não o sentir propriamente dito, como me parece ser o caso. Só em parte, para o caso do Pessoa, diria a Ofélia, que experimentou o calor dos seus beijos, mas não os do Álvaro de Campos, para o qual, de resto, “Fernando Pessoa (…) não existe, propriamente falando” (p. 999). Mas se não existe como poderia sentir? Talvez seja vingança do Campos por Pessoa se ter apaixonado por Ofélia, algo que nunca devia ter acontecido. Querem melhor prova do que esta? Ou o que diz Zenith: “Os poemas e os textos em prosa eram ele, a própria pessoa dele, ou os fragmentos da pessoa, ou Pessoa, que não existia enquanto tal” (p. 1046). Será que o Campos achava que a relação com a Ofélia o tornava real, banalmente real, e, por isso, impróprio para a poesia ou para a literatura? O que parece é que o Pessoa estava sempre a colocar-se no tal intervalo (entre si e o real) de que falava o Bernardo Soares. A colocar-se num espaço intermédio que não era palco nem plateia.
II.
JÁ NÃO CHEGAVA O HETERÓNIMO dizer que ele não existia, agora vem o biógrafo confirmar a tese do Campos. E a Ofélia a sentir-se cada vez mais uma alucinada que viveu um sonho real. O biógrafo chegou, se não erro, pelo menos duas vezes, a interrogar-se directamente sobre quem era, afinal, este Pessoa (pp. 761 e 941). Uma das vezes, interpelando mesmo o ausente. Claro, não teve resposta, mas estou convencido de que, em qualquer caso, não teria mesmo resposta. E, de facto, a interpelação do biógrafo só foi parcialmente respondida na fase final da vida do personagem, porque houve uma espécie de reincarnação existencial do poeta, tendo-se ele aproximado mais da vida e desnudando-se um pouco no “Livro do Desassossego”. Se bem entendi, a última parte do livro do Zenith é isso mesmo que nos diz. Mas, em boa verdade, e no fim de contas, o Pessoa era mesmo só aquilo que escrevia. No essencial era isso. O outro não interessa. Só isso, mas sem deixar de ser muito mais do que isso. O que, afinal, lhe sobrava como irrelevância, constante fracasso, quando tentava resolver coisas na reles e banal vida quotidiana. Coisas sempre mal resolvidas, a começar pelos empréstimos financeiros. De resto, o que ele deixou nada mais foi do que um baú cheio de preciosidades literárias que iriam fazer dele o maior escritor português do século XX (que me desculpem os outros e também o Saramago). Até a relação com a Mãe não correu lá muito bem… Que fazer? Ele não se ajeitava mesmo com a vida concreta, quando passava à tentativa de concretização daquilo que idealizava. Planificar, sim, tudo o resto era uma maçada e ele nem sequer estava para se chatear muito com isso. De resto, mesmo que quisesse e tentasse realmente nunca iria conseguir. Porque o seu mundo era outro. E não era só em questões amorosas, como foi o caso que teve com a infeliz da Ofélia Queiroz ou mesmo com alguma inclinação homo-erótica que tivesse tido em relação a jovens ou até a grandes amigos poetas como o Mário de Sá-Carneiro. Com este talvez tenha experimentado o homo-erotismo intelectual, o relacionamento afectivo através da poesia. Tertium datur. Isso mesmo: amavam-se em palavras aparentemente ou fingidamente impessoais. O que garantia a Pessoa ficar longe dessa “obscenidade” que repudiou (p. 869). Nunca saiu da sua toca poética (p. 663). Só o suficiente para sobreviver. Bom, saiu com a Ofélia Queiroz. Saiu mesmo, mas, no fim, a realidade literária impôs-se, e até porque a consumação sexual, para além dos beijos apaixonados, corresponderia a trair essa decisão que tomou em 1930: “banir da vida a obscenidade”.
III.
E NÃO ERA SÓ O HOMO-EROTISMO, que nunca experimentou (não há evidências suficientes para o afirmar), era também deixar-se capturar pelo corpo de uma mulher e ficar queimado por esse perigoso ácido sulfúrico. Ficar com a alma queimada e, por essa via, também com o espírito. Isto não é conversa, não, porque, realmente, ele sentiu – e disse-lho – Ofélia como ácido sulfúrico. “Tu és ácido sulfúrico”. Deve ter estado alguma vez bem perto de se queimar gravemente. Talvez quando a puxou para um vão de escada e a beijou desalmadamente. Não sei mesmo se haverá um caso tão radical de vida vivida exclusivamente de forma literária como o seu, o de Fernando Pessoa. Parece possível que, namorando (que ele me desculpe por usar esta palavra, cujo uso lhe proibiu) com a Ofélia, faltasse aos encontros porque mandava um dos seus heterónimos, o Álvaro de Campos, encontrar-se com ela? Ou pedir ao Ricardo Reis para lhe telefonar a dizer que o Pessoa não podia ir ter com ela? Parecer, parece, e é verdade. De resto, o Álvaro de Campos não gostava da Ofélia e tentou sempre estragar-lhes a relação. Por isso ela odiava-o e pedia ao Pessoa para nunca o deixar meter-se nas relações entre eles.
Com tudo isto, a pergunta parece ser legítima: afinal, quem é este Fernando Pessoa?
IV.
FICA-SE IMPRESSIONADO ao ver a dimensão da cultura de Pessoa. Como se tivesse nascido para isso. Homo Totus Poeticus. Há nomes que se acrescentam ao vasto leque de referências literárias: o Johann Winckelmann, fundador da história da arte; já não digo o de Christian Rosenkreutz, vista a sua inclinação para a alquimia, o hermetismo e o ocultismo, mas o de Johann Valentin Andreae, o teólogo protestante e provável autor dos três Manifestos Rosacruzes; o de Antínoo, a ponto de escrever um importante texto sobre este amante do Imperador Adriano; Santo Agostinho e as Confissões; o Proudhon de O que é a propriedade?, Max Stirner, o que é objecto de longa atenção de Karl Marx e F. Engels, em A Ideologia Alemã, o filósofo evolucionista inglês Herbert Spencer, o pai da psicanálise Sigmund Freud, para além dos inúmeros grandes nomes da literatura mundial com os quais dialoga e que já referi acima. Mas poderia citar também políticos que mereceram uma sua atenção especial como o Presidente americano Woodrow Wilson ou o Primeiro-Ministro inglês Lloyd George, por exemplo. Todas estas são só algumas referências, a título de exemplo, procurando evidenciar a riqueza da formação intelectual de Fernando Pessoa e de que a obra de Zenith nos dá um quadro exaustivo. Um espanto, a vastidão das multifacetadas referências de Fernando Pessoa. Espanto meu, pelo menos. Mas não é isto que faz dele um caso sério da cultura mundial. O que faz dele um caso sério é o problema da sua identidade, sobretudo se tomarmos na devida consideração que ele, de facto, como bom poeta e fingidor levitou sobre a realidade ao mesmo tempo que ia escrevendo uma enorme obra. Nem poeta se considerava, ou melhor, não queria ser conhecido como tal, senão não tinha proibido a Ofélia de dizer que ele era poeta, mas que, no máximo, escrevia poesia. Talvez fosse porque, como dizia o Caeiro, ser poeta não era uma ambição sua, mas sim, “a minha maneira de estar sozinho”. “Estar sozinho” – não é, em Pessoa, coisa de pouca monta, vista a sua vastíssima produção poética. Pobre Ofélia, que não só não podia dizer que namorava com ele, apesar de namorar, mas que também não podia dizer que ele era poeta, apesar de o ser. Puro negativismo em molho de afecto sincero. Disso parece não haver dúvidas. Só que outros valores mais altos se levantaram. Mas, sim, trata-se do tal intervalo de que ele fala no Livro do Desassossego ou aquela estratégia de “criar a desanalogia entre mim e o que me cerca – eis a primeira passada e a vigília que começa” (p. 871). Só lhe faltou mesmo dizer que ele, o Fernando Pessoa, não existia. Mas ficou perto. Na verdade, “certos personagens ficcionais eram mais reais para ele do que pessoas vivas”, sustenta Zenith (p. 451), dando assim credibilidade à hipótese de tudo converter – por exemplo, o amor – em “tópicos literários”. Ele próprio era uma dramaturgia em pessoa, um palco onde se exibiam os mais variados personagens: “sou a cena nua onde passam vários actores representando várias peças”, dizia no Livro do Desassossego (p. 1024). E a poesia era o seu “confidente”, diz Zenith (p. 941). Mesmo assim, considerava-se um poeta impessoal, apesar de tantas coisas pessoais que lhe aconteciam. O que poeticamente concretizava era precisamente porque os poemas lhe aconteciam, como disse o sobrinho de Ofélia e amigo de Pessoa, Carlos Queiroz. Nele acontecia poesia. Sim, poeta impessoal. Que melhor condição do que esta para fazer poéticas confidências, fingindo? Aproveitava a boleia do acontecimento. Na verdade, ele era mais um “viciado na vida sonhada” do que um viciado na vida vivida. O Calderón de la Barca não diria melhor.
V.
O GASPAR SIMÕES, o primeiro biógrafo do Pessoa, com quem se correspondeu, e que eu ainda conheci em Roma, tinha uma teoria sobre a razão profunda da obra de Pessoa: “a nostalgia da infância perdida” (pp. 898 e 1025). Não sei. O próprio Pessoa dizia que isso era ficção literária. Mas lá que havia ali qualquer coisa parecida com perda, com desajustamento em relação ao real, com vida a decorrer num intervalo entre si e o real, em pulsão onírica mais forte do que ele, lá isso havia. E que ele sublimava, para não se perder na banalidade do real, também parece ser verdade. Ele precisava que o real estivesse ausente para recriar, o recriar à sua medida. Precisava de distância. Até de um país: “minha pátria é a língua portuguesa”. A distância era a que a língua portuguesa lhe permitia. E o Quinto Império era aí, nesse território da língua, não no território físico, que devia ser construído. Por isso é que ele julgava que seria capaz de concretizar essa utopia. O sonhador em perda sonha ainda mais alto. E ele sonhou alto, muito alto.
VI.
Vou-me referindo, nesta viagem, ao Bernardo Soares, personagem por quem sinto uma especial atracção, mas também me refiro sistematicamente a Fernando Pessoa, sem preocupações filológicas de distinção entre o próprio e os heterónimos e seguindo o fio da meada do livro do Richard Zenith. Às vezes entrando em diálogo com eles, no presente, para avivar a reflexão. Reproponho também, alterado, um quadro alusivo ao poeta, o mesmo Pessoa que se escondeu nos inúmeros heterónimos que construiu como máscaras para dizer a verdade: “o homem é menos ele quando fala na sua própria pessoa. Se lhe dermos uma máscara dir-nos-á a verdade” (Zenith, 2022: 422). E eu dei-lha, aqui. Mas esta figura parece ser, pelo menos por fora, a do conhecido desassossegado. Ou, então, a do próprio Pessoa, já que a do Soares só correspondia a metade dele. Uma máscara que vale para todos os seus rostos porque deixa indefinido o rosto vivo do poeta, lui-même, sich selbst, exibindo tão-só os adereços que ficaram famosos e o identificam como Fernando Pessoa. Ícones. Simples, mas tão significativos ícones. Estes óculos exprimem toda uma filosofia, toda uma visão do mundo. Óculos a mais para rosto a menos. Rosto poeticamente dissimulado, escondido, à superfície, atrás dos adereços e, mais em profundidade, nos heterónimos.
VII.
ELES, ESTES ÓCULOS, mas o quadro em geral também, reflectem um certo verdor com que o mundo felizmente ainda se vai exprimindo, embora nele o verde não represente lá grande esperança. Não sendo um vencido da vida, lidava mal com ela e a esperança ressentia-se. E não eram tempos propícios, como se sabe. Mas é de arte que se trata. Pelo menos aqui, neste quadro, com esta identidade oculta sob os dois ícones. De qualquer modo, é um verdor mais verde do que o verde do mundo: o verdor espiritual, o que é pintado com palavras ou que sai directamente da alma de um pintor. E este saiu. Bem poderia ser, pois, o indivíduo que leva sempre a renúncia a peito e que se identifica com um tal Bernardo Soares, um gajo da família de um tal Fernando Pessoa, esse personagem sempre envolvido por um certo e sebastiânico nevoeiro ou, mais poeticamente dizendo, por uma certa neblina existencial. Sim, esse, o do desassossego. Um tal que, antes, dava pelo nome de Vicente Guedes, “um empregado de escritório introvertido” (2022: 688). Um tipo muito cerebral. Talvez até demais. Personagem estranho e pouco dado às cedências da vida vivida, que não à vida pintada com palavras, seja de que forma ou de que cor for. O tal que, estranhamente, não se ajeita com a poesia e que, quando precisa dela, pede ajuda a outros, designadamente ao engenheiro Campos. O que é estranho, porque o desassossegado é filho de peixe e, por isso, deveria saber nadar. Mas não importa, porque tem sempre ali à mão de semear vários e bons poetas, o Caeiro, o Reis ou o Campos, para não falar dos que escrevem em inglês. Mas ele, sobretudo ele, nem sequer se ajeita com a vida, o que já é mais natural do que não se ajeitar com a poesia. Uma alma mais filosófica do que poética, este desassossegado Soares, embora ele, o Pessoa, ache que não. Mas talvez assim seja, embora o seu criador se achasse “um poeta animado pela filosofia e não um filósofo com faculdades poéticas” (2022: 273). Talvez fosse as duas coisas. Com efeito, há uma dimensão da filosofia que se funde inteiramente com a arte. Querem um exemplo? Nietzsche. Mas esse personagem que não se achava filósofo era o eterno encapuzado com os barretes heterónimos e, por isso, pouco digno de crédito. Não era o Caeiro que também dizia que a poesia era a sua maneira de estar sozinho? Uma coisa é certa: o gajo não acertava uma em cada projecto que imaginava. Projecto que nunca (ou quase nunca) concretizava. Ele era bom, sim, era a estar sozinho. Perguntem ao Richard Zenith que sabe tudo sobre ele (sabe mesmo) e verão que é verdade. Mas, para seu consolo, sempre poderíamos dizer que há por aí tantos outros que não se ajeitam com a vida, mas não sabem. Eu acho ele que sabe, até porque o que é importante para si é construir ou reconstruir o mundo com palavras. Que será mais mundo do que o mundo propriamente dito. E, por isso, o importante é a arquitectura, não a construção.
VIII.
Pessoa, o arquitecto. Mais arquitecto do que engenheiro. Se não é, tem de ser, até porque ele tem o espírito e a alma franzidos pela aspereza e a contingência do existir, do real, do mundo, da vida. Dá-se mal com isso. Ele bem tenta adaptar-se às suas exigências, mas nunca consegue. Falha sempre nas tentativas de entrar no mundo pela porta. Só entra pela janela, à distância. O que o leva, sobretudo ao Soares, a reiterar teimosamente a sua militante dissidência e o seu ziguezaguear em relação à vida. A sua dissidência estética da vida. E erótica, também, pois, apesar de os espíritos do além lhe terem garantido sucesso, só foi capaz de dar uns beijos à Ofélia Queiroz, antes de se despedir dela numa carta um pouco fria e talvez mesmo despropositada (2022: 690-691). À sua maneira ele é um insurgente existencial que tem como única arma de combate a palavra. Move-se a partir da superfície plana da existência (é assim que a assume) para dentro. Parecendo falar para os outros, o que ele faz é falar de si para si, a propósito de tudo e de nada, inventando interlocutores à medida do momento e das circunstâncias. O seu olhar é como que devolvido pelos óculos, que se lhe colam ao rosto como sua pele. Como uma máscara. Ou melhor, como suporte de todas as máscaras. O seu não seria rosto sem o chapéu e estes óculos. Ficaria tudo a negro… ou a verde. Óculos como espelho da alma mais do que espelho do mundo e para o mundo, trabalhados a cinzel como se quer a um filósofo que goste de poesia, embora não se ajeite com ela. Quer ele queira ou não – e já disse que não – é filósofo. Oh, sim, também é, ou então não tinha encarnado no desassossegado Soares. Ficava-se pelos outros. E é por isso que me associo a Zenith e lhe pergunto descaradamente: “o verdadeiro Fernando Pessoa quer fazer o favor de se identificar?”. Ou o senhor é sempre outro, nunca você próprio (2022: 761)? Ah, os óculos! Às vezes até parece que ele não é mais do que uns óculos que só vêem para dentro, embora o seu mestre Caeiro tenha dito “Não vejo para dentro. Não acredito que eu exista por detrás de mim”. Mas o Caeiro era muito especial e cedo ficou pela caminho, a guardar os seus rebanhos. Creio que em 1915. A importância dos óculos: como se o meio fosse a mensagem – uma mensagem “ocular” com uma estranha cor que lhe devolve um real já pré-representado por si. Um verdor que é mais seu, mais íntimo, do que exterior, do que da natureza. Os óculos como terminal de um cérebro autocentrado. Tudo se passa aí, entre a alma (um pouco queimada, não sei se pelo “ácido sulfúrico”) e o espírito. Mas depois não me venha dizer que não vê para dentro. O Caeiro, sim, é ele que o diz, mas o Pessoa ou o Soares não. Estes também vêem para fora, embora pouco.
IX.
DIGAMOS A VERDADE: não há existência tão verde como o verde que se reflecte nos seus óculos, o da alma. E talvez nem sequer a sua alma reflicta tanto verdor. Eles, os óculos, em boa verdade, são mais um espelho do espírito do que da alma. Nem espelho do mundo nem da alma, mas do espírito. Voilà. É este, o espírito, que pinta o verdor com palavras. Afinal, alma e espírito nem são a mesma coisa, pois este é culto e aquela, a alma, pode não ser. Falo no plano transcendental, claro, embora um espírito inculto seja mais alma do que espírito. Digamos, uma alma um pouco espiritual. Mas a verdade é que a alma não tem de ser culta. A alma sente e o espírito pensa. Mas pode haver um sentir inteligente, uma alma que pensa? Talvez não, porque a inteligência tende a embaciar o sentimento. Tal como o sentimento embacia a inteligência. Pelo menos em parte, porque não fluem, ambos, livremente, turvando-se mutuamente. É como o amor. Não há amor inteligente, mas amor feliz… e doloroso. O amor é mais da ordem da alma do que da do espírito. É por isso que se diz “dor de alma” e não “dor de espírito”. E, por isso, o espírito é perigoso para o amor. Quando ele chega, dita lei e o amor acaba. E ele, o Bernardo, vê sempre o amor com o filtro espiritual dos seus óculos. Foi o espírito dele, o do Bernardo-Pessoa, que derrotou a Ofélia Queiroz e não só o intriguista Álvaro de Campos. Aquele desenhava o amor com palavras, isto é, neutralizava-o ou, pelo menos, relativizava-o. E isto acontecia cada vez que ia passear com ela e levava com ele o Álvaro de Campos, que também contribuiu para estragar a relação, embora, como é evidente, a questão fosse mais funda do que a mera influência do engenheiro naval. Ou seja, o Pessoa anulava o amor, porque ele tem de ser incondicionado, não pode ficar engavetado em palavras. Mas o Zenith também diz que o Campos sempre fez tudo para “frustrar o relacionamento deles” (2022: 675). Juntou-se a fome com a vontade de comer. O Fernando acabou, como sempre, por transformar o seu relacionamento afectivo num tópico literário (2022: 574). O que não se pode é atribuir todas as culpas ao Campos, quando, na verdade o problema residia a montante e era mais fundo. Mas foi assim que o Pessoa arrumou o assunto. Para sempre.
X.
Pois, com este verde, que o torna irreal, até mais do que já é, e, por isso, mais perdurável, é mesmo ele, o homem da renúncia, o que nunca se deixa ir para não se perder, ao sair de si, o que quer subsistir… à força de sentimentos desvitalizados e transfigurados. Ou não foi ele que disse que “agir é exilar-se” (2022: 802)? E, se tivesse de se “exilar”, então, o melhor era mandar o Campos encontrar-se com a Ofélia ou, pelo menos, irem os três passear. Assim, “exilava-se” menos. Estão a ver? O perverso era mesmo o Pessoa, que usava o Campos para conseguir o que não tinha coragem para fazer. A verdade é que ele olha para a vida – o olhar deveria ser tudo – como para uma galeria de arte, sobretudo uma galeria de arte literária, que as outras artes podem muito bem ser subsumidas na literatura, à excepção talvez da música (2002: 504). Ele olha para um rosto como para uma fotografia pendurada numa parede, animando-a com o que tem disponível na alma naquele momento. Mas no qual não toca sequer com a ponta dos dedos. Tudo parece ser, para ele, um pretexto para redesenhar o mundo no seu estirador mental. Redesenhar também Portugal e elevá-lo a V Império, pelas letras. Como fazem os melancólicos profundos quando se sentem impotentes para o mudar realmente, na prática. Desenham-no com os traços e as cores da utopia e acreditam que um dia ela acontecerá. Pelo menos no papel. Sim, sim, apesar de eu ter dúvidas de que o Soares ou o seu Artífice alguma vez tenham querido verdadeiramente mudá-lo na sua mundana escala. Tentativas não faltaram, como nos conta o Zenith, mas nunca passavam de projectos que essa figura algo espectral e movida pelo vento nunca (ou quase nunca) passava à prática. Sim, sim, o Pessoa é mais arquitecto do que engenheiro. Mas não creio que por ser incapaz ou por não ter jeito para isso, como o Soares dizia que acontecia com a poesia. O que, lá mais no fundo de si mesmo, ele não quer realmente é misturar-se com essa irrelevância da vida vivida. Porque ela é banal, andam por lá todos… Era o que mais faltava!
XI.
NA VERDADE, este homem tem o corpo confundido mais com o espírito do que com a alma. Só se lhe vê a parte de cima, o sítio onde está o espírito, de propósito, o que não aconteceria se tivesse jeito para a poesia e andasse por aí aos trambolhões, dorido de alma. Nesse caso, haveria de se lhe ver o peito. Mas não, porque também tem a alma confundida com o espírito, numa progressiva redução de planos, ou camadas. Ele, afinal, é um desdobramento do seu Artífice, esse espírito voraz, capaz de (in)digerir o mundo com palavras. Uma bela operação, diga-se. As palavras viram-se para dentro dele, dobradas sobre si, e o bigode (que está lá, mas não se vê) é a porta fechada da sua fala. Uma fala espiritual. Resistente e fechada, à força, não vá a tentação abri-la e deixar escapar um reles sentimento carnal ou uma comprometida e ridícula declaração de amor. Não, não vá ele queimar-se com esse “ácido sulfúrico” que são as mulheres. Sabia bem o que temia: o “ácido sulfúrico” que era a Ofélia (2022: 679). É preciso renunciar. Ficar na “mansarda” mesmo não morando nela (2022: 803). Mas para renunciar é preciso força de vontade e alguma crispação. Lábios apertados até se anularem na superfície lisa do rosto. A boca, tal como os olhos com os óculos, está protegida pelo bigode e pelos lábios apertados. “Vulgares bocas de mulheres beijas / E eu só o sonho vão da tua boca”, dizia num poema homo-erótico, que terminava dizendo que a sua maior tortura seria a de, aceite pelo amado, se sentir “incapaz do último acto”. Incapaz, ele, que tem “tanta gente” em si, de sair da “toca poética”, como refere Zenith (2022: 663). Andam por aqui memórias de Antinous – A Poem, esse poema sobre a paixão de Adriano pelo jovem grego Antínoo, que viria a ser tão bem retratada por Marguerite Yourcenar, nas Memórias de Adriano. Sim, mas a boca, essa, beijou, e com loucura, diria, mais tarde, quem lha sentiu: Ofélia Queiroz. Mas foi sol de pouca dura, certamente porque o poeta não quis correr o risco de ficar “exilado” para toda a vida. E para isso criou um muro protector, o bigode, esse arame farpado que lhe protegia a alma. Tal como os óculos eram o muro que lhe protegia o espírito das vulgares insídias do real, do canto das “sulfúricas” sereias luminosas e tentadoras. Que mais se pode imaginar se não isto, quando olhamos para os seus óculos e para esse chapéu amarelo torrado ou laranja, de tanto sol apanhar? A verdade é que o espírito, mais do que a alma, precisa de sol, mas que não seja em demasia, para não o encandear ou mesmo incendiar. Precisa de sol indirecto e o chapéu absorve a energia solar e alimenta-lhe o espírito. Chapéu e óculos, as armas do guerreiro que quer ganhar o mundo à custa de palavras, em português ou em inglês, essa ondulação em que foi navegando durante toda a sua vida.
XII.
“INDIFERENÇA SENTIMENTAL” – dizes tu, ó desassossegado! Essa até pode ser reconvertida em palavras ao rubro com a alma aos pulos, livremente, à vontade e até contra si próprio e tudo o que for planeado para ser eventualmente feliz. Ah, como é bela a indiferença se for minha e a puder converter em autêntica diferença. Ser indiferente de forma original é cultivar a diferença e afirmá-la perante iguais. Ser indiferente é indiciar (perante outros) que eu existo sob forma irredutível, que sou outros, muitos outros, para além deles, a ponto de nem me aperceber que esses outros eles existem. E eles sentirem isso na pele. Até a gravata, ou o laço, me torna mais encrespado com o exterior de mim. Agarra-me pelo colarinho e não me deixa ir. Sou livre à força… quase à forca. Morrendo para fora à medida que vivo para dentro… de mim. Sim, porque a minha “alma se identifica com aquilo que menos vê” (2022: 546). Para fora, claro. Não para dentro, que é onde eu vivo ou mesmo me conservo: “sou um fragmento de mim conservado num museu abandonado” (2022: 506). É que, depois destes óculos me terem protegido quando “uma rajada baça de sol turvo (quase) queimou nos meus olhos a sensação física de olhar” (Bernardo Soares), passei a olhar quase só para dentro, olhando de través para fora, sem tirar os óculos… Hum, só o suficiente. Minimalismo visual, diria. Mas não comprometido. Cedendo apenas um pouco à exigência desse objecto que tenho no meu rosto e a que chamam “óculos”. Nome tão estranho como o de “olho”… nome com esse som seco e quase oco que exibe como triste sonoridade. Óculos – prótese quase supérflua porque não me serve para ver o essencial, aquilo com que a alma mais se identifica. Serve para me resguardar, mas não para ver o essencial. Que está dentro de mim. Tudo o resto é puro acidente, coisa supérflua, e, portanto, só serve para ser visto de través. O que até é demasiado. Os meus óculos são mais um muro do que uma prótese para ver o mundo. Quando falo para o mundo as palavras fazem sempre eco no muro e saem fazendo ricochete nele. Chegam lá de mansinho com a energia quebrada pela rigidez deste muro ocular. Demasiado de mansinho, a ponto de só timidamente me ir literariamente afirmando. O que requer um sentido prático da vida que eu não tenho e que, para falar a verdade, não quero ter porque não pretendo exilar-me de mim próprio. Ou lá o que isso seja.
XIII.
“QUE OS TEUS ACTOS sejam a estátua da renúncia, os teus gestos o pedestal da indiferença, as tuas palavras os vitrais da negação” – é isso que sentes, ó desassossegado da vida, quando falas dela? É isso, renúncia, indiferença e negação? Tudo pela negativa? A vida é só metamorfose espiritual? É metempsicose? Com a fixidez desse teu olhar escondido atrás dos óculos metabolizas e suspendes a vida, para a viveres interiormente de forma mais intensa? Decidiste eliminá-la “pelo processo simples de” a “exprimir intensamente”, fazendo com ela o mesmo que fazes quando o obsceno te captura e te obriga a escrever, como fizeste, tu, Pessoa, em Epithalamium e em Antinous (Carta a Gaspar Simões – 2022: 416-417)? Está atento, que a vida ainda pode atropelar-te. E atropelou. Pouco, mas atropelou, levando-o a atirar-se para um vão de escada com uma Ofélia que beijava perdidamente. Sol de pouca dura ou, o que é mais provável, experiência obrigatória para quem estava a ser constantemente interpelado pelo além para experimentar o amor de uma mulher. Um amor que se revelaria desajeitado, talvez porque o que ele melhor sabia fazer era “uma arte de masturbação” (literária) (2022: 397-398), fosse qual fosse o excitante, homem ou mulher.
XIV.
“UM AMARELO DE CALOR estagnou no verde preto das árvores”, dizes tu, com esse ar sisudo, de caso, Bernardo. Mas foi por baixo que estagnou… sim, no teu rosto, quase te queimando para a vida. Estagnou em ti porque estavas sob esta copa pouco frondosa, mas suficiente, que é esse teu chapéu amarelo torrado ou laranja. Mas, mesmo assim, o teu rosto pintou-se de verde, marca da passagem do sol por ele. O sol faz renascer o verde. Sem sol não há verde. Mesmo na poesia para haver verde é preciso que um sol interior te ilumine. Sim, sim, este verde está em ti porque não é humanamente real e faz de ti um ser livre e solar. Filho do sol. Em palavras. Mas foi o sol em excesso que te queimou a alma. Questão de luz, meu caro. Sobrou-te o espírito, eu sei, e só com ele te debruças sobre o mundo. Esse resiste e sobrevive. Mesmo sem alma ou com ela queimada, de tanto sol cair sobre ti. Queima-se a alma, liberta-se o espírito. Parece-te sensato? Não, não parece, mas não posso esquecer que tu és um insurgente existencial.
XV.
ACHO, POIS, que uma parte importante de ti, Fernando, se chama mesmo Bernardo e que essa parte gostaria muito de ter jeito para a poesia. Não tem, mas é como se tivesse. Por detrás deste verde escondem-se muitos outros rostos que adoram escrever poesia. Foi por isso que lhe arranjaste, ao Bernardo, tantos irmãos poetas, sabendo muito bem que a poesia não é para todos. Sobretudo para os que fecham as portas ao real e ao embate da paixão. Às fraquezas da alma. Claro, a poesia está perto demais do sentimento, da emoção, da vida e o Bernardo (e tu próprio) correria o risco de se deixar ir na onda da sua perigosa e lamentável fugacidade. Ser como os outros na sua triste corporeidade sujeita à prisão do banal e corruptível sentimento. Andar por aí aos caídos. Oh, isso é que não, mesmo que a poesia seja o lugar onde o sentimento acontece em palavras e onde se finge o que deveras se sente. Finge, sim, e sente, também. Mas o fingimento poético é a porta de salvação relativamente à queda amorosa da alma ou à “maladie de l’âme”, como diria o Stendhal. Mesmo assim, a poesia é perigosa, reconheço. O Campos era poeta, conhecia bem as insídias do sentimento e, talvez por isso, não gostasse da tua relação afectuosa com a Ofélia. E, cúmplice, ajudou ao desfecho.
Por isso, é melhor, no essencial, que o Bernardo (e talvez tu também) se conserve assim e não saia de si a não ser o estritamente necessário, só para espreitar, de esguelha, a realidade. Que se mantenha no intervalo, afaste um pouco a cortina e espreite o público a remexer-se nas cadeiras antes de o espectáculo da vida começar. De qualquer modo, esse pouco de vida de que ele precisa estará sempre lá, não desaparece. E assim ainda será maior (por dentro) do que o tamanho do que vê (por fora), se é que, com esses óculos, vê mesmo. Se vê é com os sentidos interiores, apesar do sinal enganador desses teus óculos de aparente observação externa e tão comprometedores.
XVI.
MAS, OLHA, e se te deixasses ir um pouco mais além, até à vida, achas que te tornarias banal? A tua relação, ou mesmo ralação, com a Ofélia banalizou-te? Ao menos toca o real com a ponta dos dedos e, se for caso disso, depois desinfecta-a com palavras um pouco mais fortes ou até mesmo mais ácidas. Ou tens medo do “ácido sulfúrico” da vida e do sexo? Ah, bem sei! Uma parte de ti não tem jeito para a poesia e tu achas que só ela é que te poderia salvar em caso de perigo, em caso de contágio. Sim, o perigo é o sentimento, não a poesia. Bem pelo contrário, esta resolve, sem perigo, os perigos do sentimento. Mas tenta, meu caro, tenta, não sabes quanta metafísica pode haver na ponta dos dedos quando eles folheiam o real, sobretudo num poema, e o poder que têm de te resgatar dos fracassos da vida. Tens tanta poesia lá em casa! E da boa. Bom, mas não te quero convencer porque, como dizia o outro, o acto de convencer alguém é pura violência, é tentativa ilegítima de lhe colonizar a alma, de impor superioridade espiritual. E eu, que sou poeta, prezo muito a liberdade, a minha e a dos outros. E, portanto, também a tua. A de seres o que quiseres e ser sempre outro que não tu mesmo. O que quer dizer que também podes, ao mesmo tempo, ser poeta, ser Reis, Caeiro ou Campos ou mesmo essa parte de ti que é o Bernardo Soares e, portanto, resolver esse teu problema existencial. É como voltar a ser criança, como tanto desejaste quando já só te sentias um adulto com excesso de lucidez, a ponto de te começares a informar com o teu amigo sobre como seria a vida no manicómio onde o tiveram enclausurado por algum tempo. Mas não, tens muito mundo sobre o qual levitar com todos esses teus alter egos. Afinal, mesmo quando eras Bernardo Soares sempre gostaste de poesia, não é?

AI, BRASIL
Por João de Almeida Santos
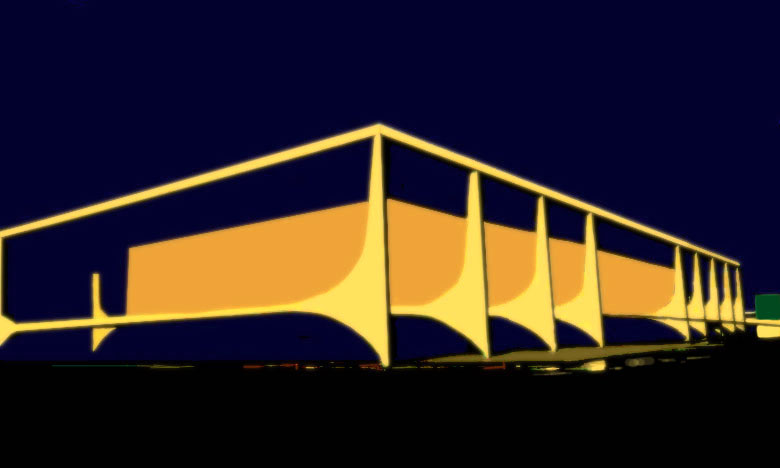
“S/Título”. JAS, 10-2022
ENCERRADA A PRIMEIRA VOLTA das eleições presidenciais no Brasil (a segunda será no dia 30.10), ficamos a saber que as sondagens falharam no cálculo da distância prevista entre a vitória de Lula da Silva e a derrota de Jair Messias Bolsonaro. A distância entre os dois foi muito menor do que as sondagens previam e Bolsonaro contrariou o anunciado desastre eleitoral. Uma primeira conclusão há que tirar daqui: Bolsonaro representa um vasto bloco de poder radicado na sociedade, que é muito maior do que a sua figura política e presidencial. Bloco que começa logo na organização política da sua própria família, ou seja, na distribuição de funções pelos seus três filhos: no Senado (política), nas relações internacionais (diplomacia) e na comunicação digital (propaganda). Um bloco que, depois, nesta primeira volta, já exibe melhores resultados do que a esquerda nas eleições para a Câmara dos Deputados, para o Senado e para os Governadores dos estados federados (que são 27, tendo já sido eleitos 15). E um sistema onde até essa figura desqualificada de Sérgio Moro, depois de várias peripécias pouco edificantes, consegue ser eleito, no Paraná, para o Senado. Ou mesmo um tal Deltan Dallagnol, também implicado nas trapaças do processo Lava Jato, já eleito para a Câmara dos Deputados, também no Paraná. Portanto, um sistema institucional que está a absorver personagens duvidosos no seu interior, contribuindo, assim, para piorar o próprio sistema institucional, que, afinal, se tem revelado pouco credível. Exemplos? É ver como se processou o impeachment de Dilma Rousseff e todas as histórias que envolveram o ex-Presidente Michel Temer e o ex-Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, já para não falar do processo que levou à prisão de Lula da Silva e que o próprio sistema judicial acabou por anular (mas veja os meus Artigos sobre o assunto: “Quanto conta o voto popular?” (aqui transcrito e também em link) – https://www.jornaltornado.pt/quanto-conta-voto-popular/; e “Lawfare” – https://joaodealmeidasantos.com/2020/11/24/artigo-23/).
I.
O BLOCO DE PODER DA DIREITA, na sua maioria, inscreve-se na nova direita nacional-populista, que tem em Trump a referência idolatrada de Jair Bolsonaro, mas que também avança fortemente na Itália de Giorgia Meloni (veja o meu Artigo sobre o assunto, aqui: https://joaodealmeidasantos.com/2022/09/27/artigo-82/), na França de Marine Le Pen, na Espanha de Santiago Abascal, na Hungria de Viktor Orbán ou na Polónia do Senhor Kaczynski, entre outros, incluído o português CHEGA. Em três destes países governa. Uma realidade que é necessário ter na devida consideração porque ela já representa um poder político nacional e internacional considerável. E um forte poder na União Europeia, se tomarmos em consideração as regras de funcionamento do sistema decisional da União. E não fossem os erros clamorosos de Trump, designadamente o louco ataque ao Capitólio ou a apropriação indevida de documentos do Estado, e a força deste bloco ainda seria maior, visto o papel de referência que os USA desempenham na cena internacional. Os sucessivos episódios de Trump vieram descredibilizar esta direita americana, que perdeu alguma capacidade propulsiva na cena internacional.
II.
MAS A VERDADE é que, no Brasil, Lula da Silva conseguiu um resultado que ficou a menos de dois pontos da maioria absoluta que o consagraria de imediato como Presidente. A expectativa era grande, o resultado é muito significativo, mas foi diminuído pela resiliência de Bolsonaro e do bloco de poder que ele representa. Pouco significativos foram, entretanto, os resultados de Simone Tibet, com cerca de 4%, e de Ciro Gomes, com uns miseráveis 3% (relativamente ao que noutras eleições tivera, uma média de quase 12% nas outras três tentativas). Nestas eleições a polarização foi, de facto, muito intensa, numas eleições onde votou 79% dos 156 milhões de eleitores.
III.
O QUADRO POLÍTICO saído destas eleições não é muito animador para a esquerda, embora a vitória presidencial esteja ao alcance de Lula da Silva. Pelo contrário, a direita surge com mais força do que aquela que se registava nas sondagens e na própria opinião pública. A nível presidencial, mas sobretudo a nível do Congresso e do governo dos estados federados. A onda de esquerda que se tem vindo a verificar na América Latina (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras, México, Panamá, Peru) conhecer sérias dificuldades naquele que é o seu maior país e a sua maior democracia.
Uma das fraquezas da candidatura de Lula da Silva, mas que também pode ser considerada como um ponto forte, é ela, por um lado, ser vista como um regresso ao passado, um dejá-vu mais centrado no passado do que no futuro, mas, por outro, ser vista também como um resgate da injustiça clamorosa que foi cometida quer contra o PT quer contra Lula da Silva e Dilma Rousseff; esta candidatura ser, pois, vista como um ajuste de contas com um bloco de forças que usou todos os meios não só para tirar do poder o Partido dos Trabalhadores, mas também para pôr no poder um seu agente pouco qualificado, um seu fiel serventuário, ideologicamente marcado como de extrema-direita ou nacional-populista, intérprete das novas tendências da direita que têm vindo a afirmar-se um pouco por todo o lado. Uma escolha, pois, supostamente alinhada com os ventos da (sua) história. Os resultados deste primeiro turno são para eles animadores. A dimensão da votação, mais de 51 milhões de votos, é para levar a sério.
IV.
NA VERDADE, ESTES RESULTADOS são preocupantes. E não só em matéria de política nacional. Eles são um ulterior e preocupante sinal do avanço político da extrema-direita um pouco por todo o lado, um péssimo sinal para o conflito que o ocidente trava com a Rússia de Putin e um sinal preocupante para o combate à ameaça ambiental, em particular para a salvaguarda do pulmão do Mundo, a Amazónia. Mas um sinal preocupante também para a democracia e para todos os que confiam numa intervenção eficaz do Estado quando se verifiquem sérios riscos e ameaças à colectividade. O que aconteceu durante a pandemia deveria pôr em alerta todos os que hoje são chamados a escolher o Presidente. Mas, pelos vistos, a evidência não foi assim tão evidente. O Brasil está, de facto, fortemente dividido e bipolarizado.
V.
MAIS DE SEIS MILHÕES DE VOTOS separam os dois candidatos que disputarão o segundo turno. Uma situação que favorece, à partida, Lula da Silva. Seis milhões de votos não é pouco. Mas é preciso não esquecer que por detrás de Bolsonaro há todo um bloco de poder fortemente enraizado na sociedade civil brasileira e com uma fortíssima presença nas instituições do Estado, a começar no próprio Congresso e no governo dos estados federados e a terminar nas Forças Armadas. Este bloco de poder mobilizará todas as suas forças para influenciar o eleitorado, animado pelos resultados desta primeira volta e convencido de que ainda poderá dar a volta ao resultado. Interessante será também a posição de Simone Tebet e de Ciro Gomes na sua indicação de voto… ou no seu silêncio, que seria sempre interpretado como de tácita tolerância para com Bolsonaro e o bloco de poder que ele representa (mas Ciro Gomes já disse que acompanha a decisão do seu partido, PDT, no apoio a Lula da Silva, embora sem mencionar Lula no vídeo em que anuncia a sua posição, e Simone Tebet também já terá decidido o apoio a Lula da Silva). Somados, representam mais de sete por cento do eleitorado e cerca de 8,5 milhões de votos. A sua mobilização poderá, pois, ser determinante para o desfecho destas eleições.
VI.
DE QUALQUER MODO, para além das considerações de ordem mais política e programática, o que aqui está também em causa é a relação entre a política e a ética, uma moralidade de senso comum que é transversal a qualquer actividade humana e uma correspondente concepção de democracia que respeite os seus valores fundamentais e onde os adversários não sejam considerados pura e simplesmente como inimigos. O resultado do dia 30 de Outubro dir-nos-á muito não só sobre o estado da política no Brasil, mas também sobre a evolução da política no plano mundial. Uma evolução que, de resto, não está a conhecer bons dias.
VII. Reprodução de Artigo (suplementar) sobre o “Impeachment” de Dilma Rousseff.
“Quanto conta o voto popular?” Por João de Almeida Santos (Art. publicado em 01.09.2016)
“TRÊS JURISTAS, Miguel Real Jr., Janaina Paschoal e Hélio Bicudo, solicitaram o Impeachment, em 2015. A pedido de quem? Não se sabe, mas…
1. EDUARDO CUNHA, Presidente da Câmara dos Deputados, que arriscava um processo na Câmara, acusado de ter 5 milhões de dólares na Suíça por subornos (Petrobras/Lava-Jato), pede a Dilma e ao PT que impeça, com o voto, a investigação. Dilma e o PT recusam. Cunha admite o pedido de “impeachment” e despacha-o em grande velocidade. Final: Dilma perde o mandato presidencial. Michel Temer, o seu vice e ex-aliado, também ele suspeito de corrupção, torna-se Presidente efectivo até às eleições de 2018.
2. A ACUSAÇÃO (por “crime de responsabilidade”) baseia-se em três decretos presidenciais que envolveram cerca de 717 milhões de dólares em créditos de bancos públicos para financiar as áreas da educação, do trabalho, da cultura e da justiça. Segundo os acusadores foram feridos o n.º 2 do Art. 11 e o n.º 4 do Art. 10 da “Lei do Impeachment”, que implicam “crime de responsabilidade” (Cap. VI – crimes contra a “Lei Orçamentária”). A defesa (e Dilma) argumentou que eram despesas já autorizadas pelo Senado, tendo-se verificado somente alternativas à alocação de recursos, não afectando a meta fiscal. Mas Dilma também foi acusada de ter atrasado o reembolso, ao Banco do Brasil, de cerca de mil milhões de dólares (relativos ao Plano SAFRA), considerando que este atraso era de facto uma operação de crédito (!), proibido por lei, incorrendo, por isso, noutro “crime de responsabilidade” (art.s 10 e 11). Na verdade, nem o próprio Ministério Público Federal o considerou crédito. Pedaladas fiscais! Mas, neste caso, a Presidente nem sequer praticou qualquer acto (a responsabilidade é do Ministério da Fazenda). Maquilhagem de contas, disseram os acusadores.
3. FUI LER A LEI. No caso do Presidente, para oito “crimes de responsabilidade” estão previstos 65 casos em que estes podem ocorrer. Cabe lá tudo. Até um que diz “proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo”! Ou, então, “infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais” ou, ainda, “não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição”. Este último também foi invocado na acusação. E outros que são claramente instrumentalizáveis para efeitos de destituição arbitrária do Presidente. Basta interesse, um pouco de imaginação e bonecos de serviço.
4. TRATA-SE DE JUSTIÇA POLÍTICA e não já propriamente de responsabilidade penal. Muito bem. Mas com esta lei qualquer Presidente – e o regime brasileiro é presidencialista – está altamente fragilizado porque permanentemente sujeito a fáceis “conjuras” jurídico-políticas, como esta. E muito em particular pelos poderes fortes que circulam nos corredores do poder brasileiro… e fora dele. Por exemplo, pelos famigerados mercados (que até estimularam o processo)!
5. O “IMPEACHMENT” é um instrumento antigo. Vem de Inglaterra, do século XIV. Era um modo de submeter os Ministros (nomeados livremente pelo rei) ao crivo do Parlamento em caso de crimes graves (responsabilidade penal). A Constituição dos USA (1787) prevê-o explicitamente (art. 1, secção 3; art. II, secção 4). Mais tarde ganharia, de facto, uma dimensão também ético-política (veja-se o caso Clinton).
6. ESTE INSTRUMENTO tem-se revelado bastante problemático e irregular. O Presidente é eleito por sufrágio universal directo (neste caso, foi por cerca de 54,5 milhões de eleitores, em 110 milhões). Também o seu é um mandato não imperativo e, portanto, só em caso de grave responsabilidade penal, e em extrema “ratio”, deveria ser aplicado (Constituição USA, 1787, art. II, secção 4: “traição, corrupção/extorsão ou outros crimes graves”). Mas, no caso brasileiro, com o que a lei prevê, há para todos os gostos. No fim de contas, do que se trata é de um instrumento para revogar mandatos presidenciais e confiscar a soberania popular (sobretudo num regime deste tipo).
7. DISSE O EX-MINISTRO DA ECONOMIA, Nelson Barboza: “vocês decidiram que há um crime e, portanto, procuraram o delito”. Nem mais. O cardápio é extenso e para todos os gostos. Até para a nossa Paula Bobone, como vimos!
8.OS VOLUNTÁRIOS FORAM TRÊS mais um: os juristas e Eduardo Cunha que, afastado da Presidência da Câmara, ainda continua deputado (à espera do processo). A condenada, que nem sequer era suspeita, já perdeu o mandato presidencial. Bonita “justiça política”, esta!
A SITUAÇÃO ECONÓMICA ajudou à festa, com o PIB a cair e o desemprego e a inflação a subirem. Mas, por isso mesmo, a democracia brasileira não precisava disto. Na verdade, as conjuras quase já não precisam de armas. Nem sequer das armas brancas do tempo de Maquiavel. Basta esgrimir, de forma conjugada e com alguma maestria, o direito e os media. Intelectuais orgânicos da conjura é o que não falta. E por isso não entendo esses democratas dos quatro costados que viram no afastamento de Dilma uma fulgurante vitória da sua formidável razão política.“Beati loro!”, costumam dizer os italianos.”

UMA REVOLUÇÃO (ELEITORAL) EM ITÁLIA
A marcha da extrema-direita continua
Por João de Almeida Santos

“Roma”. JAS. o9-2022
O BLOCO DE DIREITA ganhou, em Itália, as eleições legislativas com maioria absoluta de mandatos quer na Câmara de Deputados quer no Senado (237/400 e 112/200). O primeiro partido foi “Fratelli d’Italia” (FdI, com 26%), de Giorgia Meloni, a líder, deputada, ex-ministra de um dos governos de Berlusconi, herdeira legítima de Alleanza Nazionale, de Gianfranco Fini, e do Movimento Sociale Italiano, de Giorgio Almirante. Ela criou, com Ignazio la Russa e Guido Crosetto, o partido FdI, em 2012, mantendo a “Fiamma Tricolore” do MSI, o herdeiro legítimo do fascismo italiano e do Partito Nazionale Fascista. Estamos conversados em relação à família política histórica do partido que verá a sua líder tornar-se a primeira mulher que ocupa a Presidência do Conselho italiana.
I.
ESTE RECENTE PARTIDO tinha obtido pouco mais de 4% nas eleições legislativas de 2018, mas conseguiu crescer rapidamente à custa da LEGA, de Matteo Salvini, um dos grandes perdedores nestas eleições, invertendo a posição. Salvini chegara a ter nas eleições europeias de 2019 cerca de 34%, 28 eurodeputados e mais de 9 milhões de votos, mas hoje está reduzido a 8,78%, acompanhado pelo partido de Berlusconi, Forza Italia, com 8,12%. Estes três partidos ( mais um outro pequeno partido) formaram a coligação pré-eleitoral vencedora destas eleições de 25 de Setembro e formarão um governo liderado por Giorgia Meloni, logo que os deputados tomem posse e estejam eleitas as lideranças dos dois ramos do Parlamento.
II.
O CENTRO-ESQUERDA, que foi para as eleições dividido, perdeu em mandatos (157 deputados e 79 senadores), mas, note-se, mantém, globalmente, no país, uma percentual maior do que a coligação de direita. Mas era já claro que os erros de Letta, o secretário do Partito Democratico (PD), relativamente à possibilidade de uma aliança pré-eleitoral com as outras forças de centro-esquerda (M5S, que obteve 15,55% e Azione-Italia Viva, que obteve 7,78%), seriam mortais. Com efeito, era claríssimo que os mandatos atribuídos (total global de 400 para a Câmara dos Deputados e de 200 para o Senado) através do sistema maioritário, uninominal numa só volta, seriam “abocanhados” pela aliança de direita, pela simples razão de que, na coligação, avançaria o candidato que estivesse em melhores condições de ganhar, o que não seria possível com um centro-esquerda desunido. Este sistema premeia as alianças e pune quem não as fizer. Com efeito, se olharmos para o mapa de Itália com as cores do vencedor no uninominal encontraremos um mapa quase todo pintado com as cores do bloco de direita. Falo de 147 mandatos para a Câmara dos Deputados e de 74 para o Senado, os que foram disputados em maioritário uninominal a uma volta: 121, na Câmara, e 59, no Senado, foram para a coligação de direita.
III.
VEJAMOS MAIS CONCRETAMENTE. O centro-esquerda desunido teve mais cerca de 1 milhão e meio de votos e mais de cinco pontos percentuais (13.858.030 e 49,35%) do que o bloco de direita (12.299.648 e 43,79%). A gravidade da desunião viu-se sobretudo nos círculos uninominais, onde a coligação de direita teve, para a Câmara dos Deputados, 121 mandatos e, para o Senado, 59 mandatos, ao passo que o centro-esquerda desunido teve apenas 22, para aquela, e 15 para este. Se pusermos lado a lado estes dois factores, número global de votos obtidos e mandatos obtidos no uninominal, poderemos ver a dimensão do erro do PD e, em geral, de toda a esquerda. Toda a gente sabia o que iria acontecer se o centro-esquerda fosse a eleições desunido com o actual sistema eleitoral (o Rosatellum) em vigor. Como disse, e muito bem, o filósofo e ex-presidente da Câmara de Veneza, Massimo Cacciari,
“con questo sistema elettorale il centrosinistra è andato a giocare a briscola con le regole dello scopone. Era evidente che perdesse. Questo è un sistema elettorale che premia la coalizione”.
Em votos, o centro-esquerda desunido é maioritário; em mandatos, perdeu clamorosamente. O bloco de direita, mesmo com diferenças e em clara competição interna, foi mais inteligente e soube aliar-se eleitoralmente. O centro-esquerda preferiu o erro e o espírito de “quinta”. Perdeu clamorosamente. Mas não é tudo. Há também questões de identidade em todos os partidos do centro-esquerda, no PD, no M5S e na dupla Calenda-Renzi (líderes dos partidos unipessoais Azione e Italia Viva).
IV.
O QUE É QUE ACONTECEU, no essencial? O FdI – um partido que esteve sempre na oposição e que disso retirou vantagens, sobretudo na fase do governo Draghi – foi tirar votos à Liga de Salvini e também ao M5S (este tivera 32,6% nas eleições de 2018 e agora tem 15.55%), movimento que congregava eleitores de direita e de esquerda, afirmando-se como um movimento anti-sistema. A partir de 2018 (Governos com Salvini, Conte I, e com o PD, Conte II, e depois, com Draghi), deixando de ser um partido anti-sistema, foi caindo nas sondagens até aos cerca de 10%, tendo conseguido agora iniciar uma inversão de tendência com a nova liderança de Giuseppe Conte. Com Conte assumiu um perfil mais de esquerda, procurando de novo uma identidade de oposição, uma esquerda social centrada na representação dos excluídos e dos deserdados. Nestas eleições, afirmou-se significativamente no Mezzogiorno, uma região sempre economicamente deprimida. E estar na oposição explica também, em parte, o crescimento de Giorgia Meloni, que ficou fora do governo de unidade nacional liderado por Mario Draghi. E é isto mesmo que Matteo Salvini vem agora dizer para explicar a sua enorme queda eleitoral. Por outro lado, o Partido Democrático é um dos grandes perdedores, ficando-se em menos de 19% dos votos, ou seja, mantendo-se quase ao nível de 2018, mas agora perante um grande transvase de votos para a extrema-direita de Meloni, que então obtivera pouco mais de 4% (4,35%, se não erro).
V.
COMO PODEREMOS CARACTERIZAR GIORGIA MELONI e o seu partido? Ela é, de facto, a herdeira legítima do Movimento Sociale Italiano, inscrevendo-se na tradição que vai até ao Partito Nazionale Fascista, de Benito Mussolini. O símbolo de ligação directa ao Movimento Sociale Italiano, de Giorgio Almirante, é a “fiamma tricolore”. É soberanista, embora não seja contra a União Europeia, cantando, todavia, com garra, o hino da Europa dos “patriotas” e o da “soberania dos povos”. Ou seja, a União Europeia é tolerada apenas por razões de oportunidade, de pragmatismo político. O bloco europeu soberanista, representado sobretudo pela Polónia e pela Hungria, vê-se agora reforçado pela Itália e talvez também pela Suécia, quatro países que poderão vir a condicionar fortemente a orientação política da União. Assume-se como atlantista e não titubeia sobre a questão da Ucrânia. É ferozmente adversária, como, aliás, toda a direita radical, do politicamente correcto e das políticas identitárias, como se viu muito bem no discurso da Andaluzia, que transcrevo a seguir. Não aceita o “rendimento de cidadania”. E é adversária de algumas das conquistas civilizacionais que ocupam a agenda dos países desenvolvidos (por exemplo, a eutanásia). “È finita la pacchia”, disse durante a campanha eleitoral. “Pacchia”: facilitismo, festança, bodo aos pobres. É isto o que ela quer dizer. E di-lo em relação à Europa, esquecendo-se que Itália foi o país mais beneficiado com o PRR (mais de 200 mil milhões”, una pacchia”, diria eu), mas di-lo também em relação a Itália e às políticas sobre os direitos civis e sociais promovidos pelo centro-esquerda. Como ontem alguém dizia, numa televisão italiana: votem, depois fiquem em casa e deixem-nos governar com mão dura, para pôr a Itália na ordem. “È finita la pacchia”. Sobretudo em matéria de imigração, estreitamente associada (ou até reduzida) à questão da segurança: proteger as fronteiras, ou seja, bloquear a entrada de navios com imigrantes nos portos de Itália. Esta política já dera bons frutos eleitorais (e jurídicos) a Salvini. FdI integra plenamente o grupo de partidos de extrema-direita europeia, VOX, Rassemblement National, Fidesz, de Orbán, “Lei e Justiça”, de Kaczynski, e… o CHEGA. E quer introduzir um regime presidencial (eleição directa do Presidente da República), embora não se saiba bem em que termos. Vai aplicar (parcialmente) a “flat tax”. E così via…
VI.
MAS VALE A PENA VER O QUE DISSE, em discurso directo, Giorgia Meloni num comício do VOX na Andaluzia, em Junho de 2022:
“Ou se diz sim ou se diz não. Sim à família natural, não aos lobbies LGBT; sim à identidade sexual, não à ideologia de género; sim à cultura da vida, não ao abismo da morte; sim à universalidade da cruz, não à violência islamista; sim a fronteiras seguras, não à imigração massiva; sim ao trabalho dos nossos cidadãos (o público do VOX levanta-se em pé), não às finanças internacionais; sim à soberania dos povos, não aos burocratas de Bruxelas… e sim à nossa civilização e não aos que a querem destruir… viva a Europa dos patriotas” (transcrevi directamente do discurso oral)
Todo um programa a ler e a interpretar com atenção. São estes os princípios que a inspiram. O tom em que o disse não deixa margem para dúvidas. E talvez interesse mais reflectir sobre isto do que sobre o próprio programa eleitoral da coligação.
VII.
O GRANDE ERRO DO CENTRO-ESQUERDA: a sua fragmentação, gravemente prejudicial sobretudo nos círculos eleitorais maioritários uninominais a uma só volta. E o centro-esquerda de novo a derrapar, agora em Itália. Erros tácticos, mas também problemas de afirmação da sua identidade. Problema de tal dimensão que levaria Massimo Cacciari a dizer que o PD “è, insomma, un partito tutto da rifondare.” Por sua vez, o M5S, com a saída de Luigi di Maio, e a nova liderança de Giuseppe Conte, está em processo de refundação, apresentando-se hoje como um movimento de esquerda social, já muito distante daquele M5S que se dizia não ser de esquerda nem de direita, sendo um partido anti-sistema. Agora será, sim, um partido de oposição, mas a sua identidade estará mais claramente definida e assumida. Só não se sabe como a conjugará com o (novo) PD, a refundar. Ou como coexistirão estes dois partidos numa área política que parece sobrepor-se, afim. Com Conte, o M5S deixa de ser aquele partido digital, que foi concebido por Gianroberto Casaleggio (sobre este movimento veja-se o meu Ensaio “Mudança de Paradigma: a emergência da rede na política. Os casos italiano e chinês”, ResPublica/17, 2017, 51-78), para passar a ser um partido mais institucional, mais na linha dos partidos clássicos. Mas a verdade é que os clássicos partidos da alternância (da esquerda e da direita clássicas) estão em crise e o sistema de partidos está definitivamente fragmentado, requerendo hoje uma maior capacidade de diálogo político. Em Itália, ainda por cima, é costumeira a vontade de formar partidos unipessoais, o que acentua ainda mais a fragmentação do sistema de partidos. É o caso dos partidos Azione (de Calenda) e Italia Viva (de Renzi). Uma coisa é certa: à esquerda o que temos é uma situação algo caótica, não se vendo uma força central com capacidade de polarização, com uma identidade bem definida e programaticamente bem concreta nas matérias fundamentais, em condições de protagonizar um movimento progressista e de atrair ao seu projecto as outras formações políticas mais consistentes. O PD é todo para refundar e a competição pela liderança já começou. Letta, numa carta aos militantes, diz em que termos deverá ocorrer o Congresso Constituinte do novo PD, diz que estará em causa “l’identità, il profilo programmatico, il nome, il simbolo, le alleanze, l’organizzazione” do novo partido. O M5S de Conte está em fase de afirmação da sua nova identidade, depois da experiência de di Maio (que nem sequer conseguiu ser eleito) e da tutela cada vez mais longínqua de Beppe Grillo, “Il Garante”. Prevê-se uma fusão dos partidos Azione e Italia Viva e, por isso, aguarda-se uma redefinição de identidade. Agora, todos terão tempo para isso, pois o que se prevê é cinco anos de governo da direita radical. Os efeitos vão-se sentir em Itália e na União Europeia.
NOTA
O MINISTÉRIO DO INTERIOR já reconheceu vários erros na contagem de votos, incluído o erro relativo a Umberto Bossi, o histórico (ex-)líder da LEGA, que, afinal, foi eleito. Logo que terminada a recontagem darei aqui notícia, se for caso disso, ou seja, se alterar os dados que aqui apresentei e que foram obtidos no site do Ministério do Interior. Corriere della Serra, hoje (29.09): “non c’è qualche partito che guadagna seggi e qualcun altro che ne perde. Il numero dei seggi distribuiti a livello nazionale a ciascun partito è rimasto invariato”. Ponto.
“PESSOA REVISITED”
A propósito da monumental Biografia
de Fernando Pessoa, de Richard Zenith
Por João de Almeida Santos

“O Poeta”. JAS. 09-2022
RETOMO A SEGUNDA VERSÃO de um texto que aqui publiquei há algum tempo, desenvolvo-a e enriqueço-a, com a mesma estratégia discursiva, mas com uma viagem pelo monumental e excelente livro de Richard Zenith, Pessoa. Uma Biografia (Lisboa, Quetzal, 2022, 1184 páginas, com uma bela tradução de Salvato Teles de Menezes e Vasco Teles de Menezes). Referindo-me essencialmente a Bernardo Soares, também me refiro em geral a Fernando Pessoa, sem preocupações filológicas de distinção entre heterónimos. Reproponho também, alterado, um quadro alusivo ao poeta, o mesmo Pessoa que se escondeu nos inúmeros heterónimos que construiu como máscaras para dizer a verdade: “o homem é menos ele quando fala na sua própria pessoa. Se lhe dermos uma máscara dir-nos-á a verdade” (Zenith, 2022: 422). E eu dei-lha, aqui. Mas esta figura parece ser, pelo menos por fora, a do conhecido desassossegado. Uma máscara que vale para todos os seus rostos porque deixa indefinido o rosto vivo do poeta, lui-même, sich selbst, exibindo tão-só os adereços que ficaram famosos e o identificam como Fernando Pessoa. Heterónimos que foram muitos. Muitíssimos, como pormenorizadamente nos conta Richard Zenith ao longo das quase mil e duzentas páginas. De resto, estes óculos exprimem toda uma filosofia, toda uma visão do mundo. Óculos a mais para rosto a menos. Rosto poeticamente dissimulado, escondido, à superfície, atrás atrás dos adereços e, mais em profundidade, nos heterónimos. Por isso aqui surge a negro, só ficando à vista a pura exterioridade distintiva do personagem.
O DESASSOSSEGADO, A POESIA E A VIDA
ELES, OS ÓCULOS, apesar de tudo, reflectem um certo verdor com que o mundo se exprime, embora nele o verde não represente lá grande esperança. Pelo menos aqui, neste quadro, com este luto de identidade perdida ou nunca revelada. De qualquer modo, é um verdor mais verde do que o verde do mundo. Ah, sim, o verdor espiritual, o que é pintado com palavras ou com o verde que sai directamente da alma de um pintor. E este saiu. Bem poderia ser, pois, o indivíduo que leva sempre a renúncia a peito e que se identifica com um tal Bernardo Soares. Um gajo da família de um tal Fernando Pessoa, esse personagem sempre envolvido por um certo e sebastiânico nevoeiro ou, mais poeticamente dizendo, por uma certa neblina existencial. Sim, esse, o do desassossego. Um tal que, antes, dava pelo nome de Vicente Guedes, “um empregado de escritório introvertido” (2022: 688). Um tipo muito cerebral. Talvez até demais. Personagem estranho e pouco dado às cedências da vida vivida, que não à vida pintada com palavras, seja de que forma ou de que cor for. O tal que, estranhamente, não se ajeita com a poesia e que, quando precisa dela, pede ajuda a outros, designadamente ao engenheiro Campos. O que é estranho, porque o desassossegado é filho de peixe e, por isso, deveria saber nadar. Mas não importa, porque tem sempre ali, à mão de semear, vários e bons poetas, o Caeiro, o Reis ou o Campos, para não falar dos que escrevem em inglês. Mas ele, sobretudo ele, nem sequer se ajeita com a vida, o que já é mais natural do que não se ajeitar com a poesia. Uma alma mais filosófica do que poética, este desassossegado Soares. Talvez assim seja, embora o seu criador se achasse “um poeta animado pela filosofia e não um filósofo com faculdades poéticas” (2022: 273). Mas esse era o eterno encapuzado com os barretes heterónimos e, por isso, pouco digno de crédito. Uma coisa é certa: o gajo não acertava uma em cada projecto que imaginava. E que nunca (ou quase nunca) concretizava. Perguntem ao Richard Zenith que sabe tudo sobre ele (sabe mesmo) e verão que é verdade. Mas, para seu consolo, sempre poderíamos dizer que há por aí tantos outros que não se ajeitam com a vida, mas não sabem. Eu acho que sabe, até porque o que é importante para ele é construir ou reconstruir o mundo com palavras. Que é mais mundo do que o mundo propriamente dito. E, por isso, o importante é a arquitectura, não a construção. Se não é, tem de ser, até porque ele tem o espírito e a alma franzidos pela aspereza e a contingência do existir. Dá-se mal com isso. Ele bem tenta adaptar-se às suas exigências, mas nunca consegue. Falha sempre nas tentativas de entrar no mundo pela porta. Só entra pela janela, à distância. O que o leva, sobretudo ao Soares, a reiterar teimosamente a sua militante dissidência e o seu ziguezaguear em relação à vida. A sua dissidência estética da vida. E erótica, também, pois, apesar de os espíritos do além lhe terem garantido sucesso, só foi capaz de dar uns beijos à Ofélia Queiroz, antes de se despedir dela numa carta um pouco fria e talvez mesmo despropositada (2022: 690-691). À sua maneira ele é um insurgente existencial que tem como única arma de combate a palavra. Move-se a partir da superfície plana da existência (é assim que a assume) para dentro. Parecendo falar para os outros, o que ele faz é falar de si para si, a propósito de tudo e de nada, inventando interlocutores à medida do momento e das circunstâncias. O seu olhar é como que devolvido pelos óculos, que se lhe colam ao rosto como sua pele. Como uma máscara. Ou melhor, como suporte de todas as máscaras. O seu não seria rosto sem o chapéu e estes óculos. Ficaria tudo a negro. Óculos como espelho da alma mais do que espelho do mundo e para o mundo, trabalhados a cinzel como se quer a um filósofo que goste de poesia, embora não se ajeite com ela. Quer ele queira ou não – e já disse que não – é filósofo. Oh, sim, também é, ou então não tinha encarnado no desassossegado Soares. Ficava-se pelos outros. E é por isso que me associo a Zenith e lhe pergunto descaradamente: “o verdadeiro Fernando Pessoa quer fazer o favor de se identificar?”. Ou o senhor é sempre outro, nunca você próprio (2022: 761)? Ah, os óculos! Às vezes até parece que ele não é mais do que uns óculos que só vêem para dentro. Como se o meio fosse a mensagem – uma mensagem “ocular”, com uma estranha cor, a dos óculos, que lhe devolve um real já pré-representado por si. Um verdor que é mais seu, mais íntimo, do que exterior, do que da natureza. Os óculos como terminal de um cérebro autocentrado… na sua alma.
O ESPÍRITO E A ALMA
DIGAMOS A VERDADE: não há existência tão verde como o verde que se reflecte nos seus óculos, o da alma. Talvez nem sequer haja existências verdes, mas somente existências com algum verdor. E talvez nem sequer a sua alma reflicta tanto verdor. Eles, os óculos, em boa verdade, são mais um espelho do espírito do que da alma. Nem espelho do mundo nem da alma, mas do espírito. Voilà. É este, o espírito, que pinta o verdor com palavras. Afinal, alma e espírito nem são a mesma coisa, pois este é culto e aquela, a alma, pode não ser. Falo no plano transcendental, claro, embora um espírito inculto seja mais alma do que espírito. Digamos, uma alma um pouco espiritual. Mas a verdade é que a alma não tem de ser culta. A alma sente e o espírito pensa. Mas pode haver um sentir inteligente, uma alma que pensa? Talvez não, porque a inteligência tende a embaciar o sentimento. Tal como o sentimento embacia a inteligência. Pelo menos em parte, porque não fluem, ambos, livremente, turvando-se mutuamente. É como o amor. Não há amor inteligente, mas amor feliz… e doloroso. O amor é mais da ordem da alma do que da do espírito. É por isso que se diz “dor de alma” e não “dor de espírito”. E, por isso, o espírito é perigoso para o amor. Quando ele chega, dita lei e o amor acaba. E ele, o Bernardo, vê sempre o amor com o filtro espiritual dos seus óculos. Foi o espírito dele que derrotou a Ofélia Queiroz. Ele desenhava o amor com palavras, isto é, neutralizava-o ou, pelo menos, relativizava-o. E isto acontecia cada vez que ia passear com a Ofélia e levava com ele o Álvaro de Campos, que ela odiava. As vezes que ela lhe pediu para o não levar com ele! Mas o outro impunha-se e acabou por estragar a relação. Ou seja, anulava o amor, porque ele tem de ser incondicionado, não pode ficar engavetado em palavras, sobretudo as que o engenheiro Álvaro de Campos usava. Sempre que a encontrava. Diz o Zenith que este sempre fez tudo para “frustrar o relacionamento deles” (2022: 675). O Fernando acabou, como sempre, por transformar o seu relacionamento afectivo num tópico literário (2022: 574). E ali arrumou o assunto.
Pois, com este negro, que o torna irreal, até mais do que já era, e, por isso, mais perdurável, é mesmo ele, o homem da renúncia, o que nunca se deixa ir para não se perder, ao sair de si, o que quer subsistir… à força de sentimentos desvitalizados e transfigurados. Ou não foi ele que disse que “agir é exilar-se” (2022: 802)? E, se tivesse de se “exilar”, então, mandava o Campos encontrar-se com a Ofélia ou, pelo menos, iam os três passear. Assim, “exilava-se” menos. Ele olha para a vida – o olhar deveria ser tudo – como para uma galeria de arte, sobretudo uma galeria de arte literária, que as outras artes podem muito bem ser subsumidas na literatura, à excepção talvez da música (2002: 504). Ele olha para um rosto como se fosse uma fotografia pendurada numa parede, animando-a com o que tem disponível na alma naquele momento. Mas no qual não toca sequer com a ponta dos dedos. Tudo parece ser, para ele, um pretexto para redesenhar o mundo no seu estirador mental. Redesenhar também Portugal e elevá-lo a V Império, pelas letras. Como fazem os melancólicos profundos quando se sentem impotentes para o mudar realmente, na prática. Desenham-no com os traços e as cores da utopia e acreditam que um dia ela acontecerá. Pelo menos no papel. Sim, sim, apesar de eu ter dúvidas de que o Soares ou o seu artífice alguma vez tenham querido verdadeiramente mudá-lo na sua mundana escala. Tentativas não faltaram, como nos conta o Zenith, mas nunca passavam de projectos que essa figura algo espectral e movida pelo vento nunca (ou quase nunca) passava à prática. Mas não creio que por ser incapaz ou por não ter jeito para isso, como o Soares dizia que acontecia com a poesia. O que, lá mais no fundo de si mesmo, ele não queria realmente era misturar-se com essa irrelevância da vida vivida. Porque ela é banal, andam por lá todos… Era o que mais faltava!
ÁCIDO SULFÚRICO, A OFÉLIA?
NA VERDADE, este homem tem o corpo confundido mais com o espírito do que com a alma. Só se lhe vê a parte de cima, o sítio onde está o espírito, de propósito, o que não aconteceria se tivesse jeito para a poesia e andasse por aí aos trambolhões, dorido de alma. Nesse caso, haveria de se lhe ver o peito. Mas não, porque também tem a alma confundida com o espírito, numa progressiva redução de planos, ou camadas. Ele, afinal, é um desdobramento do seu artífice, esse espírito voraz, capaz de (in)digerir o mundo com palavras. Uma bela operação, diga-se. As palavras viram-se para dentro dele, dobradas sobre si, e o bigode (que está lá, mas não se vê) é a porta fechada da sua fala. Uma fala espiritual. Resistente e fechada, à força, não vá a tentação abri-la e deixar escapar um reles sentimento carnal ou uma comprometida e ridícula declaração de amor. Não, não vá ele queimar-se com esse “ácido sulfúrico” que são as mulheres. Sabia bem o que temia: o “ácido sulfúrico” que era a Ofélia (2022: 679). É preciso renunciar. Ficar na “mansarda” mesmo não morando nela (2022: 803). Mas para renunciar é preciso força de vontade e alguma crispação. Lábios apertados até se anularem na superfície lisa do rosto. A boca, tal como os olhos com os óculos, está protegida pelo bigode e pelos lábios apertados. “Vulgares bocas de mulheres beijas / E eu só o sonho vão da tua boca”, dizia num poema homo-erótico, que terminava dizendo que a sua maior tortura seria a de, aceite pelo amado, se sentir “incapaz do último acto”. Incapaz, ele, que tem “tanta gente” em si, de sair da “toca poética”, como refere Zenith (2022: 663). Andam por aqui memórias de Antinous – A Poem, esse poema sobre a paixão de Adriano pelo jovem grego Antínoo, que viria a ser tão bem retratada por Marguerite Yourcenar, nas Memórias de Adriano. Sim, mas a boca, essa, beijou e com loucura, diria, mais tarde, quem a sentiu: Ofélia Queiroz. Mas foi sol de pouca dura, certamente porque o poeta não quis correr o risco de ficar “exilado” para toda a vida. E para isso criou um muro protector, o bigode, esse arame farpado que lhe protegia a alma. Tal como os óculos eram o muro que lhe protegia o espírito das vulgares insídias do real, do canto das “sulfúricas” sereias luminosas e tentadoras. Que mais se pode imaginar se não isto, quando olhamos para os seus óculos e para esse chapéu amarelo de tanto sol apanhar? A verdade é que o espírito, mais do que a alma, precisa de sol, mas que não seja em demasia, para não o encandear ou mesmo incendiar. Precisa de sol indirecto e o chapéu absorve a energia solar e alimenta-lhe o espírito. Chapéu e óculos, as armas do guerreiro que quer ganhar o mundo à custa de palavras, em português ou em inglês, essa ondulação em que foi navegando durante toda a sua vida.
INDIFERENÇA SENTIMENTAL
“INDIFERENÇA SENTIMENTAL” – dizes tu, ó Desassossegado. Essa eu até a reconverto em palavras ao rubro com a alma aos pulos, livremente, à minha vontade e até contra mim e tudo o que eu próprio planeei para ser eventualmente feliz. Ah, como é bela a indiferença, se for minha e a puder converter em autêntica diferença. Ser indiferente de forma original é cultivar a diferença e afirmá-la perante iguais. Ser indiferente é sugerir ao outro que eu existo sob forma irredutível, que sou outros, muitos outros, para além dele, a ponto de nem me aperceber que esse outro ele existe. E ele sentir isso na pele. Até a gravata me torna mais encrespado com o exterior de mim. Agarra-me pelo colarinho e não me deixa ir. Sou livre à força… quase à forca. Morrendo para fora à medida que vivo para dentro… de mim. Sim, porque a minha “alma se identifica com aquilo que menos vê” (2022: 546). Para fora, claro. Não para dentro, que é onde eu vivo ou mesmo me conservo: “sou um fragmento de mim conservado num museu abandonado” (2022: 506). É que, depois destes óculos me terem protegido quando “uma rajada baça de sol turvo (quase) queimou nos meus olhos a sensação física de olhar”, passei a olhar quase só para dentro, olhando de través para fora, sem tirar os óculos… Hum, só o suficiente. Minimalismo visual, diria. Mas não comprometido. Cedendo apenas um pouco à exigência desse objecto que tenho no meu rosto e a que chamam “óculos”. Nome tão estranho como o de “olho”… nome que tem essa sonoridade seca, e quase oca, que exibe como triste sonoridade. “Olho”! Prótese quase supérflua porque não me serve para ver o essencial, aquilo com que a alma mais se identifica. Serve para me resguardar, mas não para ver o essencial. Que está dentro de mim. Tudo o resto é puro acidente, coisa supérflua, e, portanto, só serve para ser visto de través. O que já é demasiado. Os meus óculos são mais um muro do que uma prótese para ver o mundo. Quando falo para o mundo as palavras fazem sempre eco no muro e saem fazendo ricochete nele. Chegam lá de mansinho com a energia quebrada pela rigidez deste muro ocular. Demasiado de mansinho, a ponto de só timidamente me ir literariamente afirmando. O que requer um sentido prático da vida que eu não tenho e que, para falar a verdade, não quero ter porque não pretendo exilar-me de mim próprio. Ou lá o que isso seja…
METAMORFOSE
“QUE OS TEUS ACTOS sejam a estátua da renúncia, os teus gestos o pedestal da indiferença, as tuas palavras os vitrais da negação” – é isso que sentes, ó desassossegado da vida, quando falas dela? É isso, renúncia, indiferença e negação? Tudo pela negativa? A vida é só metamorfose espiritual? É metempsicose? Com a fixidez desse teu olhar escondido atrás dos óculos metabolizas e suspendes a vida, para a viveres interiormente de forma mais intensa? Decidiste eliminá-la “pelo processo simples de” a “exprimir intensamente”, fazendo com ela o mesmo que fazes quando o obsceno te captura e te obriga a escrever, como fizeste em Epithalamium e em Antinous (Carta a Gaspar Simões – 2022: 416-417)? Está atento, que a vida ainda pode atropelar-te. E atropelou. Pouco, mas atropelou, levando-o a atirar-se para um vão de escada com uma Ofélia que beijava perdidamente. Sol de pouca dura ou, o que é mais provável, experiência obrigatória para quem estava a ser constantemente interpelado pelo além para experimentar o amor de uma mulher. Um amor que se revelaria desajeitado, talvez porque o que ele melhor sabia fazer era “uma arte de masturbação” (literária), talvez mesmo com homens, consigo próprio ou até com o seu amigo do peito Mário de Sá-Carneiro (2022: 397-398).
QUESTÃO DE LUZ
“UM AMARELO DE CALOR estagnou no verde preto das árvores”, dizes tu, com esse ar sisudo, de caso. Mas foi por baixo que estagnou… sim, no teu rosto, quase te queimando para a vida. Estagnou em ti porque estavas sob esta copa pouco frondosa, mas suficiente, que é esse teu chapéu amarelo. Mas, mesmo assim, o teu rosto pintou-se de negro neutro, marca da passagem do sol por ele. Sim, sim, o negro está em ti porque não é humanamente real e faz de ti um ser livre e solar. Em palavras. Foi o sol que te queimou a alma e te pôs negro por fora, para que permanecesses resguardado, protegido da luz exterior que pode cegar. Questão de luz, meu caro. Sobrou-te o espírito, eu sei, e só com ele te debruças sobre o mundo. Esse resiste e sobrevive. Mesmo sem alma ou com ela queimada, de tanto sol cair sobre ti. Queima-se a alma, liberta-se o espírito. Parece-te sensato? Não, não parece, mas não posso esquecer que tu és um insurgente existencial.
EM SUMA
ACHO, POIS, que uma parte importante de ti se chama mesmo Bernardo Soares e que essa parte gostaria muito de ter jeito para a poesia. Não tem, mas é como se tivesse. Por detrás do negro escondem-se muitos outros rostos que adoram escrever poesia. Até porque o que tu vês é o mesmo mundo que vêem os poetas. Foi por isso que o teu pai te arranjou tantos irmãos poetas, sabendo muito bem que a poesia não é para todos. Sobretudo para os que fecham as portas ao real e ao embate da paixão. Às fraquezas da alma. Claro, a poesia está perto demais do sentimento, da emoção, da vida e tu correrias o risco de te deixares ir na onda da sua perigosa e lamentável fugacidade. Seres como os outros na sua triste corporeidade sujeita à prisão do banal e corruptível sentimento. Andar por aí aos caídos. Oh, isso é que não. E o negro ajuda à renúncia, pois ajuda. Logo, ajuda a procurar a beleza intemporal, a que não é corruptível, biodegradável. Negro não é azul nem vermelho. Um é etéreo demais e o outro é demasiado emocional. Por isso, é melhor conservares-te assim e não saíres de ti a não ser o estritamente necessário, só para espreitares, de esguelha, a realidade. Mantém-te no intervalo, afasta um pouco a cortina e espreita o público a remexer-se nas cadeiras antes de o espectáculo da vida começar. De qualquer modo, esse pouco de vida de que precisas estará sempre lá, não desaparece. E assim ainda serás maior (por dentro) do que o tamanho do que vês (por fora), se é que, com esses óculos, vês mesmo. Se vês é com os teus sentidos interiores, apesar do sinal enganador desses teus óculos aparentemente tão comprometedores e instrumentos de observação do exterior. Olha, se te deixasses ir um pouco até à vida achas que te tornarias banal? A tua relação, ou mesmo ralação, com a Ofélia banalizou-te? Ao menos toca o real com a ponta dos dedos e, se for caso disso, depois desinfecta-a com palavras um pouco mais fortes ou até mesmo mais ácidas. Ou tens medo do “ácido sulfúrico” da vida e do sexo? Ah, bem sei! Não tens jeito para a poesia e achas que só ela é que te poderia salvar em caso de perigo, em caso de contágio. Mas tenta, meu caro, tenta, não sabes quanta metafísica pode haver na ponta dos dedos quando eles folheiam o real, sobretudo num poema, e o poder que têm de te resgatar dos fracassos da vida. Tens tanta poesia lá em casa, Bernardo Soares! E da boa! Bom, mas não te quero convencer porque, como dizia o outro, o acto de convencer alguém é pura violência, é tentativa ilegítima de lhe colonizar a alma, de impor superioridade espiritual. E eu, que sou poeta, prezo muito a liberdade, a minha e a dos outros. E, portanto, também a tua. A de seres o que quiseres e ser sempre outro que não tu mesmo. O que quer dizer que também podes, ao mesmo tempo, ser poeta, ser Reis, Caeiro ou Campos e, portanto, resolver esse teu problema existencial. É como voltar a ser criança, como tanto desejaste quando já só te sentias um adulto com excesso de lucidez, a ponto de te começares a informar com o teu amigo sobre como seria a vida no manicómio onde o tiveram enclausurado por algum tempo. Mas não, tens muito mundo a visitar com os teus irmãos. Afinal, mesmo não tendo jeito para ela, sempre gostaste de poesia, não é?
A RAINHA, A POLÍTICA E O PODER DO SIMBÓLICO
Por João de Almeida Santos

“The Queen”. Composição minha sobre capa da TIME. 08.09-2022.
ELIZABETH II partiu e com ela toda uma época passa definitivamente aos anais da História. Ela era o mais rico e significativo testemunho vivo do que de mais importante aconteceu na História Mundial desde o segundo pós-guerra. E representava uma importante dimensão da política – o poder do simbólico, colante no qual se reconheciam um reino (UK) e uma comunidade internacional (Commonwealth) por identificação na concreta personalidade de uma Rainha que interpretou, com leveza e densidade, uma altíssima função institucional agregadora. O poder do simbólico materializado, no palco da História, no corpo de uma mulher com profissionalismo, dedicação, humanidade. E leveza, sim, poder-se-ia dizer sem receio de errar. A leveza do seu sorriso, a leveza do seu espírito de humor e a delicadeza com que foi exercendo o poder. E o valor político do simbólico a partir do qual se estrutura a visão de um país sobre si próprio e se sedimenta a própria identidade, para além das diferenças. Sim, para além das legítimas diferenças políticas que têm expressão institucional numa monarquia constitucional. Uma grande narrativa, a de uma potência, que sobreviveu na sua pessoa, interpretando-a radicalmente ao entregar-se de corpo e alma à função que a história lhe pôs nas mãos, no rosto, no corpo. Corpo vivo e singular de uma nação, com a superior e difícil exigência de anulação da própria subjectividade por diluição integral na identidade nacional. Uma função complexa que devia sobreviver às contingências do tempo histórico, durante as sete décadas em que foi máxima autoridade do Reino Unido e da Commonwealth. A própria magnificência dos palácios reais acabava por ser redimensionada na figura simples, austera, elegante e humana da monarca, que os habitava com a mesma simplicidade do cidadão comum que habita essa nação grande e poderosa. Ao que parece, do que ela gostava era mesmo do ambiente natural de Balmoral, na Escócia, da vida simples que aí podia ter. Mas nessa simplicidade ela era mais do que si própria e também mais do que a própria monarquia constitucional. Transcendia-se e transcendia o sistema político, respeitando-o escrupulosamente, mas elevando-se a figura tutelar da nação, confundindo-se de tal modo com ela que, como alguém disse, às vezes era difícil dissociá-las. Alguém se perguntava se uma vida poderia ser vivida assim, em permanente negação de si própria para realizar a plena afirmação de uma identidade nacional materializada no corpo vivo de um ser humano que era, afinal, igual a todos os outros. A representação política foi aqui consumada, ao mais alto nível, no simbólico, correspondendo-lhe, como é natural, uma dimensão muito mitigada dos seus concretos poderes, que mais eram rituais e cerimoniais.
I.
NELA, NA RAINHA, a monarquia ganhava um seu peculiar sentido, merecendo aceitação mesmo daqueles que não partilhavam o sentido do regime. Era um traço de união de todos os ingleses na sua simplicidade e na sua grandeza. Algo que parece ter desaparecido nestes tempos caóticos e desajustados que estamos a viver, onde o simbólico e a ética pública parece terem sido relegados para um plano inferior. É por isso que a sua partida sela mesmo o fim de uma época. Uma época ainda de grandes narrativas, de sentido do trágico histórico, da virtus e da gravitas emprestadas à política, marcas indeléveis de responsabilidade histórica transtemporal. A sua partida é, pois, sentida como uma Ausgang, uma saída irreversível que é também perda irreparável. Marca, sim, o fim de uma época.
II.
ALGUÉM DIZIA (com uma ponta de ironia) que a maior homenagem que se lhe poderia fazer seria ninguém ocupar o lugar que foi o seu. Seu, quase como que por antonomásia. Sim, mas mesmo que seu filho Carlos III o ocupe, e já ocupa, é impossível repor o sentido e o simbolismo de uma história que passou e que com ela, sua especial intérprete, se fechou. O seu lugar nunca poderá ser ocupado por quem quer que seja, porque o interpretou de uma forma irrepetível, quase uma obra de arte com aura, construída ao longo de muitas décadas no seu atelier de Buckingham. De certo modo, em solidão, tal como os artistas. E não só porque o tempo histórico não se repete. Também porque ela se plasmou e diluiu na função. Se transfigurou. Deu posse à nova Primeira-Ministra como sempre o fez e logo, dois dias depois, partiu no silêncio dos seus aposentos em Balmoral, deixando aquele sorriso inconfundível e aquela imagem doce, fisicamente tão marcada (nas mãos), para o futuro. Como se tivesse interrompido a marcha implacável da sua partida para cumprir, pela última vez, com serenidade e gentileza, o seu dever. E fê-lo na Escócia, um lugar problemático para a unidade do Reino Unido, deixando, com a sua presença, no momento crucial da sua vida, o momento de fronteira, uma silenciosa, mas significativa, mensagem de apego, de afecto e de identidade aos escoceses.
III.
O SEU MAIOR LEGADO talvez seja o da importância do simbólico na história e na política quando interpretado por uma pessoa concreta de forma tão elevada, mas tão simples, elegante e dedicada. Esta imagem final de uma simplicidade trágica (sabemos agora) a receber a nova primeira-ministra, o seu último e terno sorriso, diz tudo sobre ela e marca com enorme singeleza inesperada o fim de uma época.
IV.
TUDO TEM UM FIM, mas nem todos os fins são iguais. A partida da Rainha é maior do que o fim de um soberano porque ela transportava consigo um simbolismo irrepetível. God save the Queen queria mesmo dizer God save the United Kingdom. Esta era mesmo uma identidade profunda, acima das peripécias da história e dos episódios mundanos de uma família que, como tantas outras, está sujeita às vicissitudes próprias dos seres humanos. Sobreviveu às contingências, sim, mas porque se elevou acima delas. Por isso ela partiu intacta e nas universais manifestações de pesar não é possível encontrar ponta de hipocrisia, ao contrário de tantos outros momentos em lutos de significado histórico.
V.
TAMBÉM EU, que sou republicano, lhe presto a minha homenagem e evidencio o significado do seu reinado, da forma como o interpretou, do seu minimalismo constitucional e da intensidade simbólica da sua identificação com o destino de uma enorme comunidade, como legado simbólico a assumir no futuro como expressão de valores que a história humana merece que sejam preservados, seja nas monarquias constitucionais seja nas repúblicas.
Thanks, Her Majesty The Queen Elizabeth II.
#JAS@09-2022

A ESQUERDA NA EUROPA DO SUL
Quo Vadis?
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 09-2022
JULGO SER INTERESSANTE PROPOR, partindo das sondagens mais recentes (de Agosto e Setembro), uma reflexão sobre a esquerda na Europa do Sul, onde somente o PS mantém uma clara hegemonia política, liderando o governo do país (o PSOE governa, mas com maioria relativa e em coligação). Na Grécia, apesar da liderança de Nikos Androulakis ter, ao que parece, levantado o PASOK do estado calamitoso em que se encontrava, estando hoje, nas sondagens, em cerca de 11%, a bipolarização continua a centrar-se na Nova Democracia e no Syrisa, com valores a rondarem respectivamente os 33% e os 24%. Na França, é o que se sabe: o PSF desapareceu ou foi engolido pela esquerda de Jean-Luc Mélenchon. Em Espanha, está a acentuar-se de forma sustentada a hegemonia do PP de Núñez Feijóo, distanciado (nas últimas 10 sondagens), com cerca de 32%, a 8 pontos do PSOE, com cerca de 24%, enquanto se verifica uma consolidação do VOX, com cerca de 15.5%, e uma progressiva queda do Unidas Podemos, para cerca de 11%. Em Itália, é o Fratelli d’Italia, legítimo herdeiro do Movimento Sociale Italiano, de Giorgio Almirante, fascista, que lidera, com 25,1% (IPSOS, de 02.09) e 25,8 (SWG, de 05.09), situando-se o Partido Democrático em segundo lugar, a cerca de 3 ou 4 pontos de diferença (22% e 21,4%), mas o terceiro lugar é ocupado pela LEGA, de Salvini, (com 12,1%, SWG; mas na sondagem IPSOS passa para 4º lugar com 12,2% contra 14,1% do M5S, que sobe para 3.º lugar) também de extrema-direita, tendo o Movimento5Stelle 11,9% (SWG) e mantendo-se o Forza Italia em 8,3% (IPSOS) ou caindo para 6,7% (SWG). É de anotar que, no ranking dos líderes (IPSOS), Giorgia Meloni (FdI) já ocupa o primeiro lugar, com 34,5%, seguida de Conte (M5S), 31,5%, Salvini (Lega), 27,4%, Letta (PD), 26, 2%, e, finalmente, Berlusconi (FI), com 26%.
Sabe-se agora, depois das eleições de Domingo, 11 de Setembro, que os Democratas Suecos, partido de extrema-direita, já são o segundo partido sueco, com 20, 6%, depois do partido social-democrata, que continua a ser o primeiro partido, com 30,4%, não tendo, todavia, conseguido levar o centro-esquerda à vitória, podendo para a direita e a extrema-direita, que obteve 176 mandatos contra os 173 do centro-esquerda. O partido de Akesson, os DS, alinha no Parlamento Europeu com o partido da Senhora Meloni, o FdI. Formar-se-á, portanto um governo de direita que irá integrar os DS. Mais uma lição para o centro esquerda: o grande protagonista destas eleições é um partido cuja principal orientação é a luta contra a imigração, ficando na sombra a sua verdadeira identidade ideológica, pouco recomendável quer para vencer eleições quer para integrar um governo (mudara, entretanto, a chama para uma flor, no seu logo).
I.
A SITUAÇÃO não é brilhante para o centro-esquerda e o próprio PS, apesar da situação confortável de que dispõe, tem de ver um pouco mais além do que, no meu entendimento, está a ver. E, ao contrário do que poderia parecer, o facto de dispor de uma maioria absoluta talvez lhe dê melhores condições para, no plano do partido, proceder ao aggiornamento e aos ajustamentos que teima em não fazer. A começar logo pelo próprio partido, pela doutrina e pelo modo como entende a política, porque é aqui, a montante do processo, que se joga o essencial. Por uma simples razão: são os partidos que fornecem os mais altos dirigentes para a direcção política do país. A forma como se vê e se identifica, como se organiza, como funciona, como se prepara estrategicamente e se dota de um horizonte ideal em linha com os tempos é, pois, decisiva. Mas isso não acontece simplesmente adoptando a linguagem asséptica, o politiquês, ou politicamente correcta, aquilo que os franceses chamam langue de bois, agora aggiornata. Depois, é fundamental perceber por que razão a extrema-direita está a ter o sucesso que se vê nas sondagens e nos resultados eleitorais nesta Europa, estudando o seu discurso, tão motivador para enormes faixas do eleitorado. Como e por que razão as motiva. Em Itália, ela já corresponde a cerca de 38% do eleitorado, sem contar com o partido de Berlusconi (que vem exibindo regularmente uma média de cerca de 8%), um partido de tipo neoliberal (ou melhor, liberal em política e “liberista” em economia”). Em França, o Rassemblement National dispõe hoje de 89 deputados na Assembleia Nacional e a sua líder continua a ser a alternativa presidencial, num sistema maioritário a duas voltas. Aqui, no plano parlamentar, a alternativa é a coligação NUPES, liderada pelo senhor Jean-Luc Mélenchon e pelo seu partido “La France Insoumise”. Em Espanha, o VOX em pouco tempo atingiu quase uma média de 16,6% no conjunto das sondagens, mas tendo nas últimas dez recuado para cerca de 15,5%. Na Hungria, o parceiro político e ideológico da direita mais radical, o partido-Estado Fidesz do senhor Viktor Orbán, governa o País e acarinha a extrema-direita internacional, designadamente o partido de Matteo Salvini, o amigo político de Putin, com o qual, em tempos, este assinou um protocolo de colaboração entre os respectivos partidos, que teve posteriores e polémicas consequências. Na Polónia, o Lei e Justiça, partido de direita, do senhor Kaczynski, o seu poderoso líder, governa e dita lei. Em Portugal, em duas eleições, o CHEGA passa de 1 para 12 deputados no Parlamento.
II.
POR TUDO ISTO, torna-se necessário compreender por que razão estas forças políticas conseguem atrair importantes faixas do eleitorado, sendo certo que elas centram o seu combate em duas linhas fundamentais de argumentação: contra o politicamente correcto e as políticas identitárias que, errada, mas eficazmente, imputam em geral ao sistema e às forças de centro (-esquerda ou -direita) que o governam; e contra a visão liberal da sociedade, retomando a velha tradição romântica e anti-iluminista, crítica radical do legado da revolução francesa (veja-se a obra de Alain de Benoist e as declarações de Orbán sobre o liberalismo). Mas é também necessário compreender as razões de fundo que explicam a fragmentação dos sistemas de partidos, à direita e à esquerda. Uma coisa, todavia, é certa: não vamos lá com a habitual conversa da mudança dos sistemas eleitorais ou com a contratação de especialistas de comunicação. E não vamos lá porque a questão é mais profunda e atinge, por um lado, a própria ideia de política e, por outro, a nova identidade do cidadão/eleitor (veja-se o que, sobre este assunto, digo no meu “A Política, o Digital e a Democracia Deliberativa”, em Camponez, Ferreira e Díaz-Rodriguez, Estudos do Agendamento, Covilhã, Labcom-UBI, 2020, pp. 137-167). Não falo, pois, de targets eleitorais, não. Falo do cidadão em geral, daquele que hoje tem acesso ilimitado à informação através de variadíssimas plataformas, dos media tradicionais à rede, das plataformas tradicionais às novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs). Esse mesmo cidadão que tanto é eleitor como é consumidor ou produtor, que tanto pode ser progressista nos costumes como pode ser conservador na política, que tanto milita em partidos como é activista em associações de vário tipo. Falo de um cidadão que exibe várias pertenças em simultâneo e que é alvo de informação amplamente disseminada que lhe chega por diversas plataformas, tornando subalterno o velho sentimento de pertença ideológico e político e que até já possui meios que permitem circunscrever o poder instrumental dos media tradicionais (imprensa, rádio, televisão), que, todavia, continua a ser muito forte. E falo também de um cidadão que está cansado da langue de bois da política e muito mais ainda da nova ordem linguística que o activismo identitário e politicamente correcto lhe quer impor moral e juridicamente, sob pena de proscrição da justa ordem social. Uma versão laica, aggiornata e sofisticada do velho auto-da-fé, agora processado pela nova religião e pelos novos cardeais do politicamente correcto através do pelourinho electrónico ou, nos casos mais graves, da fogueira electrónica, onde pululam os seus fiéis representantes.
III.
MAS FALO TAMBÉM de uma política que não pode continuar a ser reduzida a uma espécie de conversa de conselho de administração que é quase igual em todos os programas eleitorais. Vão ler o programa da coligação de (extrema-) direita italiana e digam-me se não tenho razão. Se, portanto, quiserem ver qual é a política desta coligação não será através da leitura do seu programa eleitoral (que é puramente instrumental), mas, sim, ouvindo, por exemplo, o discurso da senhora Giorgia Meloni no comício do VOX na Andaluzia, por ocasião das recentes eleições regionais, onde o PP obteve a maioria absoluta e onde, mesmo assim, aquele partido ainda conseguiu, se não erro, mais dois mandatos do que os que tinha. Um discurso, este, que mostra a virulência com que a extrema-direita ataca as políticas identitárias, como se elas fossem já a expressão do sistema em vigor. Em boa verdade, ela, em parte, acerta no alvo visto o irresponsável acolhimento, passivo e activo, que a política identitária e politicamente correcta tem vindo a ter no próprio sistema e nos seus principais agentes, alimentando, deste modo, o discurso da extrema-direita e engordando-a eleitoralmente. Já chega também de identificar governo com governança e de reduzir a política à gestão do statu quo, tantas vezes com a lógica e o deslumbramento do aprendiz de feiticeiro, gerindo instrumentalmente a comunicação e a informação para fins exclusivamente eleitorais. O fim não deve ser, para a esquerda, a mera conquista do poder, mas sim a conquista do poder para fazer coisas e mobilizar a cidadania, induzindo confiança e espírito de comunidade, promovendo junto dos cidadãos aquilo que o Kennedy disse de forma muito certeira: não pergunte o que é que os Estados Unidos podem fazer por si, mas sim o que é que você pode fazer pelos Estados Unidos. A esquerda deve proteger e garantir os direitos, as garantias e as liberdades, correspondendo às expectativas dos cidadãos, mas não pode esquecer os deveres e as responsabilidades, afastando essa erva daninha que é a fórmula “a culpa é do sistema”, que desresponsabiliza tudo e todos, a começar pelos próprios. Desresponsabilização que atira para o Estado, esse paternal manto protector, o dever de tudo reparar, com os recursos financeiros dos (poucos) cidadãos que pagam impostos. Para este fim, é, pois, necessário promover seriamente uma ética pública e o sentido de responsabilidade e de dever, sem deixar, claro, de abrir espaço à livre e plural ética da convicção e de promover a centralidade dos valores e o investimento estratégico na cidadania pela formação cívica, pela ética, pelo conhecimento, pela cultura, pela arte, dimensões intangíveis hoje tão subalternizadas ou abandonadas perante o domínio absoluto da centralidade dos bens materiais de consumo ou, em geral, dos chamados “bens transaccionáveis”, na vida social. A questão é de uma simplicidade meridiana: não pode haver uma boa sociedade e uma boa política democrática sem cidadãos motivados, bem formados, autodeterminados e com uma relação com a sociedade sensível aos valores da comunidade. A conversa da produtividade a todo o custo, para onde tudo parece convergir, centrada exclusivamente no trabalho (individual), é errada sabendo nós que a produtividade hoje está essencialmente centrada na ciência, na tecnologia e, claro, na boa organização das unidades produtivas e que, este é o ponto, só promovendo uma ética do trabalho financeiramente sustentada será possível pedir aos cidadãos efectivo empenho a todos os níveis. Não se consegue promover a ética do trabalho sem condições materiais sustentáveis. Até já o fordismo (à sua maneira, claro) compreendera a relevância deste factor (veja-se Gramsci, A., Quaderni del Carcere, Torino, Einaudi, 1975, III, 2164-2169). Mas não serão somente as imprescindíveis condições materiais a gerar esta ética se não houver um esforço formativo estrutural, assente na educação, formal e informal, da cidadania ao longo da vida. E, todavia, o que se vê, em geral, ou seja, como discurso social dominante, é o das plataformas informativas a explorarem sistematicamente, em prime time, durante mais de uma hora, todos os dias, o negativo e a promoverem a imitação do que realmente não presta e é nocivo à própria auto-estima da comunidade. A hegemonia do irrelevante e do negativo parece ser a estratégia do poder mediático para promover o seu poder financeiro, funcionando à revelia da sua enorme responsabilidade social. Mas o que faz a esquerda perante esta autêntica e permanente intoxicação da opinião pública com o negativo e o irrelevante, para não dizer com estratégias de poder? Nada. Agacha-se, não vão os patrões dos canais televisivos retirar-lhe tempo de antena. O mesmo vale para o poder judicial, que se julga com legitimidade equivalente à do Parlamento e que age livremente sem qualquer tipo de controlo. O que faz a esquerda perante o estado calamitoso da justiça em Portugal? “À política o que é da política, à justiça o que é da justiça”, como se a justiça não estivesse sujeita à soberania popular, através dos seus representantes. Parece terem esquecido que separação de poderes não equivale a igualdade de poderes. O poder legislativo tem legitimidade directa proveniente do soberano. O poder judicial tem a sua legitimidade assente no poder legislativo (a própria Constituição é aprovada pelo Parlamento, reunido como Assembleia Constituinte). A responsabilidade sobre o bom funcionamento do sistema social é da inteira responsabilidade do poder político, não do poder judicial.
IV.
OS PARTIDOS DE ESQUERDA, prenhes de tanto Estado, deveriam investir na sociedade civil de onde emanam e a que pertencem, “back to the basics”, assumindo-se como forças propulsoras de uma boa cidadania em vez de se servirem dela exclusivamente para fins eleitorais e como máquinas de puro acesso ao poder, de ocupação da máquina estatal, de distribuição de empregos e de lobbying sistémico. Como se se tratasse, nas eleições, de uma gigantesca OPA – a concurso para um número limitado de organizações – para a conquista de uma grande e sólida empresa de gestão de recursos humanos e de activos financeiros (Administração Pública e recursos financeiros do Estado). Pelo contrário, a sua função deveria ser a de, representando o interesse geral, se interporem na relação entre os oligopólios (que existem, nos sectores nevrálgicos da sociedade) e a cidadania, protegendo-a do seu imenso poder, exercido em cartel, gerido silenciosamente em back office e resguardado pelas muralhas intransponíveis dos call centers. Por outro lado, no plano da doutrina, continuo a não perceber como é que certos partidos sociais-democratas ou socialistas continuam a recusar o património liberal clássico, sobretudo hoje, que a centralidade do indivíduo/cidadão/eleitor/consumidor/produtor é um dado incontestável, vista a superação moderna da composição orgânica das sociedades, a globalização de processos e da comunicação e a centralidade da ciência e da tecnologia na economia. E por que razão a ideia de partido como órgão vivo da sociedade civil, e não como academia para iniciados e pura antecipação e prefiguração do Estado, continua fora dos horizontes dos partidos? E por que razão não apostam na eficiência do Estado, na sua regeneração, pondo fim ao funcionamento da máquina estatal somente por inércia (a não ser nos impostos)? Quem trabalha nele deveria compreender que são os cidadãos que, com os seus impostos, lhe pagam o ordenado e que o seu trabalho deve estar inscrito numa saudável ética pública. É urgente romper com o círculo infernal do crescimento da máquina estatal e do crescimento progressivo dos impostos que caem exclusivamente sobre cerca de metade da população activa.
V.
TUDO ISTO É URGENTE, ao mesmo tempo que é urgente compreender por que razão o PSF desapareceu, depois de o seu líder ter acabado de desempenhar as funções de Presidente da República; compreender por que razão o PASOK colapsou, cedendo o seu lugar à extrema-esquerda na dialéctica da alternância; compreender por que razão a subida do VOX está a acontecer de forma tão rápida e tão significativa, mesmo com o PP a crescer também; compreender por que razão a extrema-direita cresceu tanto e tão rapidamente também em Itália, a ponto de se poder prever que irá formar governo a partir do mês de Setembro, sendo certo que não é a primeira vez que este país é um significativo laboratório político europeu e não pelas melhores razões; e, finalmente, compreender as razões do rápido crescimento do CHEGA em Portugal. E não falo da Academia. Essa seria outra conversa, pois também ela parece estar mais preocupada em gerir carreiras do que em produzir pensamento e saber válidos socialmente. Falo dos partidos políticos que detêm a responsabilidade política directa sobre a sociedade.
VI.
NÃO SE TRATA de fenómenos conjunturais, mas de razões de fundo que se reforçarão se não houver um esforço de compreensão das mudanças estruturais que se estão a verificar e se não houver as correspondentes mudanças de fundo nas políticas essenciais do país. Por exemplo, nas políticas fiscais, que estão a empobrecer brutalmente os poucos (cerca de metade da população activa) que pagam impostos. Ainda continua válido o princípio de “no taxation without representation”, que associa “taxation” a “representation”, agora adaptado aos novos tempos nas sociedades pós-coloniais e, por isso, invertido na ordem dos seus termos, “no representation without taxation”? E se, em homenagem a este princípio e como símbolo de reconhecimento do valor comunitário pela cidadania, por toda a cidadania pagasse impostos, embora alguns de forma meramente simbólica? Não, não se trata da “flat tax”, mas de uma forma de expressão material do dever comunitário e de efectivo empenho social, ainda que simbólico nos casos em que isso se justifique. Aquilo a que se assiste em Portugal, do ponto de vista fiscal, é verdadeiramente pornográfico. Impostos directos, indirectos, taxas e taxinhas, sempre a somar. Apetece, a propósito, usar uma certeira expressão italiana: “chi più ne ha, più ne metta”. Basta, a título de exemplo, fazer a análise do que acontece a quem tem uma viatura e a usa: impostos e taxas sobre tudo, sobre a compra (imposto sobre veículo e IVA, dois impostos sobre o mesmo produto), sobre a posse (IUC), sobre os combustíveis (ISP e IVA), sobre auto-estradas, que já são de uso comum (preço de circulação e imposto de 23% sobre o respectivo preço), sobre o estacionamento (de 23% e mesmo em superfície), sem contar com a política sniper da polícia para encher, através das multas, os bolsos do Estado. Quase se poderia dizer que se está a assistir a uma captura e mercantilização ou privatização, pelo Estado e pelos privados, do espaço público. Ter um carro e usá-lo, hoje, representa um rombo enorme nas próprias finanças, como se fosse um luxo (ainda por cima poluidor). Junta-se o princípio do utilizador-pagador, tão “hosanado” pelo antigo ministro Mexia, a níveis incomportáveis de impostos e de taxas sobre tudo o que mexe, não sendo, ambos, assumidos como relativamente alternativos, mas como soma financeiramente virtuosa, para o Estado e arredores, claro está. Já nem sei mesmo se esta injunção excessiva do Estado (compreendidas as autarquias) não representa, de facto, uma autêntica estatização integral da vida social por via fiscal. Um ulterior alargamento do manto protector – mas também castigador (neste caso, fiscal), como acontece sempre com o paternalismo protector – do Pai-Estado. O que não parece ser muito compatível com a matriz da nossa própria civilização, aquela que continua válida e inspirada na célebre e genial Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de Agosto de 1789. Mas será que os nossos políticos do centro-esquerda (mas até do centro-direita) não têm mesmo um sobressalto e fazem alguma coisa para mudar isto, antes que a cidadania tome medidas mais drásticas, e não as melhores, para mudar as coisas? Será que estamos mesmo condenados a correr sempre atrás do prejuízo, como está a acontecer mais uma vez com os fogos florestais?
NOTA
ESCREVI este artigo antes de conhecer as medidas do governo anunciadas na Segunda-Feira, mas, numa primeira análise, não me parece que tenham vindo a alterar qualquer dos aspectos aqui referidos. Nenhuma medida de fundo, mas apenas medidas pontuais, limitadas no tempo, sendo a medida relativa aos pensionistas uma mera antecipação de valores, compensada depois pela redução dos valores de actualização anual das pensões. Mantém-se a resistência a alterar os impostos em matérias fundamentais (por exemplo, combustíveis e gás, sendo que o da electricidade também é limitado no tempo, até final de 2023, e refere-se somente à taxa de 13% e não à de 23%). #Jas@09-2022

“S/Título”. Detalhe
MIKHAIL GORBATCHOV
Perestroika ou o princípio do fim
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 08-2022
COM A MORTE DE MIKHAIL GORBATCHOV creio ser necessário dizer o que representou verdadeiramente a Perestroika e o seu esforço para salvar a URSS do seu declínio, em vez de julgar unicamente o seu legado à luz do que hoje sabemos e conhecemos. Uma coisa é certa: com ele, o mundo mudou radicalmente sem que tenha havido derramamento de sangue.
Mas vejamos, então, como é que, no coração do sistema dos países socialistas, a URSS procurou resolver o impasse estrutural que o sistema estava a viver, em meados dos anos oitenta, quer do ponto de vista económico quer do ponto de vista político. A via é conhecida com o nome de Perestroika. Esta reflexão poderá ajudar-nos a compreender melhor a própria natureza do sistema socialista, em todas as suas variáveis, os seus limites, as razões profundas da sua origem e evolução e, finalmente, a tentativa de evitar o seu inexorável declínio.
URSS: Da Europa ao Oceano Pacífico. Cerca de 280 milhões de Habitantes. Mais de 22 milhões de KM2s. 15 Repúblicas Federais. Cerca de 200 línguas faladas. De 1917 a 1991: regime soviético.
I.
Em meados do século XIX, o populista A. I. Herzen, numa carta a Linton, fazia uma pergunta, e dava logo a respectiva resposta, sobre a evolução histórica da Rússia. Dizia ele:
«Deve a Rússia atravessar todas as fases do desenvolvimento europeu ou a sua vida desenvolver-se-á segundo outras leis? (…) Ao povo russo não é preciso começar do princípio este pesado trabalho».
Esta foi sempre a questão que se pôs quando se discutia a natureza do regime soviético. Um universo que nunca conheceu a experiência da democracia representativa. Por isso, a questão que se punha, durante a Perestroika, era a seguinte: para que, na URSS, pudesse realizar-se uma autêntica reforma global do sistema, seria necessário introduzir ex-abrupto ou a longo prazo um sistema pluripartidário de tipo ocidental? Ou bastaria que organismos sociais verdadeiramente autónomos, quer em relação ao Estado quer em relação ao PCUS, pudessem vir a ser decisivos para (a) a constituição material e formal dos sovietes, para (b) a formação de uma opinião pública e para (c) a constituição de um poder económico de novo tipo, uma vez libertadas as instituições do Estado da sua captura decisional pelos órgãos e pelos membros do PCUS?
Provavelmente, teria sido difícil introduzir ex-abrupto, num sistema com aquelas características e com a centralidade política internacional de que dispunha no sistema dos países socialistas, uma democracia representativa de tipo ocidental; a isso nem sequer ajudava a ausência de uma tradição histórica que se fundasse na emancipação individual ou em qualquer forma de democracia formal. As dificuldades por que passou a primeira tentativa de abertura do sistema, no período entre 1956 e 1964, e que levaria ao poder Brezhnev, desaconselhavam tal opção. De resto, não foi por acaso que, no XXVII Congresso do PCUS, a Perestroika arrancou como reforma económica, adquirindo características políticas mais inovadoras somente mais tarde.
II.
De facto, o Congresso de Fevereiro-Março de 1986 colocara a questão central da reforma económica no pressuposto de que se concluíra a fase de desenvolvimento económico extensivo ou quantitativo, isto é, virado exclusivamente para a plena satisfação e estabilidade das necessidades consideradas vitais. Exemplares a tal respeito são, segundo Otto Lazis, redactor da Revista teórica do PCUS, «Kommunist», os seguintes dados:
- o preço da carne e da manteiga não sofria alterações há 25 anos;
- o do pão há quase 40 anos;
- e o das rendas de casa há quase 60 anos.
Lazis, sugeria, por isso, na óptica da Perestroika, a necessidade urgente de alterar este sistema de preços, por se afastar demasiadamente dos seus custos sociais e do equilíbrio entre a procura e a oferta e, em última análise, por acabar por violar o próprio princípio da justiça social (AAVV, Il progetto Gorbaciov, Roma, 1987, p. 66) (PG). Tal reforma deveria conduzir ao impulso enérgico de uma nova fase de desenvolvimento económico intensivo ou qualitativo, baseado na modernização, no emprego maciço de tecnologia científica avançada e na eficiência, com o objectivo, como então afirmou o influente economista gorbatchoviano Aganbejian, de «substituir os métodos administrativos pelos métodos económicos», deixando a vida das empresas
«de ser determinada por ordens e índices detalhados ditados do alto, mas por encomendas, pelos preços, pelo crédito, pelos estímulos» e contribuindo, deste modo, para «liquidar a ditadura do produtor sobre o consumidor».
Zdenek Mlynar, ex-dirigente dubchekiano do PC checo, projectava, então, a reforma a uma escala mais ampla e radical:
«uma direcção que se funde em factores intensivos de desenvolvimento rege-se pelo princípio de que “o que não é proibido é permitido”, enquanto uma direcção que trava e sufoca o desenvolvimento intensivo age segundo um outro princípio: “o que não é permitido é proibido”» (PG, p. 29).
Trata-se de uma passagem fundamental uma vez que na ideologia oficial soviética, na opinião de Mlynar, «o sistema que favorece o desenvolvimento intensivo da sociedade foi [antes] definido a priori como algo que convém somente ao capitalismo» (PG, p. 30).
A urgência desta passagem tinha origem numa situação económica deteriorada, como então dizia Boris Krotkov:
«as tendências desfavoráveis que se manifestaram no desenvolvimento da economia na década de ’70 acentuaram-se no início dos anos ’80, quando caíram os ritmos da produção. Agravaram-se os índices qualitativos da gestão económica (…). As causas principais de tal situação residem no facto de, na actividade prática, não ter sido levada em conta oportunamente a modificação da situação económica, relacionada com o esgotamento das possibilidades do crescimento extensivo» (XXVII Congresso do PCUS: discussões e decisões, Moscovo, Nóvosti, 1986, p. 13).
E, de facto, na economia soviética verificou-se uma tão «grave queda dos ritmos de desenvolvimento que levou o incremento quinquenal do rendimento nacional de 41% (1966-1970) para 16,5% (1981-1985) com uma linha descendente constante» (U. Cerroni, Implicazioni e prospettive del nuovo corso soviético, intervenção num seminário do «Centro di Studi di Politica Internazionale», Roma, 1987). Tal situação não poderia, pois, deixar de, uma vez por todas, exigir uma promoção «do processo de intensificação da economia com base na aceleração do progresso técnico-científico, no aperfeiçoamento multilateral e na melhoria da forma e dos métodos da gestão económica socialista» (Krotkov, cit., p. 21).
Mas em que é que consistia um tal desenvolvimento económico intensivo ou qualitativo considerado pelo Congresso como meta fundamental da Perestroika e a que a própria reestruturação política se deveria subordinar, como afirmava Lazis (PG, pp. 62)?
Umberto Cerroni (1987) e Giuseppe Boffa (“Socialismi in movimento”, PG, pp. 83-90), dois autores profundamente conhecedores da realidade soviética, apontavam as seguintes traves-mestras do projecto reformador pretendido com a passagem da fase extensiva para a fase intensiva de desenvolvimento:
- planificação soft baseada na previsão científica a longo prazo (Cerroni);
- autofinanciamento das unidades produtivas e sua gestão com base num cálculo de rendimento (Boffa);
- centralidade do lucro empresarial (Cerroni);
- avaliação, não por índices brutos, mas por índices de mercado do produto (Cerroni);
- autonomia das empresas e sua relação directa com o mercado (Boffa);
- concorrência interempresarial filtrada por comissões de aceitação do produto (Cerroni);
- centralidade das tecnologias de processo e de produto (Cerroni);
- comércio de bens instrumentais em vez da sua dotação administrativa (Boffa);
- função estimuladora e selectiva dos preços, das remunerações e do crédito (Boffa);
- diversificação dos rendimentos segundo critérios de produtividade colectiva, além de individual (Boffa).
III.
Não será difícil intuir que uma tal passagem ao desenvolvimento intensivo exigiria uma transformação mais global e radical de todo o edifício social. Foi assim que o princípio de que «tudo o que não é proibido é permitido» se constituiu também, de algum modo, como princípio de ordem social e não só económica, não obstante ele estivesse intimamente ligado à rejeição da aplicação generalizada dos métodos administrativos na economia e à necessária liberdade económica das empresas do ponto de vista do financiamento, dos mercados, dos preços e dos estímulos, exprimindo também a possibilidade de expansão qualitativa do consumo por oposição ao império dos critérios quantitativos e administrativos aplicados directamente à esfera da produção.
Mas a verdade é que ele indicava uma tendência mais geral para a relativa inversão da lógica da relação entre o Estado-sistema e o cidadão-indivíduo. Este último era, aliás, considerado por Mlynar (“Quanto pode contar o indivíduo”, PG, pp. 42-49) como um dos pilares centrais de uma reestruturação que quisesse vingar, precisamente porque «a política reformadora da URSS se confronta[va] e se confrontará[ria], durante muito tempo, com aquele emaranhado de contradições constituído pelas relações, mediadas pelo direito, entre poder político e indivíduo singular» (PG, p. 42). Mas esta não era uma questão pacífica nem fácil porquanto o conceito de cidadão-indivíduo, enquanto sujeito principal de direitos civis e políticos, foi sempre identificado, pela tradição socialista, com a concepção formalista dos direitos humanos, onde se reconhece somente relações de «igualdade formal abstracta» entre indivíduos que, afinal, para esta tradição doutrinária, vivem em sociedades divididas em classes reciprocamente hostis e onde às classes subalternas não são garantidos os direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais. O que não acontecia na mundividência socialista, onde o sujeito dos direitos políticos era um sujeito colectivo (o grupo social, a classe, o colectivo de trabalho, etc.), através do qual eram garantidos a cada indivíduo, antes de mais, os direitos sociais fundamentais (ao trabalho, à instrução, à assistência na saúde, etc.).
Esta concepção em relação ao cidadão-indivíduo não era, de modo nenhum, um artifício ideológico do sistema que visasse um maior enquadramento e uma maior docilidade da sociedade civil em relação ao poder constituído. Ela tinha raízes históricas mais profundas:
«antes de mais», afirma Mlynar, «encontramo-nos perante o facto de que na Rússia pré-revolucionária não existia uma sociedade civil derivada, como no Ocidente, das grandes revoluções burguesas do séc. XVIII. Além do mais, a Rússia não viveu a evolução ideal que no Ocidente precedeu a formação da sociedade civil, do Renascimento e da Reforma protestante até ao iluminismo».
Não existia, portanto, como muito bem viu Gramsci, «uma robusta estrutura da sociedade civil» que fundasse um moderno individualismo de tipo ocidental e, por consequência, a centralidade dessa figura político-jurídica do indivíduo-cidadão.
“O atraso económico, social e cultural», continua Mlynar, «o analfabetismo das massas populares e sobretudo dos camponeses que viviam em situação de relações semi-feudais e em formas de colectivismo pré-capitalista (a ‘obscina’): esta era a base real sobre a qual se começou a edificar o sistema soviético em 1917”.
Inúmeras vezes, Lenine sublinhou que tudo isto influenciava decisiva e negativamente o sistema soviético. Ao mesmo tempo, e embora a Rússia ainda não tivesse conhecido a igualdade formal dos cidadãos, tão criticada por Marx (por exemplo, em Sobre a Questão Hebraica), a ideologia soviética partia precisamente
«dessa crítica marxista à sociedade burguesa do século XIX e dos inícios do século XX. Ponto fixo desta crítica era ainda a polémica com as ideias iluministas sobre os direitos humanos naturais. A este respeito, o marxismo defendia que o resultado da concepção jusnaturalista é, na realidade, somente um cidadão abstracto, formalmente livre, enquanto o homem socialmente determinado está submetido à desigualdade social e à opressão, mesmo num sistema de direitos e liberdades civis» (PG, 47-48).
Portanto, com a Perestroika tratava-se de recuperar a importância económico-social e política desse sujeito individual de direitos que via diluída a sua individualidade não só nos sujeitos colectivos em que estava integrado, mas também nos organismos do sistema institucional soviético, sem, com isso, perder de vista a importância deste sistema para assegurar esses direitos substanciais que estavam constitucionalmente garantidos (Constituição de 1977) na URSS (direito ao trabalho, a remuneração, ao repouso, à assistência na saúde, à instrução, à casa).
Mas a verdade é que esta recuperação do papel activo do cidadão-indivíduo não poderia, todavia, acontecer se não fosse acompanhada por uma reestruturação radical dessa principal fonte de distorção do sistema que eram as relações entre o partido e o Estado, as relações destes com os organismos sociais e do indivíduo com todos eles.
IV.
Já no XXVII Congresso estes aspectos eram, segundo a síntese feita por Otto Lazis (Dezembro de 1986), para além da reforma económica, também objecto de análise como objectivos estratégicos da reestruturação:
«modificação da práxis eleitoral e renovação sistemática da composição dos sovietes dos deputados do povo, alargamento das funções e dos poderes dos sovietes locais, melhoramento do controlo exercido pelos eleitos sobre o aparelho estatal com o objectivo de reduzir o burocratismo dos aparelhos, maior empenho dos sindicatos», acções tendentes a reforçar a vida democrática nas empresas, no debate público e nos métodos de votação, defesa da autogestão kolkhoziana [cooperativas; sovkozes: fazenda estatal] e crescimento do papel das diversas organizações sociais (PG, p. 63).
Aqui estavam contidas medidas que poderiam vir a transformar profundamente o sistema se fossem aplicadas radicalmente: desde a apresentação de várias candidaturas concorrentes em cada colégio eleitoral para os sovietes como condição essencial não só para o seu renovamento sistemático e a aplicação do originário e leniniano princípio rotativo, mas também para a consecução de uma real autonomia e capacidade de efectivo controlo dos actos do aparelho estatal, passando pelo reforço, crescimento e autonomia dos organismos sociais como contraponto do peso da organização partidária, até à expansão da publicidade, da transparência (Glasnost) da vida político-institucional.
Com o reforço dos sovietes visava-se repor a centralidade dos sovietes locais no complexo institucional do Estado, elevando-os a células organizativas fundamentais de todo o sistema de poder. Como, afinal, pretendia Lenine ao considerar o sistema soviético como a forma autêntica onde se funde a autogestão e o Estado.
Mas o que, entretanto, aconteceu, e aqui sigo a análise de Mlynar (“Além dos sovietes”), foi que, havendo sempre órgãos que escapavam ao controlo dos sovietes (no campo da economia, nas estruturas militares e de segurança), sobretudo após a morte de Lenine (1924), todos os campos decisivos da vida social passaram a ser dirigidos pelos aparelhos centrais que, concretamente, não estavam subordinados aos sovietes, mas sim a um PCUS cujo sistema de controlo e de direcção se desenvolveu fora do alcance daqueles. E, de facto, com a Constituição de 1936 – aquela que haveria de inspirar todas as outras Constituições dos países do sistema socialista do pós-guerra -, os sovietes passaram a ser mais instâncias representativas de tipo parlamentar do que do tipo «Comuna de Paris», mas com uma diferença importante: o candidato a deputado era único no respectivo colégio eleitoral, acabando por ser escolhido pelo partido. Deste modo, era o partido que determinava a constituição material das instituições do Estado, desaparecendo o princípio rotativo que Lenine tinha previsto e que garantia um efectivo controlo do poder pela sociedade (PG, pp. 50-57). Princípio este que, aliado à NEP, poderia efectivamente ter constituído um poderoso pilar para o forte enrobustecimento da sociedade civil.
V.
A entrada em vigor de uma Lei sobre o trabalho privado veio, entretanto, completar a revalorização do papel dos sovietes e reforçar, de facto, a ideia, defendida por muitos, dentro e fora da URSS, de que existia uma profunda ligação da Perestroika com a Nova Política Económica (NEP) de Lenine. Só que, ao contrário do que aconteceu nos anos ’20, era cada vez mais claro que se tornava necessário promover também uma «NEP política» para que o projecto reformador não só não sucumbisse às mãos da burocracia administrativa do partido e dos ministérios, mas pudesse, pelo contrário, consolidar-se e aprofundar-se (veja-se Adriano Guerra, In attesa di una «NEP politica», in «Rinascita», nº 47, Roma 1986). É verdade que esta lei vinha legalizar finalmente uma economia submersa privada e ilegal de grandes proporções que há muito florescia na URSS, mas também não é menos verdade que, por um lado, ela vinha pôr em crise a ideia «de que o trabalho individual, isto é, o que é efectuado fora das estruturas da economia de Estado» fosse «inconciliável com um ordenamento de tipo socialista» (Guerra) e que, por outro lado, nela se exprimia explicitamente o desejo do último Congresso de ver vigorosamente incrementado o «sector B» (artigos de consumo) em cerca de 22-25% (superior ao incremento do «sector A», meios de produção) até 1990, ou seja, um objectivo virado para o aspecto qualitativo da vida individual do cidadão soviético.
A reposição da validade social do sector privado da economia e da centralidade dos sovietes (em particular, dos sovietes locais) tornava-se fundamental para a revitalização do sistema naquilo que era sem dúvida a sua principal distorção: a sobreposição difusa dos órgãos do PCUS às instituições do Estado, tanto mais grave quanto ela se verificava num sistema monopartidário. Mas, no fundo, o problema não era tão original como isso já que ele equivalia ao que hoje se põe aos sistemas democráticos representativos ocidentais, isto é, à questão do império das elites partidocráticas e burocráticas modernas e de ilegítima confiscação do papel das instituições. Tal como nestas democracias – mas, claro, de forma mais radical, visto que não existia pluripartidarismo -, na URSS o problema de fundo consistia em separar eficazmente o Estado do partido para garantir que as decisões importantes não fossem tomadas fora e sem o controlo das instâncias electivas, fontes legitimadoras imprescindíveis para o exercício do poder. Numa palavra, a reposição do poder do único soberano legítimo: o povo.
Foi neste sentido que se moveu Gorbatchov, procurando reformar um sistema que dava sinais de profunda decadência, aproximando-o dos sistemas políticos ocidentais naquilo que eles têm de melhor, mas garantindo níveis de iniciativa e de protecção social que o legitimavam como sistema socialista.
VI.
Sabemos como terminou a Perestroika. O projecto de Gorbatchov ficou pelo caminho, com o contributo decisivo de Boris Yeltsin. A URSS deu origem à Comunidade dos Estados Independentes. O sistema socialista ruiu, não só na União Soviética, mas em toda a Europa. Grande parte das repúblicas socialistas vive hoje em sistema de democracia representativa e está integrado na União Europeia. O projecto de construção de democracia orgânicas europeias de inspiração socialista ficou irremediavelmente comprometido. A Europa é cada vez mais um sistema único política e institucionalmente enquadrado pela moldura institucional da União Europeia. Finalmente, a experiência que estamos a viver na era Putin tem o sabor antigo de uma tentativa de reposição imperial cujo destino será exactamente o mesmo que tiveram todos os impérios e muito mais o daqueles que se procuraram afirmar fora do seu próprio tempo. #Jas@08-2022.
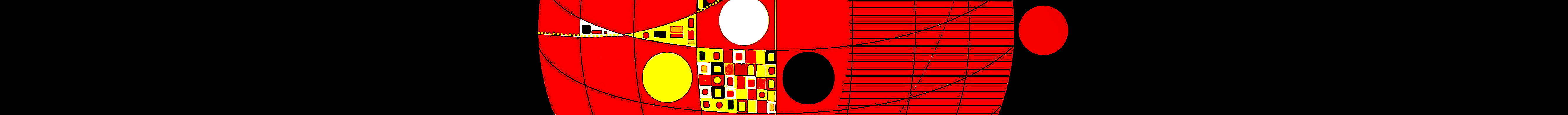
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARTE
Por João de Almeida Santos

“Espanto”. JAS. 2021. Pintura que integra a Exposição “Luz na Montanha” (n.º18 do Catálogo, 91×115), aberta ao público no Centro Cultural de Cascais até 25 de Setembro.
QUANDO PUBLIQUEI o meu livro Os Intelectuais e o Poder (Lisboa, Fenda, 1999) pus-me a questão do estatuto do filósofo. Quem se pode considerar filósofo? Licenciado em Filosofia, Professor de Filosofia ou Filósofo? Não é, de facto, a mesma coisa. Saber sobre filosofia não é a mesma coisa que filosofar. E acabava dizendo que a condição de filósofo só pode ser atribuída por outros, não pelo próprio. Não é como nos casos do economista, do médico, do sociólogo ou do jurista. É coisa mais grave porque toca algo de difícil comprovação: não através de um diploma, mas da sabedoria sobre os nexos essenciais ou constituintes da existência, da vida, da história. Numa palavra: ver para além dos particularismos ou especialismos. Mover-se numa ontologia do ser. O mesmo poderia ser aplicado ao poeta. Não basta fazer versos ou boa rima. É preciso sentir, exprimir e tocar as almas por dentro, em palavras com poder performativo. Mas talvez menos ao pintor, embora o passo que leva a esta condição só possa ser dado quando se verificar a condição referida pelo fundador da história da arte, Johann Winckelmann: um desenhador não é um pintor porque imita o belo, não o cria. Artista é o que cria beleza, não o que a copia. O mesmo vale, em geral, para a condição do artista, o que cria o belo, mesmo que seja o belo horrível.
I.
Os gregos diziam que a filosofia nascia com o espanto, que dava origem à interrogação sobre as causas primeiras do ser (em particular os chamados pré-socráticos, Parménides ou Heráclito, por exemplo). E a arte, a que não procura reproduzir o real, simplesmente descontaminando-o das imperfeições próprias da vida, mas recriá-lo a partir de uma visão interior do mundo e da vida? A música, a poesia, a pintura, o romance? Cada artista dará certamente a sua resposta, com a própria obra ou mesmo com palavras sobre ela. E já se sabe que as respostas são inúmeras, sobretudo nesta época de relativismo universal, de pós-modernismo, onde não há lugar para as grandes narrativas e para a profundidade temporal, de civilização da imagem e de triunfo do simulacro e de perda de aura da obra de arte, onde até uma banana colada com adesivo vale milhões pela sua qualidade estética ou onde o crítico, explicando o absurdo, acha que o que vale mesmo é a assinatura e nada mais. A assinatura como arte, onde o conteúdo nada importa. Uma visão notarial da obra de arte. Pois é. Se em tudo já é assim, relativo, na arte ainda é mais. Cada um parece ter a sua bússola estética com diferentes localizações para um mesmo lugar, seja ele o norte ou o sul. Um relativismo que desorienta e desresponsabiliza.
II.
Pois também eu tenho a minha ideia sobre o assunto, procurando cruzar a estética com a própria experiência de produção de arte (do romance à poesia, à pintura). E, a partir daqui, desenvolver uma reflexão que tenha um único sentido e um único valor: dar testemunho de como nasce a obra de arte (se for mesmo obra de arte, assim considerada, que não seja pelo próprio ou pelo que considera que a assinatura é tudo, seja uma banana, seja um mictório). O risco é grande, mas acho que vale a pena.
Digo muitas vezes que a poesia nasce de um estremecimento e desenvolve-se como solução para a própria vida, até pela sua altíssima performatividade, o seu valor como acção existencial com valor metalinguístico ou meta-semântico. Como acto sublime do viver. Fixei bem a ideia do Nietszche e do carácter primordial da experiência dionisíaca na criação estética. Uma espécie de libação existencial, de onde a poesia nasce quase como imperativo e como solução para resolver a “ressaca”, também ela existencial. Em palavras triviais, para concretizar melhor a ideia, diria que a poesia (ou a arte) funciona como uma espécie de remédio, um guronsan espiritual de fabrico próprio, de design sofisticado, prolongado no tempo e proposto aos outros que de algum modo também vivem em “ressaca”. Um remédio para a alma feito de palavras em composição melódica. O García Lorca dizia que a poesia não quer adeptos, mas sim amantes. Não se entra nela como se olha para uma montra ou para uma disputa desportiva. Entra-se nela como numa oficina onde se lapidam minerais. Alquimia, sim, alquimia. A arte quer envolvimento, sofrimento, dor, paixão, amor, pulsões, vibração existencial. E elevação. Não quer mãos limpas, distância, medo, relação puramente analítica com a realidade ou puro pragmatismo. A arte é um em-si (sich selbst) que prescinde do seu próprio exterior, embora nasça para ser comunicada, sim, mas de forma desinteressada. Desinteressada, sim, mas não para o próprio artista que a cria, porque algo interior lhe impôs a criação, requerendo-a mesmo como solução para a sua inquietação, o desassossego, capturando e resolvendo o estremecimento com a beleza das formas.
III.
Pediram-me, numa entrevista para a RTP, para escolher uma frase que me tenha influenciado ou que tenha sido importante na minha caminhada estética. Escolhi uma frase de Marguerite Yourcenar/Michelangelo Buonarroti, em “Le Temps, Ce Grand Sculpteur” (1983), para sublinhar o registo em que me movo no plano artístico: “Gherardo, maintenant tu es plus beau que toi-même”.
Esta frase sintetiza toda uma teoria estética, em que me reconheço integralmente, exposta em poucas linhas pela grande escritora. Esta frase é atribuída a Michelangelo Buonarroti, no segundo capítulo do livro, “Sistina”, e tem-me acompanhado no processo de construção da minha poesia e da minha pintura. Como confirmação de uma intuição prévia e real sobre a vida. Claro, não é a frase em si, mas o que ela indicia e que, de resto, está bem explícito, e de forma certeira, neste curto e profundíssimo texto sobre Gherardo Perini. Resumo, pois, o que a Yourcenar, através do monólogo que Michelangelo dirige ao seu amante, propõe como variáveis essenciais da arte:
- A arte recria em ausência. A ausência do ser amado ou do objecto de atenção estética deve acontecer enquanto a relação ainda não se desgastou (que a partida aconteça enquanto ainda for possível chorá-la). O artista sublima o que lhe sobrou do que teve.
- O silêncio é o seu ambiente natural e as cores são como acordes sobre este silêncio. E eu acrescentaria que também as palavras o são, talvez mesmo de forma mais intensa, quando dão corpo à poesia e vibram como as notas de uma pauta.
- A recriação é uma imobilização da alma do ser que se tornou objecto de atenção estética. O Stendhal chamava-lhe, em relação ao amor, “cristalização”.
- A visão do artista não se confunde com a dos outros que observam a mesma figura exterior porque ele extrai dela o essencial, que é invisível e que os outros não poderão conhecer. O artista “mira più alto”, como diria Galileo Galilei, referindo-se à filosofia.
- A recriação é, por isso, algo semelhante ao processo alquímico, que separa o subtil da matéria em bruto, só sendo acessível aos iniciados, ou seja, aos artistas. O artista vê a nudez da alma para além das roupas e do próprio corpo, que é, afinal, como os santos vêem as almas. Mas o artista é mais um alquimista do que um santo.
- A recriação é uma eternização do objecto estético, precisamente porque extrai dele o que não é simplesmente acessível ao olhar distraído do ser humano comum.
- A beleza é, por isso, algo que é grave e solitário (e único), como a dor. Não há beleza quando não há gravitas, densidade existencial.
- A arte é a única forma de verdadeira posse. Isto também o dizia o Fernando Pessoa no “Livro do Desassossego”. Possuir (no sentido material) é perder porque, possuindo, também se é possuído. Outra coisa é sentir sem possuir e dar corpo ao sentir pela arte. Só a renúncia permite a posse total (pela arte). Se não te possuo, não te perco. “Sou a ponte de passagem entre o que não tenho e o que não quero”, diria o Pessoa. A pergunta que fica é, pois, a seguinte: não tem porque não quis ou não tem porque não pôde ter? E que tipo de artista é: o que exprime o que não tem ou o que exprime o que sobrou do que teve? (Porto, Assírio e Alvim, 2015, 207-209). Pessoa é do tipo que não tem.
- A arte exige separação, diferença, um intervalo onde o artista se posiciona. Só ela permite a posse eterna: “só se possuem eternamente os amigos de quem nos separamos”. Para a Yourcenar o artista é o que exprime o que sobrou do que teve. É o que resulta da relação estética e de amor entre Michelangelo e Gherardo Perini.
IV.
Poderia quase dizer que estes são os princípios que me inspiram quer na poesia quer na pintura a partir de um momento fundacional: o estímulo sensorial sobre a sensibilidade que leva a uma inevitabilidade, a um imperativo: a sua conversão em arte.
Aqui, a pulsão do amor (de Michelangelo por Gherardo Perini) é evidentemente a que desencadeia o impulso estético, a (re)solução para a dolorosa partida, a necessidade de recriação estética do ser que ia partir como forma sublime de posse em ausência, a única possível. Posse de algo que é único porque não partilhável a não ser como contemplação já sob a forma de obra de arte.
A este momento pulsional e de partida Nietzsche chamava momento dionisíaco, libação existencial. Eu diria, então, da arte: no princípio (da arte) não é o verbo (como se diz na Bíblia: João 1:1) nem são sequer as coisas (como queria o Galileu: “prima furon le cose, e poi i nomi”), mas sim o estremecimento por via sensitiva. O que distingue o filósofo do ser humano comum é, segundo Galileo Galilei, a sua capacidade de ler o livro da natureza, de o decifrar (“il volgersi al gran libro della natura”, como diz logo no início do Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo – Torino, Einaudi, 1970, 2). E eu diria que o que distingue o poeta do ser humano comum é o seu (de “chi mira più alto”) poder de ler no livro das almas. E que começa por ser um estremecimento com força propulsiva, que sintoniza o poeta com o universo do sentir e se constitui como mola que desencadeia a sua resposta e que instala o ambiente estético em que se desenvolverá ulteriormente a criação. Só depois vêm os nomes, as palavras, as cores e os traços e a sua colocação num intervalo entre si próprio e a realidade. Uma separação metodológica. Um espaço intermédio onde se inicia o momento apolíneo. A partir deste intervalo vem a sinestesia, a abordagem dupla, poética e plástica, em convergência para a expansão e o desenvolvimento formal que se segue ao estremecimento primordial, sensitivo. Aqui intervém a técnica e a racionalidade, a dimensão formal. O espírito apolíneo, sim. E a exigência de muito trabalho e muito estudo. E só então a obra de arte ganha vida, desprendendo-se do autor, seguindo o seu percurso, levada pelo vento para destinos imprevistos e até para junto de quem partiu e deixou um rasto intacto de si mesmo na memória sensitiva do poeta. A não ser que, como dizia Kafka, a obra seja bebida pelos fantasmas durante a viagem. Mas esses são os riscos naturais da arte viva e do voo poético.
V.
Para mim, não há arte sem estremecimento, sem abalo telúrico. O resto é somente profissão ou pura habilidade de quem não cria, mas simplesmente reproduz. É por isso que a arte é grave e é também por isso que ela é solitária. E livre. E autopoiética, obedecendo à sua própria dinâmica interna. Sim, mas sob uma remota pulsão que exige resposta e que o artista sente dever acolher como forma de relacionamento primordial com o mundo. A arte é alquímica porque extrai o subtil e o sublime da matéria bruta de que são feitas a vida e as coisas. Só assim ela pode eternizar, imobilizando e separando-se do que é simplesmente ôntico para o tornar ontológico. O resto é virtuosismo ou mera luta pela sobrevivência, não pela arte, mas pelo que de material um exercício sobre a arte pode dar. A arte é uma enorme fonte de pudor e o artista sente uma enorme timidez perante o mundo sobre o qual se pronuncia com as categorias da arte. Embora, em certos casos, pareça que não. Mas a razão de fundo, o que o trava, é a delicadeza da sua aproximação ao mundo. Enquanto depender dos frutos materiais que ela possa dar, ele não é livre e o seu exercício não atinge a essência da arte. A sobrevivência e a solução de vida pela arte não se confunde com os frutos materiais que ela pode permitir, mas sim com a realização interior que o artista consegue através dela. Tudo o resto vem por acréscimo.
Esta conversa tem mais sentido do que parece se assumirmos esse posicionamento em intervalo do artista, distante de si e do mundo e criando uma relação entre eles puramente estética, embora remota e pulsionalmente comprometida. Só a partir daqui procede o espírito apolíneo e a arte se desenvolve seguindo as suas próprias regras, a sua própria gramática.
VI.
Não pretendo, com estas considerações, fazer doutrina sobre a arte ou sequer ditar regras sobre o exercício estético, mas tão-só evidenciar uma das dimensões fundamentais do exercício artístico, referindo-me naturalmente a vultos da cultura mundial, mas sobretudo referindo-as à minha própria experiência, nos três campos em que me pus à prova: no romance, na poesia e na pintura. Não pretendo também que estas considerações tenham valor académico nem sequer qualificar outras experiências estéticas que se movam noutras direcções. E há muitas. A mim, serve-me, todavia, como conforto e consolidação do meu próprio percurso. Que tenciono prosseguir.

“Espanto”. Detalhe.
DÓI-ME A ALMA LÁ NO ALTO DA MONTANHA
Por João de Almeida Santos
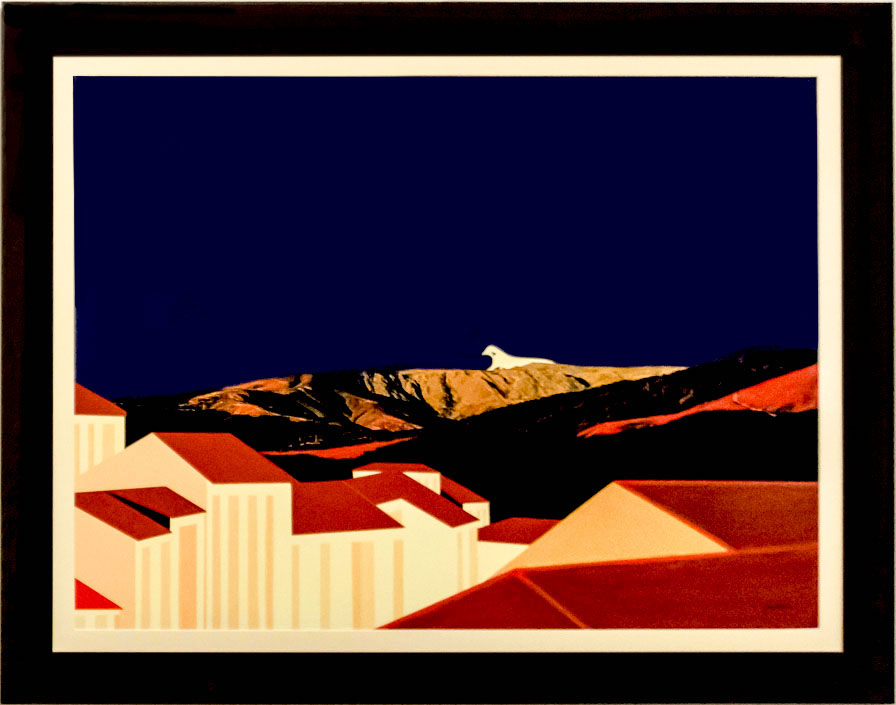
“A Montanha Encantada”. Jas. 2022. Pintura que integra a Exposição “Luz na Montanha” (n.º 36, 94×119), aberta ao público no Centro Cultural de Cascais até 25 de Setembro.
OUVI, quando seguia pela televisão o avanço imparável do segundo acto deste drama que atingiu a Serra da Estrela e as suas gentes, e que viria a atingir fortemente também a minha aldeia natal, as palavras atribuídas a um habitante de uma das aldeias, Fernão Joanes, se não erro: “o incêndio já não é só no território, ele já está dentro de nós. Também nós já ardemos por dentro”. Foram mais ou menos estas as palavras referidas pelo repórter. Eu senti isso mesmo quando assisti ao desenrolar da primeira fase dos incêndios, sentimento reforçado, depois, quando atravessei por duas vezes o maciço central, em particular o Vale Glaciar. Para ver o que aconteceu e para trazer para casa alguma água pura daquela generosa e belíssima fonte Paulo Luís Martins, que vaza para o Vale e alimenta o Rio Zêzere. E apesar de nem ter podido ver o que estava a acontecer na zona do Sameiro, em Vale de Amoreira ou em Verdelhos, nessa belíssima e densa mancha verde de que nos apropriamos com todos os sentidos quando viajamos para o Vale Glaciar. Parece que já só é uma recordação, uma dolorosa recordação. É lá que mora o meu Amigo, e génio da construção, Joaquim, que, triste, me confessou ter perdido 33 oliveiras do seu amado olival. Foi uma semana de aperto anímico, de sofrimento, com um persistente receio de ver os incêndios chegarem a uma fase de descontrolo total. Mas, não, tudo parecia controlado passados oito longos dias, no passado Domingo, o dia em que, mais tranquilo, regressei a Cascais. Estava em paz e até experimentei uma belíssima sensação ao reencontrar, na Praia da Poça, o meu velho amigo Rui, que já não via há umas dezenas de anos. Mas foi sol de pouca dura porque logo recebi um telefonema do Luís, o proprietário daquele belíssimo restaurante Vallecula, ali na praça do pelourinho de Valhelhas, a pedir ajuda, pois os incêndios tinham regressado em força, estando a ameaçar as nossas aldeias. Era o renovar de uma antiga experiência que vinha dos tempos em que eu podia mesmo ajudar a resolver situações de emergência. Mas agora já não podia. E, triste e desolado, o Luís por lá ficou numa aflição que não há palavras que a possam descrever.
I.
E REACENDEU-SE o incêndio dentro de mim, impotente para ajudar o meu Amigo e os meus conterrâneos e até impossibilitado de agarrar no carro e ir para lá. Já não seria possível entrar na minha aldeia ou em qualquer outra daquele vasto território nos contrafortes da Serra da Estrela. Foram isoladas e as populações evacuadas. Só já podia seguir os incêndios através das televisões, pois nem sequer conseguia comunicar com os meus amigos e conterrâneos por as comunicações terem colapsado. Foi nesse momento que as palavras desse habitante de Fernão Joanes ressoaram fundo em mim. Na verdade, já todos ardíamos por dentro. Não bastaram os primeiros incêndios, que agora regressavam com mais força destrutiva. Como se um outro Putin incendiário nos estivesse a bombardear implacavelmente com ímpetos destrutivos e sem sentido. A noite de segunda para terça foi um inferno, sobretudo para os que lá estavam, mas também para nós, os que têm a alma ancorada naquelas terras. Felizmente, no momento em que escrevo, a situação parece estar mais controlada, mas alguns pontos críticos nos concelhos da Guarda e da Covilhã e o perigo dos reacendimentos continuam a preocupar-nos.
II.
A MONTANHA não só é o lugar primordial da minha própria identidade, o lugar do retorno cíclico, o chão onde afundam as minhas raízes, mas é também a minha principal fonte de inspiração, na poesia, mas sobretudo na pintura, como se vê pela pintura ilustrativa que já aqui publico. Ontem de manhã vi no Facebook uma imagem publicada pelo meu Amigo Delfim que retomava a paisagem que se avista do meu terraço e do meu Jardim Encantado, e que tantas vezes pintei, de ângulos diferentes, mas agora, nesta foto, essa mesma imagem já aparecia projectada numa densa e imensa nuvem de fumo escuro. Fiquei destroçado e apeteceu-me apagá-la com o pincel, repondo a sua moldura de céu limpo e profundo. Soube depois que também a Quinta de um querido Amigo, o Tó, de que existe um quadro de grandes dimensões pintado por mim, foi atingida, tendo-se, felizmente, salvado os animais, as casas de granito e uma parte cultivada. O fogo já me atingiu por dentro, como se tivesse entrado pela pintura da Quinta, “Ketrof”, e reduzisse a cinzas aquele verdor que com tanta dedicação, carinho e empenho quis enaltecer esteticamente. E nem o facto de há muito ter promovido a criação de uma corporação de bombeiros para defesa da nossa floresta e das nossas aldeias serviu de barreira à progressão do fogo, tal foi a sua dimensão e a sua velocidade a partir da martirizada Valhelhas. Mas mesmo que tudo passe e não haja vidas perdidas a destruição deste fogo vai ficar ali à vista para alimentar o fogo que continua a arder dentro de nós.
III.
CONHEÇO BEM este fenómeno porque lidei com ele à escala nacional durante vários anos e poderia desatar aqui a criticar a ausência de prevenção e planificação estratégica que se constata quer a nível nacional quer a nível municipal. Mas não o farei, sobretudo neste momento de tragédia e de desolação. Do que mais precisamos é de retomar a normalidade das nossas vidas e proceder à recuperação do que for possível recuperar. É essa a única maneira de apagar o fogo que nos queima o peito e a alma.
IV.
SEMPRE que, nos meus cada vez mais frequentes regressos a estas terras, passava a aldeia de Vale Formoso em direcção a Valhelhas, através da agora devastada Quinta do Brejo, sistematicamente comentava, quase vaidoso, a beleza daquela exuberante mancha verde que a vista alcançava num raio de 180 graus, quase a desdizer o que o arguto Bernardo Soares disse no “Livro do Desassossego”: «os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor» (Porto, Assírio&Alvim, 2015: 55). Podem ser mais verdes, podem. Mas este verde era tão verde que cheguei a suspeitar de que nem um poeta qualificado seria capaz de acrescentar verdor àquele verdor natural, com palavras. Ou até mesmo um pintor que tivesse a ambição de ir mais além daquela mancha verde-escuro, elevando-a, em tela, ao reino do sublime. Não sei. Os caminhos da arte são insondáveis e talvez o Bernardo Soares tenha razão. O que sei é que nunca me conseguia conter perante tanto verdor e tinha, como um irresistível impulso, de verbalizar o meu espanto de prazer. Mas também já nem sei se poderei continuar a dizer do meu Vale o que sempre dizia quando chegava ao seu extremo norte, vindo da Guarda: “que beleza extraordinária e que perfeição a geometria deste Vale!”. O Vale ficou lá, o desenho continua perfeito, mas o verdor, esse, só fica para as palavras do poeta ou para o pincel do pintor. Valha-nos ao menos isso. E até acho que se o pintarmos com palavras e com cores (e com a alma, claro) ele se regenerará mais depressa, como que a desafiar a fantasia do artista. Se assim for, ponho mãos à obra rapidamente, logo que ultrapasse a estupefacção perante tão inesperada e velocíssima tragédia.
V.
AINDA CONTINUO a arder por dentro, depois de ter ardido por fora. Aguardo, pois, que me deixem entrar no meu Vale, para o sentir assim, para sintonizar o que sinto por dentro com o que verei por fora, para que a dor, sempre a dor, me leve a torná-lo mais belo do que era, através da arte, a forma de o salvar da fealdade ardente que o capturou, de o redimir de uma culpa que não é sua, de o elevar ao topo da Montanha que sobreviveu ao incêndio, mantendo-se intacto.
Mas hei-de habituar-me e esperar que renasça. Levando tempo, demasiado tempo, fá-lo-ei renascer eu já, ainda não sei bem como. Mas, sim, hei-de voltar a pintá-lo para que o seu verde fique já mais verde que o seu perdido verdor. #JAS@08-2022

OS NOVOS PROGRESSISTAS
Por João de Almeida Santos

“Horizonte”. JAS. 08-2022
HÁ ALGUM TEMPO publiquei aqui um pequeno ensaio sobre “A Esquerda e a natureza Humana” (https://joaodealmeidasantos.com/2021/04/). A questão era mais ou menos a mesma que hoje aqui me traz, embora o ângulo de abordagem fosse diferente porque se centrava sobretudo na esquerda clássica e nos seus desafios. Mas o que hoje me interessa, com a crise da esquerda clássica e do seu paradigma, é saber como está ela a ser representada pelos novos movimentos. A clarificação é delicada e um pouco complexa, mas oportuna e necessária, sobretudo quando nos defrontamos com uma tendência que, supostamente à esquerda, está a tentar impor a sua hegemonia no terreno da sociedade civil, estando a conseguir bons resultados até nos chamados “aparelhos de hegemonia” ou mesmo nas próprias instituições. Refiro-me ao multiculturalismo, à chamada política identitária e aos paladinos do politicamente correcto. Não há, no meu entendimento, uma linha clara de evolução da esquerda clássica para estas formas de esquerda ou progressismo de tipo civilizacional, apesar de algumas afinidades, designadamente no seu organicismo antiliberal.
Tradicionalmente, os progressistas identificavam-se com “grandes narrativas” que propunham uma visão articulada, com profundidade temporal, da história como horizonte a partir do qual era assumido o compromisso político. Estas “grandes narrativas” estavam ancoradas em classes sociais, propunham uma utopia como objectivo último da sociedade, promoviam a transformação social através da vontade política das classes sociais e das elites (através de partidos ou movimentos) e centravam em clivagens estruturais (como, por exemplo, o antagonismo entre capital e trabalho) o funcionamento da sociedade, propondo-se intervir sobre elas rumo à utopia, situada no futuro. Eram animadas por um optimismo histórico com profundidade temporal que dava alento à esperança em dias melhores, para todos. A revolução (ou a reforma, nas tendências mais moderadas) era a solução e a chave do progresso.
I.
ESTAS “GRANDES NARRATIVAS” políticas perderam a centralidade, dando lugar àquilo a que Jean-François Lyotard, em “La Condition Postmoderne” (1979), chamou a sociedade pós-moderna. A “grande narrativa” ancorada no industrialismo e em classes sociais antagonistas tornou-se residual, sendo substituída por outras formas mais ancoradas na “superestrutura” do que nas fracturas estruturais. E é aqui que nos encontramos. Num mundo sem profundidade temporal e fragmentário, mas globalizado e de alta mobilidade migratória a caminho de um melting pot global. E é neste mundo fragmentário que nasce o discurso multiculturalista, o identitarismo comunitário e o politicamente correcto, ou seja, uma linguagem asséptica para a identificação das identidades comunitárias politicamente emergentes, sejam elas de género, de raça, de orientação sexual, de cultura ou de língua. Um desvio e uma significativa mudança na natureza das novas fracturas relativamente às clássicas fracturas estruturais. Por exemplo, a identidade de género e a sua dialéctica interna não têm características que possam ser identificadas com as da dialéctica entre classes. A sociedade é vista não como um complexo integrativo de indivíduos singulares, qualquer que seja a sua identidade (a visão liberal) nem como resultado de um antagonismo estrutural entre duas classes fundamentais (o marxismo), mas como um complexo de comunidades diferenciadas, cada uma com a sua identidade e a sua densidade histórica e social, a que é preciso dar voz, emancipar, autonomizar e protagonizar, reconhecendo-a na linguagem dos novos direitos emergentes ancorados numa sociedade multicultural, sem centro nem periferia e onde o direito à diferença rivaliza com o direito à igualdade, podendo até sobrepor-se-lhe. Mas a falta de uma “grande narrativa” deu lugar à busca de um colante que permitisse repor a hegemonia ético-política e cultural progressista. Encontraram-na numa leitura focada e extensiva das grandes cartas universais de direitos e deram início a uma tentativa em larga escala de transformar certos direitos nelas consignados não só em normas de comportamento universais obrigatórias e moralmente vinculativas, mas também em mundividências ancoradas em concretas comunidades sociais que passaram a funcionar como ordens de valor absoluto e com pregnância social formal e linguisticamente reconhecida e formalizada. Do que se trata, então, é de promover essas comunidades a eixo decisivo das sociedades modernas, considerado condição nuclear da harmonia social e do progresso civilizacional. Essas comunidades são os novos sujeitos (ainda) subalternos a que é necessário e justo dar voz. As linhas de fractura situam-se todas elas entre a sedimentação histórica resultante do processo evolutivo das sociedades desenvolvidas e o presente reconfigurado à luz dos novos direitos. Elas não só aspiram à igualdade universal de direitos como também aspiram ao direito à diferença, a uma identidade própria não subsumível na totalidade social e ao alargamento do espectro das diferenças no interior do sistema social plasmadas numa linguagem limpa das conotações negativas ou discriminatórias do legado histórico, ao reconhecimento social e formal da própria identidade e até a um poder socialmente reparador e sancionatório. O objectivo é o da igualdade de reconhecimento colectivo, mas inscrita no direito à diferença. Atingir a igualdade através do reconhecimento do direito substantivo à diferença. Estas comunidades vêem assim as suas identidades ser catapultadas a modelos a partir dos quais juízos de moralidade poderão ser pronunciados em função da medida dos novos direitos identitários. Identidades de género, de raça, de orientação sexual, de cultura e de língua tratadas historicamente, no passado, como comunidades subalternas e discriminadas a exigirem, agora, reconhecimento através de uma nova visão do mundo e da história centrada nos direitos multiculturais e às quais a linguagem comum se deve adaptar para não carrear consigo a marca e a mancha da sua génese histórica e das respectivas contingências ao longo do martirizado processo histórico. Linguagem expurgada das sedimentações históricas que se foram depositando nela e que são testemunho da iniquidade histórica.
Vejamos um pequeno exemplo de resgate da iniquidade histórica. Bia Ferreira, conhecida cantora negra, brasileira, activista da comunidade LGBT: “Eu vou”, à festa do Avante, “ para denunciar os estragos que o povo português deixou aqui no Brasil”; “O que incomoda mesmo é a denúncia que eu faço: que o seu antepassado escravizou o meu povo, aqui no Brasil, e que a gente paga essa conta até hoje” (Expresso, 26.07.2022). Os portugueses considerados como causa remota dos males que hoje atravessam a sociedade brasileira, isto dito por uma militante orgânica e qualificada de uma (ou mesmo de várias) destas comunidades. Ditadura, Bolsonaro, qual quê? Portugueses. Está tudo dito. Agigantar uma causa, ainda que remota e explicável pelo tempo histórico em que aconteceu, cobre outras causas, mais próximas, mais reais e mais activas. Trata-se de um perigoso desvio anacrónico que polariza a atenção para uma falsa explicação, encobrindo e deixando por explicar a realidade efectiva. Um exemplo concreto muito elucidativo.
II.
COMO EM TODAS AS IDEOLOGIAS a carga semântica destas identidades elevou-se a absoluto, dando vida àquilo que Max Weber um dia designou como wertrational, racional em relação ao valor, substitutivo quer do zweckrational (próprio do capitalismo e da sociedade mercantil) quer do traditional (próprio das sociedades onde impera a tradição). O valor passou a ocupar, em linguagem weberiana, o centro do discurso identitário, alcandorando-se a politicamente correcto. Nada havendo contra a elevação do valor a critério comportamental, como é óbvio, o que não é defensável é que ele se torne absoluto e exclusivo polarizador do comportamento social, como nas religiões ou em certas grandes narrativas políticas. A identidade comunitária passou a ocupar o centro do discurso progressista, num registo totalmente diferente da ideia de comunidade defendida pela esquerda clássica, porque agora se trata de múltiplas comunidades, novas identidades ou novos sujeitos sociais multiculturais, sem centro nem periferia e não subsumíveis numa qualquer ordem ou unidade superior nem remissíveis a uma fractura socialmente estruturante. Do que se trata é de uma luta pelo reconhecimento ancorada no direito à diferença e no valor da diferença. Uma lógica que contrasta com a matriz liberal da nossa civilização, como de resto acontecia com a visão marxista, mas que se diferencia do organicismo da esquerda clássica, ancorado na centralidade de classe. As comunidades são agora os sujeitos para onde remete a vida societária. A igualdade tem agora na diferença o seu contraponto reconhecido e validado pela sociedade, no direito, na língua, na política, na economia e na cultura. Em todas estas instâncias as identidades comunitárias devem ver garantido o reconhecimento institucional e social em formas substantivas. Uma dinâmica que tem demonstrado capacidade de imposição hegemónica na sociedade civil e até nas instituições.
III.
E É AQUI QUE ESTAMOS. As tradicionais classes sociais do marxismo deram lugar ao multiculturalismo e às identidades comunitárias, que se elevaram a alfa e omega do progresso social e da linguagem societária, num processo que só poderia evoluir mediante uma filosofia organicista de novo tipo e uma crítica do universalismo iluminista e liberal. As comunidades integram a sociedade de forma orgânica. Se o centro era o indivíduo ou, então, a classe, agora não há centro porque há multiculturalismo, múltiplas identidades diferenciadas sem centro nem periferia. Tudo se esbate perante o emergir das comunidades e da diferença que aspira a tornar-se a regra número um das sociedades. É o multiculturalismo pós-nacional que resiste a um melting pot tendencial, à cultura dominante, à matriz nacional do Estado, a qualquer tipo de integração superior, que é vista sempre como ameaça. O Estado passa a ser um conglomerado de comunidades e o garante da diversidade multicultural e das identidades comunitárias. O indivíduo cede o lugar à comunidade e a classe fragmenta-se em microcomunidades. As fracturas estruturais tornam-se “superestruturais” e a dialéctica é a da luta pelo reconhecimento e pela afirmação da identidade comunitária, seja étnica, de género, de orientação sexual, de língua ou de cultura. Assim se dilui a matriz e o património liberal, emergindo mesmo o problema da unidade nacional, da universalidade da lei e do Estado e da língua como colante nacional. Esta passa a ter como função a promoção identitária das comunidades erradicando (de si própria) todos os vestígios que possam evidenciar marcas e manchas do passado, sedimentações consideradas impróprias à luz dos supremos critérios da nova visão multicultural e da novilíngua que a exprime. O revisionismo histórico e linguístico passou a ser a marca de água da nova mundividência. Nada é mais importante do que a identidade comunitária. Tudo o resto fica na sombra, de tão intensa ser a luz multicultural e identitária e de tão imperativa ser a sua moralidade. O reconhecimento comunitário e identitário passou a ser a nova palavra de ordem em nome dos novos direitos, do progresso e da moralidade social. A assepsia linguística é a garantia visível e palpável do reconhecimento e equivale ao triunfo do presente sobre a profundidade temporal e os desvarios da história e da contingência própria do tempo histórico.
Nem a esquerda clássica aqui cabe, tal como não cabe a sua leitura acerca da fractura estrutural da sociedade capitalista, nem a visão liberal, com o seu universalismo e a promoção da centralidade do indivíduo e direitos correlativos, é com esta visão compatível. Findas as grandes narrativas irrompem os movimentos por causas centradas nas identidades comunitárias. Renasce um organicismo de novo tipo agora ancorado no direito pleno à diferença em nome da afirmação da identidade das comunidades que passaram a ocupar o centro discursivo da sociedade como forma única de emancipação numa sociedade entendida como conglomerado multicultural, onde a diferença é a lei que domina. Uma inversão relativamente à conquista liberal da igualdade contra o privilégio. Mas também uma regressão nos próprios conceitos de Estado e de sociedade.
É aqui que se inscreve o politicamente correcto com pretensões de poder sancionatório e de reconfiguração “superestrutural” da sociedade, pondo na sombra, nesta luta, as questões que antes a esquerda punha no centro do combate político, a classe ou o povo oprimido, os sujeitos onde se ancorava a revolução. Mas pondo também em causa o universalismo liberal e a defesa dos direitos individuais. A comunidade orgânica, não a sociedade, é o lugar deputado onde se pode afirmar a individualidade. É através dela que o indivíduo se pode afirmar na sociedade. A lógica societária já não pode prescindir da lógica comunitária, acabando por lhe ficar subordinada. A centralidade do indivíduo passa a ser uma ficção que a nova mundividência nega e combate em nome da identidade comunitária e da sua pregnância social.
IV.
SERÁ, PORTANTO, ESTE PROGRESSISMO aceitável na forma como se tem vindo a exprimir, ou seja, nas suas pretensões hegemónicas e na sua vocação totalizadora, para a social-democracia ou para o socialismo democrático? No meu entendimento, não. Logo a começar pela sua característica como movimento orgânico e fragmentário que ilude fracturas que são essenciais para o progresso dos povos, mas também porque é um movimento sem densidade e profundidade temporal ao querer resolver no presente toda a temporalidade histórica, chegando ao extremo de querer anular radicalmente a diferença histórica, extirpando-a da própria linguagem comum e das formas de expressão pública (da arte pública, por exemplo, ou dos livros de ensino público) do tempo histórico. Por outro lado, o organicismo é tão inimigo da democracia representativa como amigo do corporativismo. E aqui a ideia de liberdade sofre uma contracção inadmissível para quem se revê na nossa matriz civilizacional e na própria razão de ser da social-democracia. A ideia de contingência histórica é recusada por imposição dos valores do presente como valores absolutos, como fim da história, triunfo do wertrational – a orientação menos conforme à lógica inscrita nas democracias representativas e na sua matriz liberal. É claro que a própria social-democracia deverá reinventar-se para além das clássicas formas que foi assumindo ao longo do tempo, designadamente do Estado social e de um certo comunitarismo tradicional radicado num classismo residual que nunca foi plenamente extirpado. Mas deverá também, et pour cause, rever a sua resistência espontânea e matricial à filiação no primeiro liberalismo anti-absolutista e anti-privilégio que determinou a matriz da nossa actual civilização e das mais avançadas formas de gestão política das nossas sociedades: a democracia representativa, o Estado de direito e a racionalidade do mercado. Basta ler a Declaração dos Direitos do Homem (palavra que na novilíngua acabará substituída por ser humano ou por Direitos Humanos) e do Cidadão. É certo que esta tendência teria sentido e seria até desejável se absorvida por uma política progressista que fosse capaz de a reposicionar no seu devido lugar histórico, limitando a sua pretensão hegemónica em vez de a promover no interior das suas fileiras sem compreender que esta hegemonia que vai avançando assume cada vez mais a forma de uma inaceitável opressão simbólica, de vigilância policial da história, da palavra e do pensamento incompatíveis com a vida democrática e com a liberdade que lhe está na raiz. Parecendo constituir um progresso, esta mundividência, com as pretensões hegemónicas que tem vindo a revelar e com o seu organicismo, na realidade é um profundo recuo relativamente à matriz liberal da nossa civilização e um grave atentado à liberdade.
#JAS@08-2022
A CENSURA NO PARLAMENTO – UM OXÍMORO
Por João de Almeida Santos

O MEU ESPANTO começou quando o então Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, censurou o deputado André Ventura por ter usado a palavra “vergonha” num discurso parlamentar. Fiquei atónito e incrédulo sobre a natureza das funções do Presidente da Assembleia da República (AR) e muito mais sobre as prerrogativas discursivas dos deputados no legítimo exercício das suas funções. Mas não escrevi sobre o assunto, tendo-o tomado como um mero episódio circunstancial. O que, agora, tomando em consideração o que se seguiu, já me parece não ter sido m episódio isolado. Vou, pois, ao assunto por dever de cidadania.
I.
“O SENHOR DEPUTADO usa a palavra vergonha e vergonhoso com demasiada facilidade, o que ofende todo o Parlamento e ofende-o a si também”, afirmou o Presidente da Assembleia, em Dezembro de 2019, a propósito de uma crítica de André Ventura a um projecto de linha de crédito do Governo. O deputado ainda quis ripostar, em defesa da honra, invocando “a liberdade de expressão”, mas o Presidente impediu-o: “não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade dos outros, que é aquilo que o senhor faz demasiadas vezes. Não tem a palavra“. Mais claro do que isto não é possível. Não é uma norma regulamentar que impede o deputado de falar. É um castigo pelo alegado comportamento verbal do deputado. Castigo infligido por uma paternidade moral: não tens liberdade porque te excedes, o que até a ti envergonha (“ofende-o a si também”). Este episódio mais parece ter acontecido numa escola primária do que num Parlamento de representação nacional.
II.
ESTA ATITUDE do Presidente da AR ultrapassou de longe o código de comportamento linguístico exigível a um deputado pelo bom senso, se é que é admissível algum código que não seja o que lhe dita a consciência e as superiores funções de exercício da soberania em nome da Nação. Na verdade, os deputados são titulares de soberania em nome da Nação (e não do círculo eleitoral que os elegeu, do partido que os propôs ou do Presidente da Assembleia da República) e, por isso, possuem prerrogativas de carácter verdadeiramente excepcional, como, por exemplo, o não poderem ser removidos da função, excepto nos casos previstos pela lei (mandato não imperativo) ou pela constituição (como é o caso da incrível alínea c) do art. 160) e possuírem imunidade, ou seja, não poderem ser perseguidos pela justiça pelo uso da palavra no exercício da suas funções (n.1 do art. 157 da CPR: “Os Deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções”). De resto, a constituição fundacional do sistema representativo, a francesa de 1791, já prescrevia o seguinte sobre a natureza do mandato:
“Les représentants de la Nation sont inviolables: ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu’ils auront dit, écrit ou fait dans l’exercice de leurs functions de représentants” (Art. 7, Section V, Cap. I, Título III).
Se combinado, este artigo, com o artigo 10 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aplicável aos cidadãos em geral, note-se (“Nul ne doit être inquieté pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi”), o lugar do deputado fica ainda mais blindado no que respeita à liberdade de opinião. “Même religieuses” – atente-se no complemento, vista a importância que a religião tinha na altura em que a Declaração foi redigida, para indicar a insindicabilidade da opinião, não já dos deputados, mas tão-somente dos cidadãos. Pois não parece ser este o entendimento de dois Presidentes da AR, o actual e o anterior, tão empenhados em vigiar o comportamento linguístico dos deputados. Entendimento profundamente errado porque fere gravemente a liberdade e a função de representação.
III.
O TERRENO PRIMORDIAL do combate político é o da sociedade civil, o confronto entre partidos (organismos privados) nas competições eleitorais, em campanha eleitoral ou em “permanent campaigning”, ou seja, na afirmação regular das diferenças em matéria de valores, de protagonistas e de programas, e, depois, já no parlamento, entre os deputados e os grupos parlamentares, num plano onde o estatuto dos protagonistas se alterou em upgrade porque, uma vez eleitos, passaram a ser portadores de um mandato não imperativo e a serem titulares de soberania nacional (a soberania reside na nação – ou no povo, consoante a constituição se aproxime mais ou menos da originária matriz liberal – e o Parlamento é o principal órgão de soberania). O Presidente da Assembleia da República, que é também deputado, o que deve fazer é garantir a regularidade, a normalidade e a eficácia dos debates e o funcionamento do princípio da maioria para a produção de deliberações válidas universalmente. O seu não é um papel de censor moral ou de vigilante da argumentação parlamentar, que é livre. No parlamento, as posições políticas devem ser afirmadas ou rebatidas pelos deputados e pelo grupos parlamentares e não pelo Presidente da AR, que deve ser supra partes, garantindo a sua autoridade por via da isenção e não enquanto paladino de causas ou apóstolo da moralidade parlamentar. Ser eleito Presidente do Parlamento não o investe de uma condição oracular que se sobreponha à moralidade que cada grupo parlamentar exiba, procurando dar voz ao próprio eleitorado e, assim, juntamente com outras e diferentes vozes, cooperar para que o parlamento exprima realmente na sua totalidade o país que representa.
IV.
MAS O QUE SE TEM VINDO A VERIFICAR é uma escalada de controlo sobre a linguagem usada em geral pela cidadania (a cavalgada do politicamente correcto) e agora, ao que parece, pelos próprios deputados, a ponto de já nem poderem usar a palavra “vergonha”, banida da linguagem parlamentar, ou de defenderem livremente os seus próprios programas políticos, os mesmos que propuseram ao eleitorado e que contribuíram para a atribuição de mandatos parlamentares (neste caso, em número, aliás, significativo). Agora é a vez do novo Presidente continuar e aprofundar conceptualmente essa prática dando regularmente lições aos deputados sobre o que é politicamente correcto e o que não é, sobre o que é aceitável e não é, chegando mesmo a pronunciar-se sobre o programa e as propostas políticas dos deputados e das respectivas formações políticas. Em Portugal não há culpa colectiva, diz, e, portanto, os deputados ficam impedidos de se referir politicamente de forma crítica a grupos sociais. Em particular o “Chega”, mas o PCP, partido dos trabalhadores, e o Bloco que se cuidem ao referirem-se criticamente, no Parlamento, por exemplo, aos capitalistas, ao grande capital, aos latifundiários ou a toda uma classe, a burguesia, atribuindo-lhes culpas (numa visão estruturalista da história). Mas o que, verdadeiramente, me parece é que o senhor Presidente, ilustre professor universitário, está a confundir o plano jurídico (onde não há, de facto, culpas colectivas) com o plano político, onde os grupos sociais são objecto de atenção política ou mesmo referência, quer positiva quer negativa, dos partidos políticos, representando, estes (alguns), classes ou grupos sociais ou tendo-os como adversários, como nos exemplos que acima referi. À censura linguística segue-se agora a censura conceptual e programática. Vejamos outro caso.
V.
JULHO DE 2022: uma intervenção política onde o deputado André Ventura expôs os seus pontos de vista sobre uma matéria em debate, a lei de estrangeiros, foi criticada directamente pelo Presidente da Assembleia. Fui ouvir atentamente a intervenção e não considero que ele tenha ultrapassado qualquer limite aceitável na sua intervenção, tendo exposto a posição do seu partido sobre a matéria sem usar na forma palavras ofensivas, mas tão-só de forma clara e firme a sua posição política sobre a matéria. Disso não tenho a mínima dúvida, mesmo discordando de André Ventura. A intervenção de Augusto Santos Silva foi, a meu ver, inoportuna e inaceitável porque violou regras básicas de funcionamento da Assembleia, designadamente a liberdade de palavra de um deputado e, pior do que isso, a liberdade de defesa do próprio programa político do seu partido, que, de resto, é um partido legal, nunca tendo sido a sua existência posta em causa pelo Tribunal Constitucional. A saída do grupo parlamentar do CHEGA, o propósito de este grupo parlamentar censurar na Assembleia o Presidente, a reunião com o Presidente da República e a declaração de Ventura de que este tipo de intervenção do Presidente do parlamento aumentará exponencialmente o conflito parlamentar, bastariam para demonstrar que, de facto, Augusto Santos Silva não está a interpretar bem o papel de Presidente da Assembleia e nem sequer a ganhar autoridade enquanto tal (no sentido romano da auctoritas por virtus). Atendendo às suas anteriores declarações, nomeadamente a de 2009, e que definem bem a personalidade do agora Presidente, não tardará que, seguindo coerentemente o seu trilho, fará o mesmo ao Bloco e ao PCP. Transcrevo, para que não haja dúvidas, as palavras de Augusto Santos Silva em Fevereiro de 2009:
“Eu cá gosto é de malhar na direita. E gosto de malhar com especial prazer nestes sujeitos ou sujeitas que se situam de facto à direita do PS, que são das forças mais conservadoras e reaccionárias que eu conheço e que gostam de se dizer de esquerda, ou plebeia ou chique. Estou-me a referir ao PCP e ao Bloco de Esquerda” (Fev. 2009).
Ainda por cima, estes partidos, na leitura política que fazem da história, atribuem culpas colectivas, ou seja, culpam os capitalistas e até mesmo concretos Estados (o americano) pelo estado lamentável a que o mundo chegou. É, por isso, de esperar que o novo Presidente não tarde a censurar as posições destes partidos quando eles entrarem por estas vias argumentativas. A superioridade moral do actual Presidente da Assembleia da República faz-me lembrar, agora, outras superioridades morais que o próprio PS sempre combateu.
VI.
O QUE PARECE é que o politicamente correcto já entrou no parlamento em grande estilo pela mão dos presidentes da AR, não só enquanto intérpretes institucionais da superioridade moral das suas próprias posições políticas, mas também enquanto actores que a impõem no terreno institucional do máximo órgão da democracia representativa. E não me admiraria se, animados pela verve investigativa da senhora procuradora-geral do progressismo moral, e inspirados no seu inacreditável documento “Acusar a Ucrânia de ‘genocídio’ e ‘limpeza étnica’ é discurso de ódio?” (de Abril de 2022, nas páginas do DN), daí se passasse à tentativa de criminalização das posições políticas dos partidos da ala mais à direita ou da ala mais à esquerda do hemiciclo. Por enquanto, o bombo da festa é o CHEGA, com o resultado que conhecemos, ou seja, com o crescimento eleitoral que em pouco tempo conseguiu, mas, no futuro, a campanha moralizadora poderá chegar ao outro lado do hemiciclo. E nem sei como é que não chegou quando o PCP tomou aquela posição sobre a invasão da Ucrânia.
VII.
O QUE ME ESPANTA é que sobre este assunto não tenha havido até agora uma vaga de críticas implacáveis que levem o Presidente da Assembleia da República a mudar radicalmente de registo, cedendo as críticas e o combate ao radicalismo aos outros 119 deputados do PS. E também me espanta e assusta que estes mesmos deputados, em vez de serem eles a assumir as críticas e o combate, se limitem a aplaudir e a hossanar a ilegítima injunção do Presidente da AR.
De resto, até numa leitura de tipo táctico para defesa da democracia, haveria que evidenciar que o Parlamento é o lugar onde as diferenças de posição devem ter lugar em liberdade, devem ser livremente argumentadas e sujeitas ao veredicto dos deputados. Só assim se evita que a diversidade se transforme em conflito de rua e a diferença de argumentação se transforme em imposição por violência física. Por isso, não me parece que esta seja a melhor forma de defender a democracia representativa e o seu órgão máximo, o Parlamento, a sua capacidade integrativa e de conversão do conflito em livre e responsável debate e deliberação parlamentar.
Por outro lado, ao introduzir a mordaça parlamentar, o que se está a fazer é não só a desqualificação do que se diz querer defender, minando até a sua própria eficácia enquanto instituição integrativa das diferenças políticas, mas também uma ulterior redução do valor do mandato, já tão diminuído pelos próprios critérios de selecção dos candidatos a deputados que têm vindo a ser adoptados pelos partidos, em particular pelos dois maiores partidos.
Bem sei que o politicamente correcto está a chegar a todo o lado, incluindo a partidos políticos que têm na sua matriz a ideia de liberdade, como o PS, e agora ao próprio Parlamento. Parece estar a irromper com grande força uma nova ideologia de cariz moralista com tendências hegemónicas, a restauração de uma “grande narrativa” que pretende determinar, com poderes sancionatórios (em muitos casos já através de dispositivos legais), o nosso comportamento linguístico quotidiano. Pelos vistos, esta tendência já chegou ao topo da instituição parlamentar e já inclui o comportamento dos representantes da Nação. Mas não creio que, assim, esteja a ser respeitada a natureza do próprio sistema representativo e a matriz liberal que o caracteriza desde que foi instituído.
VIII.
MAS A VERDADE é que quem tem vindo a beneficiar de tudo isto são os partidos que são alvos privilegiados (enquanto casos exemplares a combater de todos os modos) desta violência censora, subindo, por esta via, ao topo da agenda pública e aumentando a sua notoriedade. Estes partidos conhecem bem a teoria do agenda-setting e sabem que o que importa é manter-se sempre no topo da agenda, qualquer que seja a razão por que isso acontece. A extrema-direita é a que mais tem beneficiado desta escalada da vigilância moral sobre a linguagem pública e o resultado está a aparecer de forma preocupante. Basta analisar os seus programas, a sua linha de combate e as suas imputações para ver que esta é, a par da crítica do liberalismo, o seu principal alvo. Alvo que identificam erradamente com a matriz liberal da nossa civilização e que está bem mais próxima dos identitários e dos orgânicos do que parece. Por exemplo, em Itália, mas também em Espanha a extrema-direita tem vindo a somar rápidos e inesperados sucessos eleitorais e, num dos casos, Itália, será provavelmente muito em breve governo. E na Rússia do senhor Dugin. E na França de Alain de Benoist, o seguido teórico da extrema-direita. E o mesmo acontecerá em Portugal se esta cavalgada continuar sem que o PS pestaneje ou até aplauda entusiasticamente com todas as mãos que tem no Parlamento.

SOBRE A MINHA PINTURA
A propósito da Exposição no Centro Cultural de Cascais 23.07/25.09
João de Almeida Santos

“O Desejo”. JAS. 2021. Quadro exposto no Centro Cultural de Cascais até 25 de Setembro de 2022.
I
A PINTURA está associada à poesia. Nasceu em terreno poético, o seu húmus. Para cada poema, um quadro. Para cada quadro, um poema. Há muitos anos que venho regularmente publicando aos Domingos, no meu site, poesia associada à pintura, em torno de um tema ou de uma história, que até pode ser a expressão de um breve, mas intenso, instante. É um delicado processo de sinestesia, perseguido com determinação, um diálogo entre duas artes, mas onde cada uma das expressões estéticas conserva a sua própria autonomia de linguagem e de narrativa. A pintura explora, com as suas categorias estéticas, ângulos de visão que resultam de uma intencionalidade temática originariamente associada à poesia, funcionando também como uma sua especial extensão ou projecção, onde a semântica conta. Por isso, é possível manter na pintura um registo semântico claramente identificável, ainda que sob forma mais ou menos alusiva a uma originária intencionalidade poética.
II
GOSTO DE EXPLORAR sobretudo cores quentes, as que melhor exprimem a carga semântica e o tónus da poesia com que a pintura converge, e de usar fundos negros, como recurso que permite evidenciar, com maior pregnância, as formas e as cores. Até porque o negro tem, no tipo de papel que utilizo, uma textura e um tom muito especiais. Parto sempre de uma mancha original, que capto através de prótese fotográfica, sempre accionada tendo em vista explorar plasticamente um determinado ângulo de visão, seja de um rosto, de um corpo, de uma flor ou de uma paisagem. E, para além do traçado central que dá forma e pregnância ao tema, procuro dar vida às figuras que nela se insinuam, originariamente ainda sob forma larvar, como se estivessem a pedir que lhes desse uma identidade definida. Um processo de gestação estética de formas inscritas originariamente num tecido ainda vagamente definido. Rostos, corpos, flores, paisagens, sim, em todas as formas ainda informes (para o fim em vista) procuro animação, vida, movimento. Parto à descoberta de figuras que, à primeira vista, são de difícil percepção, porque de pequena dimensão e de contornos indefinidos, mas que vão ganhando forma no processo de desenvolvimento da pintura. Como se se tratasse de uma construção a partir de uma estrutura molecular. E é esta animação interna da pintura que sugere os desenvolvimentos posteriores. É aqui que se centra a autopoiese plástica.
III
HÁ, NA VERDADE, UMA CONSTANTE – a presença e a influência do discurso poético na pintura. Como se o real de que parto fosse já o que a própria poesia propõe, apresentando-se a pintura como discurso metapoético, marcado originariamente, na génese, na origem pelo olhar poético sobre o mundo, sobre a vida. O mesmo mecanismo que determina a relação entre a génese dos processos noéticos e a sua ulterior formalização, a que os valida, universaliza e autonomiza. Assim acontece na pintura. Uma estética da cor e do traço geneticamente marcada pela semântica poética. A poesia funciona, assim, como uma espécie de mediação entre o pintor e o real. Um real oferecido pela sensibilidade poética. Uma “second life” de natureza poética como ponto de partida. Todas as pinturas têm, por isso, um poema associado, sem excepção. Assim, é possível detectar também uma sua função orgânica – a de tornar visível o discurso oculto da poesia, dar-lhe cor, prolongá-lo até ao ponto em que se desprende, transportando consigo, sim, a intencionalidade poética, mas exibindo-a em total autonomia, com a própria plasticidade e a própria hermenêutica. Uma relação sensorial com a realidade enriquecida pela sensibilidade poética. Poderia exemplificar com alguns quadros, nos quais se desenvolve e converte a própria fala poética. Mas essa sinestesia pode ser consultada livremente aqui, no meu site, no separador “Poesia-Pintura”, onde se encontra publicada a maior parte da minha obra poética, associada à pintura. E, todavia, não é possível dizer que a pintura seja a ilustração plástica da poesia, porque o mesmo poderia ser dito da poesia, dizendo que ela seria a ilustração discursiva da pintura. O efeito sinestésico resulta da convergência intencional e livre das duas artes em torno de um mesmo tema ou de uma história, tratados com a linguagem própria de cada arte. Também no meu livro de poesia (João de Almeida Santos, Poesia, Lisboa, Buy The Book, 2021, 438 pág.s) é possível encontrar treze exemplos desta sinestesia, estando os treze poemas associados a treze pinturas (entre as pág.s 98-99, 106-107, 114-115, 126-127, 194-195, 252-253, 256-257, 262-263, 298-299, 302-303, 306-307, 328-329, 340-341 e, finalmente, para toda a poesia, entre as pág.s 52-53). Mas nele também se encontra desenvolvida a minha concepção de arte num ensaio de estética e de introdução à poesia e à pintura ou, ainda, nas respostas aos meus leitores digitais.
IV
HÁ UM LUGAR INSPIRADOR central: o meu jardim na montanha e os horizontes que o enquadram. Ali colho grande parte da inspiração, mas interceptando sempre, por um lado, remotos, mas intensivos, fragmentos de memória e, por outro, as figuras que se insinuam na mancha original de que parto. Depois acontece o livre desenvolvimento da pintura em obediência aos meus próprios critérios de beleza e de harmonia, mas também às exigências semânticas que respondem ao chamamento poético. Não concebo a arte sem semântica, tal como não concebo a poesia sem música, mas também não compreendo a subordinação da forma e da totalidade estético-expressiva às puras exigências da semântica. É como se se tratasse de camadas que se desprendem de uma mesma matéria orgânica, ganhando autonomia e sentido próprio, embora contaminadas pelo próprio processo criativo e pela sua palingénese.
V
NÃO ME FILIO em nenhuma corrente estética (que me perdoem os encartados), por uma única razão: o real é o centro do meu discurso estético, ainda que, na pintura, seja um real já portador de sentido conferido pelo olhar poético do pintor. Conjugando pintura e poesia procuro interceptar e interpelar o observador, o fruidor, com uma clara intencionalidade. É uma interpelação complexa onde poesia e pintura cooperam para intensificar o chamamento e a convocação para a experiência estética. Mas também é possível detectar alguma intertextualidade na pintura. Por exemplo, a presença, em alguns quadros, de citações, de fragmentos klimtianos (“Uma Casa no Jardim”). Um autor, Gustav Klimt, que me seduz, desde sempre.
VI
MAS O MELHOR é deixar que a pintura fale por si, nestes trinta e dois quadros que agora exponho no Centro Cultural de Cascais, até 25 de Setembro, e que convido a visitar (e com visita guiada se me for solicitada).

EUGENIO SCALFARI
Por João de Almeida Santos

“La Repubblica”. Jas. 07-2022
PARTIU EUGENIO SCALFARI. Com 98 anos, o grande, enorme jornalista deixou-nos, ontem. E, nesta ocasião, senti o dever de escrever algumas linhas sobre ele e o seu jornal, o “La Repubblica”, que leio praticamente desde que foi, em 1976, fundado. Comecei em 1978, altura em que me mudei para Roma, e ainda o leio regularmente. Ainda por cima, fiquei e sou amigo de um dos jornalistas que o fundaram e que me habituei a ler logo nos primeiros tempos, Giovanni Valentini, que foi seu vice-director e, mais tarde, director de “L’Espresso”. Dizem-me que o nome do jornal foi um tributo ao jornal português “República”. E foi, mas já não é tanto, um grande jornal, que chegou a ultrapassar o Corriere della Sera. No início dos anos ’90, obtive, e concretizei, autorização do “La Repubblica” para reproduzir, a título gratuito, artigos e até vinhetas de autores famosos em publicações dirigidas por mim. E aprendi muito na leitura deste jornal. Lá escreviam os melhores jornalistas e intelectuais italianos. Havia como que uma identificação ontológica do jornal com Scalfari, sendo impossível dissociá-los. E o mesmo se verificava com o seu editor, Carlo Caracciolo, “il principe rosso” e “editor puro”, nas relações que sempre manteve com Scalfari. Como diz Giovanni Valentini, sem esta profunda cumplicidade de vida e de projecto entre ambos “La Repubblica” não teria acontecido. Essa marca manteve-se sempre, mesmo quando Scalfari já não era o Director e se distanciara um pouco do jornal. Era um intelectual prestigiado, respeitado e muito influente. A sua “travagliata” vida deu-lhe uma densidade que se notava em tudo o que fazia.
UM ENSAIO DE SCALFARI SOBRE A BURGUESIA
Num livro que publiquei em 1998, “Paradoxos da Democracia” (Lisboa, Fenda, 1998, 175-179), retomei, no subcapítulo “Middle class, uma democracia sem futuro?”, um estimulante ensaio de Scalfari, “Meditações sobre o declínio da burguesia”, publicado na Revista “MicroMega”, 4/1994. Em poucas palavras, a sua ideia era a de que a burguesia estava a perder (ou já tinha mesmo perdido) o seu papel originário de classe geral, regressando a uma visão corporativa da sociedade e pretendendo ela própria interpretar directamente o poder, o que antes não acontecia. É claro que Scalfari tinha em mente o recente caso de Berlusconi e a comparação com os Agnelli – que nunca pretenderam gerir, eles, directamente o Estado – era inevitável. A ideia era a de que a universalidade do Estado não podia ser interpretada por uma concreta classe (ainda que obtivesse mandato por via electiva) e, por isso, havia que favorecer a representação por parte de instâncias e de protagonistas não ligados directamente ao interesse e ao poder corporativo. De resto, foi assim que nasceu e se consolidou (dos contratualistas a Hegel) o Estado e o direito modernos. A emergência política da “middle class” viria a favorecer um movimento social e politicamente fragmentário favorável à reconstrução de uma “burguesia de classe” já não identificada com o chamado “interesse geral” que a burguesia tradicional representou e a seu modo promoveu. Assistiu-se, assim, ao regresso do classismo burguês e à tentativa de acesso directo do grande capital ao poder de Estado. É o caso concreto do acesso ao poder de Berlusconi. Uma bela reflexão, a de Scalfari, a que um dia voltarei.
UMA "ESTRUTURA DE OPINIÃO"
O seu “La Repubblica” era um jornal culto e sofisticado que conseguia ao mesmo tempo ter uma enorme difusão nacional, uma difusão média diária de cerca de 730 mil exemplares, no início dos anos ’90, tendo atingido picos superiores a um milhão. E tudo isto era obra sua, enquanto líder deste excelente projecto jornalístico. Um projecto que Scalfari definia como uma “estrutura de opinião”, um autêntico “jornal de opinião de massas” (Valentini). Em suma, um projecto de centro-esquerda, que não era um quase-partido, como muitos diziam, mas, sim, quase uma “universidade popular” tal era a sua sofisticação, a diversidade de áreas em que intervinha com competência reconhecida e a enorme dimensão de massas que atingiu.
OBRIGADO, EUGENIO SCALFARI
Hoje vivemos tempos em que o modelo deste jornal de Scalfari está em declínio, não só pelo triunfo incontestado do audiovisual, contra a cultura de natureza mais analítica, e pelo dilúvio tablóide que inunda a maior parte dos meios de comunicação, mas também pelo desenvolvimento do digital, da rede e, em particular, pelo aparecimento das redes sociais e da revolução que elas estão a introduzir na opinião pública.
Scalfari pertencia a outro tempo e julgo poder caracterizá-lo analogicamente como tempo das Luzes. Um tempo que o seu projecto tão bem soube interpretar. E digo-o com conhecimento de causa e com alguma nostalgia, pois o que agora estamos a viver continua a ser, sim, um tempo de luzes, mas mais o das fugazes luzes da ribalta.
Addio e grazie, Eugenio Scalfari.
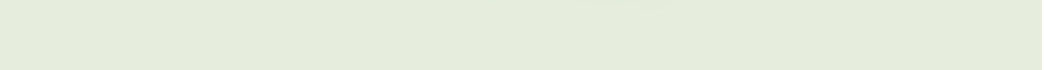
O MUNDO COMO FENÓMENO ESTÉTICO
REFLEXÕES EM TORNO DE NIETZSCHE
Por João de Almeida Santos
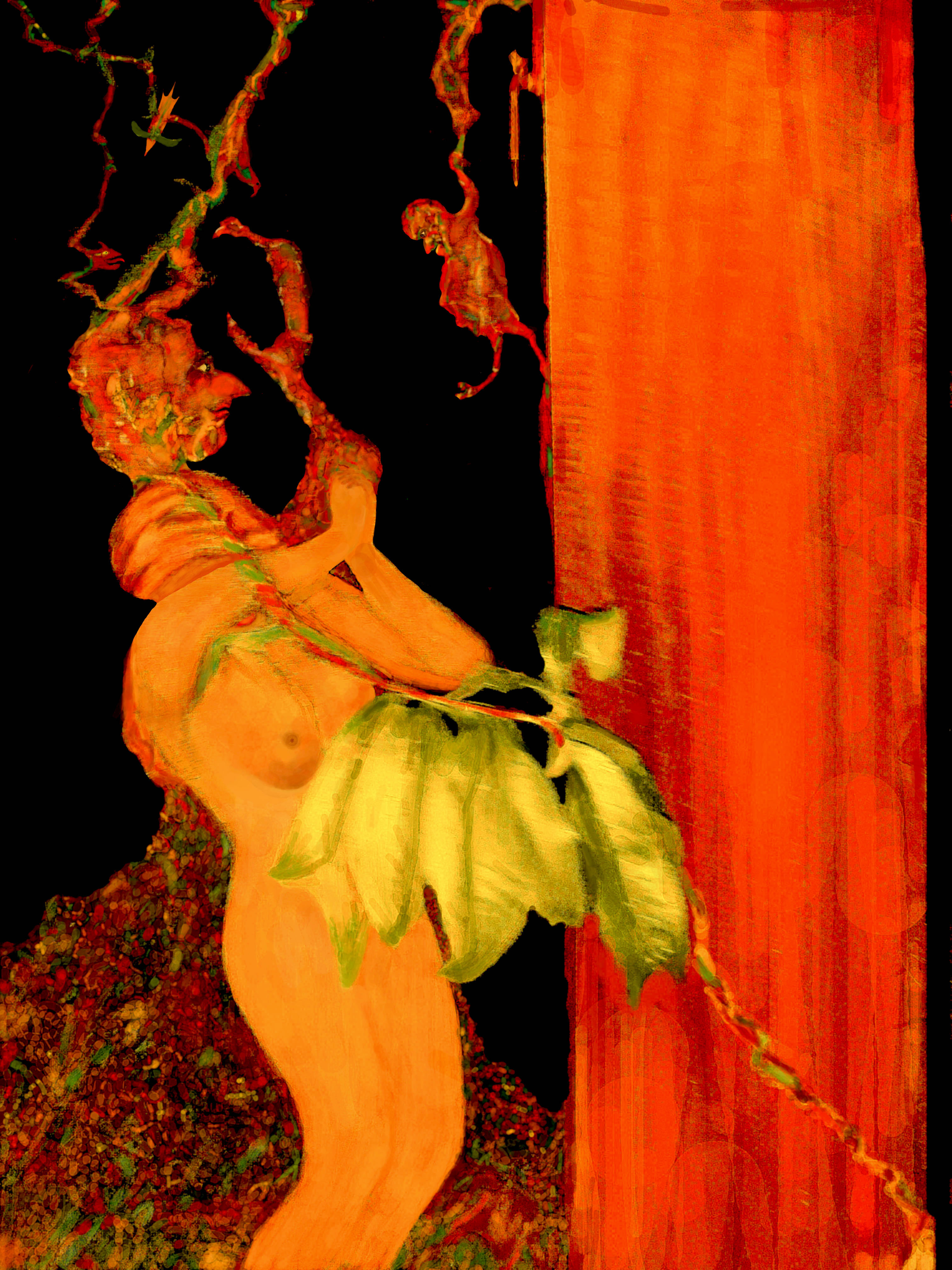
“Timidez”. JAS. 07-2022
PODE PARECER estranho o título deste artigo se atendermos ao estado calamitoso em que o mundo se encontra. Não é belo aquilo a que temos vindo a assistir. Mas também é verdade que muitas concepções de arte não a assumem como expressão do belo, no seu sentido clássico, mas sim como expressão de fracturas nucleares da existência, da vida, do mundo ou até mesmo de comuns esgares existenciais (de certo modo encontramos isso na pintura de Paula Rego ou no bailado de Pina Bausch). Não é o próprio Nietzsche que diz, em “A Origem da Tragédia”, que “a epopeia homérica é o poema da cultura olímpica, o hino de vitória em que ele canta os horrores da guerra dos titãs” (Lisboa, Guimarães Editores, 1972, 88 )? Mas, sim, só que a arte serve precisamente para dar um sentido à existência, para a tornar suportável. A visão do horror, do feio ou do disforme quando convertida pela arte actua sobre a nossa sensibilidade como uma espécie de filtro e tende a cobrir com o véu da beleza a rudeza e a aspereza do real. E esta é a missão do espírito apolíneo que a interpreta, agindo sobre o alimento dionisíaco. O título, afinal, reproduz o que diz Nietzsche em várias passagens desta obra.
TRANSFIGURAÇÃO
Vejamos , então, o que ele diz sobre a arte apolínea, precisamente em “A Origem da Tragédia”:
“Se nos fosse possível imaginar a dissonância (musical) feita criatura humana – e que é o homem senão isso? -, essa dissonância, para poder suportar a vida, teria necessidade de uma admirável ilusão que lhe escondesse a sua verdadeira natureza sob um véu de beleza”.
E continua, detalhando a mecânica do processo de gestação desta arte:
“Deste princípio de toda a existência, deste fundo dionisíaco do mundo, nada mais deve penetrar na consciência do indivíduo humano a não ser o que a potência transfiguradora apolínea estiver em condições de superar; de tal maneira que estes dois instintos artísticos sejam obrigados a desenvolver as suas forças numa proporção rigorosamente recíproca, segundo uma lei de eterna equidade. Em toda a parte onde virmos as potências dionisíacas em subversão violenta, é desejável que Apolo, envolvido em nuvens, haja descido já até nós; e a geração seguinte contemplará certamente as mais esplêndidas manifestações da sua potente beleza” (1972, 178-179; itálico meu; e pequenos ajustamentos meus à tradução).
Ora aqui está: a erupção vulcânica do mundo em poderosa manifestação vital sobre a qual intervém a potência apolínea de transfiguração, envolvida “em nuvens”, resulta, em rigorosa proporção, em arte e em contemplação da poderosa beleza, por obra de Apolo. A síntese perfeita para a obra de arte perfeita. A que, de resto, Nietzsche encontrava na tragédia grega.
A dissonância, a que ele se refere, sons estranhos entre si, na história da música evoluiu para a harmonia ou consonância musical, talvez esse mesmo “véu de beleza” que cobre a originária e recíproca estranheza dos sons entre si. A dissonância originária gera movimento e este tenderá progressivamente para a estabilidade, a consonância e a harmonia. Também aqui a arte resolve e converte em beleza o que na origem é aparentemente incomponível. E não se trata de uma estética do horror, que há quem a cultive, mas de arte e de beleza. Ou seja, da arte, na sua componente apolínea, como modo de viver o mundo calamitoso, mas de forma suportável. Aqui está: promovendo-o a fenómeno estético ele torna-se mais suportável. É como estetizar um sentimento, cantar a dor para melhor a suportar. E ela, a dor, é o combustível de que se alimenta a arte. Sobretudo a poesia. Cantar a dor não é propô-la como função existencial, mas sim uma forma de libertação por elevação estética. Não é como a visão do mundo exclusivamente moral que, como diz Nietzsche, aniquila e nega a vida porque esta é “essencialmente imoral”. O moralismo radical nega a pulsão vital. A tónica que Nietzsche põe no espírito dionisíaco diz precisamente o contrário: a exaltação da vida, das pulsões vitais, da alegria primordial que tudo anima – “o instinto dionisíaco, com a sua alegria primordial até mesmo perante a dor, é a matriz comum donde nasceram tanto a música como o mito trágico!” (1972: 176). Voilà. É aqui que se inscrevem quer a música quer a poesia. Como respiração cadenciada e sublime da própria vida. Com Apolo a indicar-nos o caminho: “com gestos sublimes é que ele nos mostra quanto o mundo dos sofrimentos lhe é necessário, para que o indivíduo seja obrigado a criar a visão libertadora, porque só assim, abismado na contemplação da beleza, permanecerá calmo e cheio de serenidade, levado na sua frágil barca por entre as vagas do mar alto” (1972: 51).
A MÚSICA E A POESIA
Achei muito curiosa uma observação que li no Ecce Homo. É esta: “Quando pretendemos libertar-nos de uma opressão intolerável , tomamos haschich. Pois bem: eu tomei Wagner” (Lisboa, Guimarães Editores, 1961, pág. 62). Libertou-se através da música, mais concretamente, a de Wagner. Veneno, diz ele. Mas veneno excelso, o de Tristão (e Isolda, de 1865), o nec plus ultra de Wagner, “o maior benfeitor da minha vida”. O papel da música na vida de Nietzsche é decisivo ao ponto de ele próprio comparar “Assim falava Zaratustra”, a sua poderosa obra-prima, com o “espírito da primeira frase da Nona Sinfonia” (cit. por Stefan Zweig, em Nietzsche. O combate com o demónio, Lisboa, Guerra e Paz, 2022, 98). A música é para ele a arte por excelência dionisíaca, vital, pulsional. “Não sei estabelecer diferença entre as lágrimas e a música”, diz ele no Ecce Homo (1961: 64). Uma intimidade tal entre sentimento e música que acaba por identificá-los, embora no interior de um processo de transfiguração estética que vai do dionisíaco ao apolíneo e, na música, da dissonância à consonância. E a poesia segue o mesmo trajecto. Assim se cumprindo o papel da arte como redenção. Algo que, em vez de se distanciar da vida, se aninha nela e que, no calor do ninho, se eleva como fumo branco (“envolvido em nuvens”) que, desenhando formas perfeitas no ar, indicia combustão em terra. Mais uma vez, a música e a poesia.
Eu creio que a poesia é uma espécie de sequência da música, mantendo uma grande intimidade com ela, não só porque faz parte da sua matriz, porque é de algum modo o seu registo originário, mas também porque é uma linguagem performativa, que procura funcionar como acção, superando a dimensão de mera representação do real sentimental, emocional, vital. Tal como a música a poesia vibra por si. Ao dizer-se, cumpre-se como momento existencial com densidade ontológica. A poesia não pode, pois, ser concebida como representação, mas sim como vontade, exactamente como a música. Apesar de a vontade ser “o inestético em si”, a música aparece como vontade (1972: 64). O espírito dionisíaco move-se nestas águas, move a música, mas também move a poesia na sua génese, evoluindo, esta, depois, para um puro olhar contemplativo, o do espírito apolíneo.
Nietzsche cita Schiller: “Um certo estado musical da alma é que o precede e faz gerar dentro de mim a ideia poética” (1972: 55-56). Acontece o que ele chama uma “predisposição musical” no acto de poetar. E fala da dissonância musical. A dissonância evolui na história da música para a harmonia de sons originariamente estranhos entre si, em analogia com a própria vida, fazendo-a evoluir da aspereza para a suavidade estética, a beleza, como única forma de suportabilidade: “o mundo e a existência não podem ter justificação alguma, a não ser como fenómeno estético” (172: 175, 60). E neste registo a música tem um papel fundamental como propulsora da arte, como energia que “dá, de certo modo, asas à arte apolínea para a levar consigo no seu voo” (1972: 173).
O ARTISTA COMO MILITANTE DA VIDA
Esta distinção entre espírito apolíneo e espírito dionisíaco é decisiva para compreender a arte. O mundo como vontade e representação é o título da grande obra de Schopenhauer. A arte conserva a vontade como impulso originário do artista, como combustível, como energia que lhe dá asas, mas ela é mais do que representação e mais do que algo que se soma ao real disponível. Ela tem mesmo a pretensão de se tornar real, confundindo-se até com ele… para o substituir. Só assim poderá cumprir a sua função redentora e libertadora. E nesta operação o artista anula-se, resolvendo-se como indivíduo empírico concreto, como subjectividade do foro real (1972: 59, 60), para se elevar à universalidade possível, mas sem perder o cordão umbilical, que nunca é cortado, ficando, todavia, invisível e espiritualizado. No voo estético, o combustível está lá, mas praticamente já não é preciso porque no ar a aspereza do real se dissolve. A arte não é positivista. E o artista não é um observador descomprometido com o real, que levita sobre o real. Não, o artista é um militante da vida… bela. Só militando nela, com todos os riscos e choques, ele se pode elevar à esfera contemplativa.
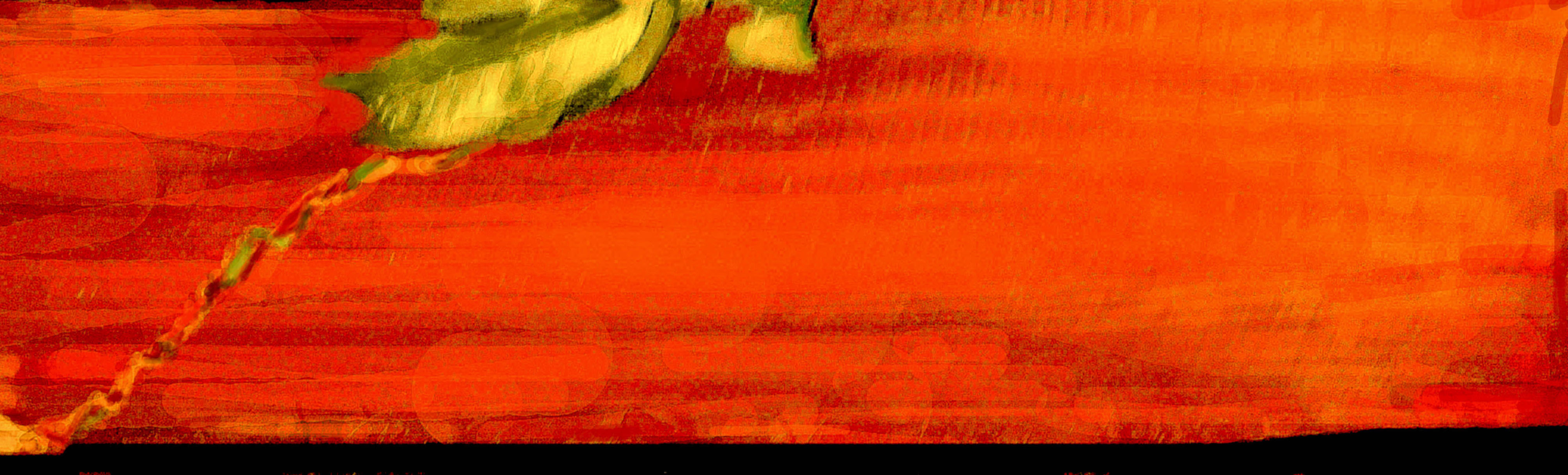
O REGRESSO DA POLÍTICA
E não pelas melhores razões
João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 06-2022
AS RECENTES ELEIÇÕES FRANCESAS dão que pensar. Os extremos ganharam uma força que é necessário tomar em consideração. Ficaram, juntos, a 15 mandatos (231) de distância do Ensemble presidencial (246). Serão os Republicanos a fazer a diferença, enquanto força política charneira (64), em condições de garantirem a maioria absoluta de, pelo menos, 289 mandatos. Os clássicos partidos da alternância perderam a centralidade e o PSF diluiu-se na liderança de Jean-Luc Mélenchon, para não desaparecer, depois do desastre da Anne Hidalgo. Temos, portanto, duas novidades preocupantes, que se seguem à novidade Macron, de 2017 e, agora, redimensionada, de 2022: abstenção a 53,77% e posições radicais de dimensão quase igual à do vencedor. Em Espanha, a disputa trava-se entre o PSOE e o PP, estando (na média das sondagens de 2021-2022 e até 30.05), separados por 1,2% (25,2% contra 24%), tendo, entretanto, o PP ganho as eleições da Andaluzia por maioria absoluta, já com a liderança de Alberto Núñez Feijóo. Mas há que sublinhar que a extrema-direita de Santiago Abascal já exibe, na média das mesmas sondagens, uma intenção de voto de 21,6%. Uma dimensão quase igual à dos dois partidos da tradicional alternância, obtida em pouquíssimo tempo, enquanto o Unidas Podemos caía nas sondagens para 11,6%. Em Itália, os legítimos herdeiros do fascismo, Fratelli d’Italia (FdI), dirigidos por Giorgia Meloni, já são o primeiro partido italiano, na mais recente sondagem (SWG/La7, de 20.06 – 23,1%), sendo certo que há muito vem mantendo uma consistência eleitoral equivalente, tendo em pouco tempo superado a Lega, de Salvini (agora com 15,1%). Este último partido garante agora o terceiro lugar, muito à frente do M5S (com 12,5%), um Partido/Movimento em grave conflito interno, que pode levar a uma real fractura, e que tem perdido consensos muito significativos, ao ponto de ter já passado dos 32,6% para (nas sondagens) valores reduzidos a quase um terço do obtido nas eleições de 2018 *.
Um panorama, portanto, perturbador para quem defende e valoriza a democracia representativa, o Estado Social e a liberdade. Sem dúvida, uma profunda mudança na geometria política destes três países. Estas mudanças não são conjunturais. Elas indiciam uma tendência que merece reflexão.
I.
NESTE PANORAMA, revela-se preocupante a dimensão que tem atingido a extrema-direita, em particular num período de enormes dificuldades, motivadas, primeiro, pela pandemia e, depois, pela invasão russa da Ucrânia, com as graves consequências económicas a que deram lugar e cuja dimensão e alcance ainda estão em curso. Mas a causa é mais profunda e vem de trás. Tem a ver com o esgotamento do establishment político (é significativa a taxa de abstenção nas legislativas de França) e tem vindo a provocar uma fragmentação generalizada dos sistemas de partidos, rompendo de vez com a lógica da alternância e com o bipolarismo partidário que se fora formando a partir do pós-guerra. Mas o regresso da política parece estar a ser protagonizado pela extrema-direita, contrapondo o discurso dos (seus) valores, não só à formas mais radicais de construtivismo social e ideológico, mas também à assepsia ideológica e axiológica que o establishment tem vindo a promover, expulsando a política dos processos de decisão em nome de uma visão tecnicista e puramente administrativa (para não dizer burocrática) dos processos sociais (por exemplo, a substituição do conceito de governo pelo de conceito de governança) e promovendo a generalização de entidades ditas independentes como garantia de eficiência, imparcialidade e competência nos processos decisionais, a que acresce, ainda, uma progressiva judicialização da política, como se a justiça pudesse absorver em si a dimensão conflitual que está naturalmente presente na dialéctica política. Este último aspecto muitas vezes assume mesmo a forma de Lawfare. (https://joaodealmeidasantos.com/2020/11/24/artigo-23/).
II.
A EXTREMA-DIREITA tem dois inimigos claramente identificados: o liberalismo e os identitários “politicamente correctos”. Sobre o primeiro já aqui escrevi, ao centrar-me no ideólogo de Putin e no seu mestre Alain de Benoist, na sua crítica radical ao liberalismo, no artigo “RasPutin” (veja-se https://joaodealmeidasantos.com/2022/05/17/artigo-69/); sobre os segundos, bastaria referir o discurso tremendista, na forma e no conteúdo, de Giorgia Meloni, líder dos Fratelli d’Italia, em Marbella, recentemente, na campanha eleitoral da Andaluzia, num comício do VOX e da sua candidata a Presidente Macarena Olona. Vejamos o que, em tom vigoroso, ela disse: sim, à família natural, à identidade sexual, a fronteiras seguras, à pátria, à soberania dos povos, à universalidade da cruz, ao trabalho para os nossos cidadãos, à cultura da vida… e não à imigração massiva, à cultura da morte, aos burocratas de Bruxelas, aos lobbies LGTB, à ideologia de género e à grande finança internacional. Tudo temas que, bem explicados e desenvolvidos, identificam muito bem a ideologia da força política que lidera e explicam a razão do sucesso eleitoral destes partidos. São temas delicados e de fundo, mas sobre os quais defendem posições muito claras. Mas, no essencial, é de sublinhar, por um lado, o seu combate vigoroso contra os intérpretes cansados e já pouco inspirados da matriz liberal da nossa civilização (um combate, de resto, antigo, mas agora travado com redobrada energia, depois do esgotamento do establishment que o tem vindo a interpretar) e, por outro, o combate ao “politicamente correcto” e às doutrinas identitárias, embora também elas sejam inimigas do universalismo liberal. É claro que há os temas do soberanismo, da imigração e dos valores tradicionais da tradição católica mais ortodoxa, mas no centro do combate actual são aqueles os dois filões críticos que estão na ordem do dia: o esgotamento do sistema e o construtivismo social. Algo que deve preocupar todos os que se revêm na matriz liberal da nossa civilização e estão distantes das soluções promovidas pelos defensores das visões organicistas da política, sejam eles de esquerda ou de direita.
III.
AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES em Itália e em Espanha serão em 2023. E se olharmos para as sondagens é muito provável que a extrema-direita de Giorgia Meloni e de Matteo Salvini sejam os grandes vencedores, sendo certo que o M5S está em processo de desagregação e que Forza Italia é o aliado natural das duas forças de extrema-direita, a Lega e FdI. Em Espanha, a tendência do PP de Feijóo é de subida, se tomarmos em consideração a histórica vitória por maioria absoluta do PP na Andaluzia, já sob a sua liderança, embora também um pouco à custa da dinâmica crescente do VOX de Abascal, que, apesar de tudo, conseguiu 14 mandatos em 109, mais dois do que conseguira em 2018. Mas a verdade é que a média das sondagens recentemente realizadas lhe atribui uma força eleitoral de quase 22%, a cerca de dois pontos do PP. O que parece estar a desenhar-se é, pois, o regresso da direita ao poder. Em França, é o que se sabe, com o Rassemblement National a subir de 8 deputados para 89, passando a beneficiar de uma presença política, territorial e pública que nunca tinha conseguido. E, conhecendo-se as relações que a extrema-direita mantém com Putin (sobretudo Marine Le Pen e Matteo Salvini, para não falar de Viktor Orbán), este reforço político não augura nada de bom. De resto, toda a extrema-direita é soberanista, pouco amiga da União Europeia e das suas políticas e da democracia liberal. A guerra na Ucrânia torna esta tendência ainda mais sensível e perigosa.
IV.
O QUE ESTÁ A ACONTECER é uma aceleração da dinâmica política, provocada, por um lado, pela pandemia, ao exigir dos Estados e da União uma intervenção em força junto das sociedades europeias, reforçando a importância estratégica do chamado modelo social europeu para dar resposta a fenómenos desta dimensão; por outro, pela activação da lógica da guerra convencional e de uma certa ideia de política que parecia estar adormecida na prática e na linguagem dos países mais desenvolvidos. O regresso da política parece estar associado à restauração da dialéctica amigo-inimigo, de schmittiana memória, onde o poder de declarar guerra e de aniquilar o inimigo é a mais alta marca distintiva da política. É nesta visão que se filia o senhor Putin, sobrepondo-a às conquistas civilizacionais e aos mais elementares direitos humanos, plasmados nas cartas de direitos internacionais e acolhidos pela ONU. Ao mesmo tempo, os sistemas políticos clássicos têm estado a sofrer fortes ajustamentos internos que, todavia, ainda não conheceram respostas adequadas aos verdadeiros desafios que a mudança está a colocar nem recuperaram a nobreza ideal da política que o tempo e o frio pragmatismo dos negócios foram progressivamente esbatendo. Mas é a extrema-direita que está a pôr na agenda e no discurso político os clássicos valores que, de um modo ou de outro, se inscrevem na tradição e apontam às grandes clivagens da existência humana, exibindo um potencial de mobilização que, não o recusando, está muito para além do mero pragmatismo programático. Valores que se intensificam sobretudo nos períodos de crise.
V.
COMO ONTEM UM MEU AMIGO ME DIZIA, o mundo está muito pouco recomendável e pouco convidativo para viajar com a fantasia social em busca de uma vida melhor, mais parecendo que o desejo se limite a parar na fronteira do abismo – que se adentra cada vez mais no território das nossas vidas – com o único objectivo de o evitar.
- A cisão já aconteceu, na passada Terça-Feira, com Di Maio, um dos seus fundadores e ex-líder, a abandonar o M5S, levando consigo um número consistente de deputados e senadores. O que parece estar a delinear-se é uma coligação centrista que aglomere pequenas formações (com Matteo Renzi, Carlo Calenda, Luigi di Maio, Mara Carfagna, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro) para as próximas eleições de 2023. A Itália no seu melhor. Entretanto, o Garante do M5S, Beppe Grillo, mantém-se afastado desta gravíssima ruptura, deixando a Giuseppe Conte a missão de impedir o desaparecimento do Movimento. Uma coisa é certa: esta experiência inovadora de um partido digital acabou. #Jas@06-2022

AS INDÚSTRIAS CULTURAIS E O BORDADO DA MINHA AVÓ
João de Almeida Santos
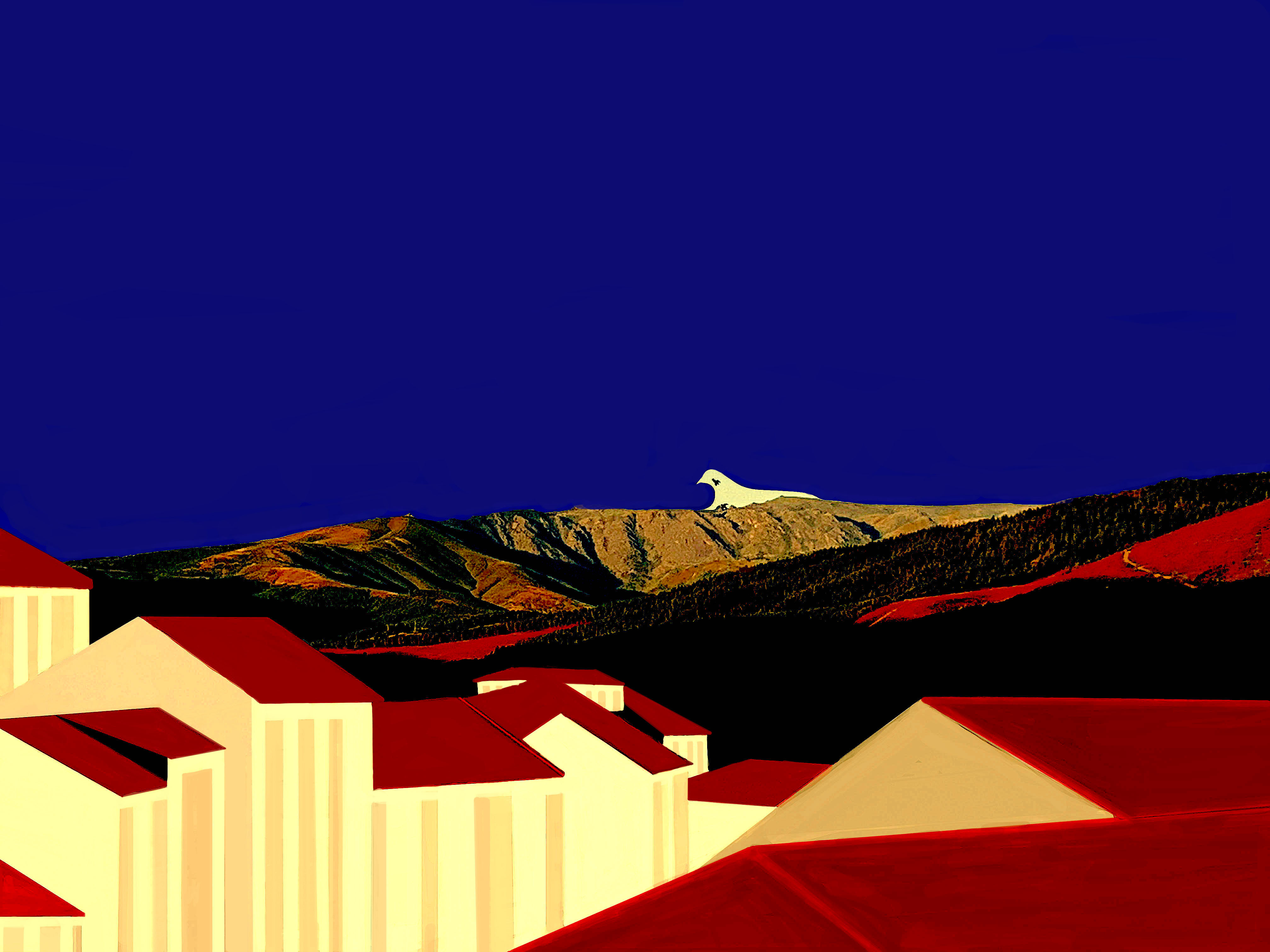
“A Montanha Encantada”. Pintura Digital. JAS. 06.-2022
NESTE ENSAIO procuro fazer uma reflexão sobre a mudança de paradigma da cultura de massas no contexto da rede e da passagem a um modelo relacional que gera novas formas de acesso, de produção e de difusão da cultura. A mudança na natureza do espaço público e o poder das novas tecnologias (TICs) são dois elementos essenciais das mudanças em curso.
A AURA
FIXEMO-NOS numa formulação de Theodor Adorno e Max Horkheimer na «Dialéctica do Iluminismo», de 1944:
«os produtos da indústria cultural estão preparados para serem consumidos rapidamente mesmo num estado de distracção» (1997: 134; itálico meu).
Definição concisa e clara, esta, onde os produtos culturais equivalem a produtos perecíveis e de consumo rápido. Ou seja, construídos segundo a lógica e a temporalidade dos meios (electrónicos) a que são desde a origem destinados. Produtos de tipo “prêt-à-porter”, concebidos à medida do consumidor.
Indústria cultural equivale a cultura de massas. Trata-se de produtos de larga difusão. Mas não é a possibilidade tecnológica da sua difusão em larga escala que faz deles produtos da indústria cultural ou produtos próprios da cultura de massas. Não é a sua reprodutibilidade técnica que determina a sua natureza. Até porque, como diz Walter Benjamin, «em linha de princípio, a obra de arte sempre foi reprodutível» (1966: 20). A reprodutibilidade técnica vale, hoje, quer para a «cultura de massas» quer para a «cultura de elite». E, todavia, a reprodução industrial da obra de arte, por um lado, retira-lhe a «aura», a unicidade, a dimensão de culto: «o hic et nunc do original constitui o conceito da sua autenticidade», diz Benjamin (1966: 22). Por outro lado, ela promove uma sensibilidade igualitária na fruição. Acaba uma relação intensiva e começa uma relação extensiva. De uma relação única passa-se a uma relação «genérica» com a obra de arte. Como dizem Adorno e Horkheimer: «a indústria cultural realizou, com perfídia, o homem como ser genérico», como exemplar fungível da espécie, que pode ser substituído por qualquer outro (1997: 156). Isto é, muda profundamente a sociologia, o modo de fruição e a própria função da arte. A função de culto da obra de arte única desaparece. E, consequentemente, neste processo, muda a sua própria natureza. Como se emergisse uma segunda natureza da arte ou da cultura: ela passa a identificar-se não só com o seu valor específico de uso, mas também, e sobretudo, com o seu valor de troca. Tudo numa dimensão individual. A reprodução industrial das obras de arte – do cinema à pintura, à música – gerou um novo tipo de relação com a arte: de uma relação de natureza comunitária passou-se a uma relação de natureza individual. A «separação» orgânica, que estruturava a relação do público com a obra de arte (público/palco, público/museu, público/biblioteca), deixou de funcionar como função constituinte da própria relação estética, uma vez que a arte passou a estar directamente disponível sob forma instrumental, podendo ser fruída intimamente, fora dos espaço sociais. E, todavia, possuindo as mesmas características de reprodutibilidade, nem todos os produtos da indústria cultural podem ser designados como produtos de cultura de massas: canções de Madonna ou de Sting não são comparáveis às obras de Igor Stravinsky ou de John Cage. Uma qualquer telenovela não pode ser comparada a «Blow-Up», de Antonioni. Isto é, sendo todas elas tecnicamente reprodutíveis em CDs ou em DVDs, não são igualmente acessíveis ou descodificáveis do ponto de vista estético. Se regressasse, então, à fórmula de Adorno e a aplicasse a estes casos, diria que enquanto os primeiros podem ser consumidos em “estado de distracção”, os segundos não podem. Mais do que a questão da «aura», que hoje pode ser re-editada sob forma de rituais idolátricos de consumo de massas, e em registo comunitário, é a questão da capacidade de acesso às formas culturais ou artísticas que constitui a discriminante fundamental, para além, claro, da própria concepção em função do consumidor. Mas, sendo assim, a questão não se põe só do lado da oferta, do tipo dos produtos culturais exibidos – mais complexos ou mais simples -, mas põe-se também do lado da procura, isto é, do lado das capacidades cognitivas do consumidor de produtos culturais. No plano da oferta, não se poderá criticar radicalmente os grandes meios de comunicação de massas por não se disporem a oferecer produtos de alguma complexidade conceptual ou estética, já que, não encontrando resposta do lado do consumidor, acabarão por ser punidos economicamente pelo mercado, pondo em causa a sua própria sobrevivência. No plano da procura, a crítica terá de ser implacável com quem, tendo responsabilidades públicas, não promove a educação estética e cultural do cidadão, não o preparando para esta nova fase da democratização generalizada dos produtos culturais (de elite e de massas), Investindo numa espécie de literacia estética ou cultural. Isto é, o problema que se identifica como «círculo vicioso» na relação entre oferta e procura nos meios de comunicação de massas – dar ao público aquilo que o público quer – tem certamente algumas raízes no desempenho excessivamente mercantil e de curto prazo dos grandes meios de comunicação de massas, mas tem sobretudo raízes profundas na ausência de educação estética generalizada nas sociedades modernas, em contradição com a abundância e a disponibilidade generalizada de produtos da indústria cultural. Ou seja, é escassa uma cultura política que leve a sério a exigência de educação estética do cidadão, nos exactos termos em que a formulou o Schiller dessas geniais «Cartas sobre a educação estética do homem», ao ponto de ter proposto essa estranha figura do Estado Estético como a sua própria utopia democrática (Santos, 1999: 52-51). Mas uma política de futuro não deveria promover e generalizar – hoje, na época da reprodutibilidade técnica de todas as formas culturais – a educação estética dos cidadãos para que pudesse induzir um verdadeiro «círculo virtuoso» entre o que o público quer e o muito que se lhe pode dar?
O FIM DA FRONTEIRA ENTRE AUTOR, ACTOR E ESPECTADOR
Num interessante artigo em torno de um livro de Andrew Keen sobre a Rede («Está a Internet a matar a nossa cultura?», «Público», 08.09.07), há uns bons anos, José Pacheco Pereira fez uma exaustiva descrição do «caos» da rede, reconhecendo que a «horda» dos internautas está, de facto, a ameaçar a cultura (a alta cultura), mas acabou por reconhecer que se trata, apesar de tudo, de uma tecnologia que produziu milagres para quem, antes, se via impedido de qualquer aproximação imediata às áreas de consumo cultural que a rede hoje faculta. Falou mesmo da revolução social que deu origem à chamada civilização de massas. E concluiu dizendo que, mesmo que a rede assuste as elites culturais, mesmo assim, há que valorizar esta imensa abertura ao universo espiritual onde habita a cultura.
Ora aqui está. A questão agora já não se põe só ao nível dos meios de comunicação de massas convencionais, que inundam cada vez mais o espaço público com produtos das indústrias culturais, que já representam uma fatia consistente dos PIBs nacionais. Põe-se também, e de forma mais radical, ou não, ao nível da Rede, onde os filtros – de qualidade, mas sobretudo de acesso quer na óptica do consumo quer na óptica da produção – desapareceram completamente. É por isso que, de algum modo, se pode falar de «caos» da rede. Ou melhor, de emergência do indivíduo, como receptor e como produtor, num espaço público que deixou de ser ordenado e controlado pelos tradicionais «gatekeepers», esses guardiões do templo público, senhores da palavra e do silêncio, apóstolos das indústrias culturais. Eu diria mesmo que a rede quebrou esse feitiço da comunicação de massas onde cada um equivalia a todos e onde cada indivíduo mais não era que um ente genérico, um simples exemplo do género. Radicalizando: a rede tornou compatível a afirmação individual com a cultura de massas. O Castells, de resto, traduziu muito bem esta combinação num conceito: «mass self-communication».
Mas eu diria mais: isto não se verifica só no domínio da cultura. Verifica-se também na política ou na economia. Quando se fala de civilização pós-industrial, de civilização pós-moderna ou de democracia pós-representativa está-se a falar de uma ruptura de paradigma. Trata-se de uma mudança epocal. A rede veio instalar definitivamente a ruptura nos campos já extremados da democracia representativa, da comunicação, da cultura. Adorno e Horkheimer, de facto, já nos anos ‘40 criticavam as «indústrias culturais» precisamente em nome da autêntica cultura, não alienada, numa visão crítica do modo de produção simbólico capitalista e dos seus produtos culturais de plástico. Como se se tratasse de autênticos arremedos culturais. Hoje, essa confecção capitalista e instrumental de produtos culturais de plástico, bem diferentes dos produtos culturais com «aura», passou a estar sujeita ao escrutínio da rede. Na rede, de acesso universal – à informação e à difusão de informação -, misturam-se permanentemente produtos de «indústria cultural» com produtos com «aura», num universo algo caótico, num intercâmbio «simbiótico» sem fronteiras nem referências. Se as «indústrias culturais» eram difundidas com ordem, referências e fronteiras, com a lógica do «broadcasting», a partir de centros de produção com dimensão empresarial ou mesmo institucional, agora, com a rede, vive-se no reino do aleatório, do casual, onde cada um é um e não exemplo do “género”. Manuel Castells propôs, como disse, um interessante conceito que procura traduzir funcionalmente a nova realidade: «mass self-communication», comunicação individual de massas (Castells, 2007). Ou o reposicionamento do indivíduo na sociedade de massas que rompe com a unidireccionalidade hierarquicamente organizada da comunicação.
Do que se trata é do revolucionamento do sistema social em todas as frentes. E, por isso, também na frente cultural e científica. É que as novas tecnologias são, cada vez mais, importantes próteses cognitivas e instrumentais do homem. E quando ultrapassam o plano individual ou de elite, massificando-se, elas acabam por induzir efeitos sociais em grande escala e de grande alcance histórico. Aconteceu com a imprensa, com a robótica industrial, com os computadores, com a telefonia móvel, com a rede. Quem é que não compreendeu já a força do telemóvel na reconfiguração das relações sociais e humanas? O telemóvel tornou-se um bem essencial primário de que ninguém hoje pode prescindir. A rede alastra a um ritmo impressionante. As redes sociais já assustam os poderes tradicionais pelo seu potencial libertador, apesar do perigo de evolução para uma automatizada “sociedade algorítmica” centrada na inteligência artificial.
Se o que está a mudar, em todas as frentes, é toda a sociedade, o grande problema é que ainda não há respostas sobre como reconfigurar a nova sociedade emergente em função das enormes mutações sociais que o uso massificado das tecnologias está a provocar, sobre como reorientar os mecanismos sociais de que dispomos para canalizar o imenso magma social que se está a mover a uma velocidade antes inimaginável. E se isto é necessário na cultura, não o é menos na política ou na economia. É ver os debates que estão a ocorrer um pouco por todo o lado sobre a democracia pós-representativa. Com efeito, a resposta ainda só reside na ideia de «pós-qualquer coisa».
Na verdade, a rede não está a matar a nossa cultura. Está a democratizá-la, com todas as consequências de nivelamento social que isso tem sobre as práticas culturais difusas, mas também com o aprofundamento multidireccional da participação, da recepção à emissão: no acesso, na produção e na difusão cultural. E esta democratização é, de facto, de nível superior à da chamada comunicação de massas, por mais que barafustem os apóstolos do “gatekeeping”. Uma mudança na própria ideia de cultura. Walter Benjamin, em finais dos anos ’30, já antevira esta revolução cultural em «Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica»: o fim da «aura», a emergência do anónimo no espaço cultural e a ruptura da fronteira entre autor, actor e espectador. Uma produtiva confusão de géneros que conviria assumir, desenvolver e programar.
É verdade. Hoje todos têm acesso, sem sair de casa, a uma biblioteca ou a uma mediateca de dimensão mundial. Todos estamos, de um modo ou de outro, na rede, como receptores, mas também como emissores, autores e actores. Mas, claro, é sempre preciso saber ler, ver, ouvir… e fazer.
«CAHIER DE DOLÉANCES»
A verdade é que, hoje, este tema requer muita reflexão. E, todavia, ele já foi objecto de grandes debates. Existe mesmo uma literatura muito marcada sobre ele. Lembram-se do velho livro de Umberto Eco, «Apocalípticos e Integrados», de 1964, sobre comunicação e cultura de massas? Ele balizou o debate futuro. Um livro de Rodríguez Ferrándiz, de 2001, até tem o curioso título de «Apocalypse Show» e procura delimitar os apocalípticos dos integrados, os críticos e os apologistas da cultura de massas. Mas a discussão já vem de muito mais longe. De 1944, desse tempo em que Adorno e Horkheimer, na «Dialéctica do Iluminismo», verberavam as «indústrias culturais», criticavam a chamada cultura de massas, as indústrias do «amusement». Umberto Eco estabeleceria, mais tarde, nos anos sessenta, um longo «cahier de doléances» sobre essa cultura e seus «mass media»:
- promovem «medianias de gosto»;
- promovem culturas de tipo homogéneo;
- dirigem-se a um público que sofre a cultura de massas (sem se dar conta do seu próprio papel passivo);
- seguem o gosto dominante (sem o renovar);
- provocam a emoção em vez de a representar;
- submetem-se à lei da oferta e da procura;
- dão ao público o que ele quer ou, pior, sugerem ao público o que ele deve desejar;
- funcionam com fórmulas simplificadas ou com «condensados culturais»;
- nivelam tudo (até os produtos culturais superiores);
- promovem uma visão passiva e acrítica do mundo;
- preocupam-se só com o presente e entorpecem a consciência histórica;
- são funcionais ao «amusement» e, por isso, solicitam mais uma fruição epidérmica do que um autêntico envolvimento estético;
- tendem a impor símbolos e mitos falsamente universais;
- trabalham sobre as opiniões comuns e, por isso, exercem uma acção socialmente conservadora;
- promovem tendencialmente modelos oficiais;
- e, finalmente, desempenham a função de reprodutores simbólicos do sistema.
Adorno e Horkheimer, como vimos, sintetizam bem tudo isto: «os produtos da indústria cultural estão preparados para serem consumidos rapidamente mesmo num estado de distracção». Não é, pois, difícil estar de acordo com esta fenomenologia crítica dos «mass media» e da cultura de massas. Se olharmos para a televisão e para os tablóides com algum sentido crítico neles reconheceremos a maior parte das características enunciadas por Eco, Adorno e Horkheimer. E a verdade é que a esquerda cultural sempre tendeu a colocar-se deste lado crítico. Numa óptica «apocalíptica», ou melhor, compreensivelmente não integrada. Ou, como alguns querem, numa óptica inconfessadamente aristocrática. Pelo contrário, os integrados ou os apologistas da cultura de massas não vêem mal no que os apocalíticos criticam: o povo sempre amou o «panem et circenses»; a massificação veio atrair aos bens culturais quem nunca teve acesso a eles; a homogeneização do gosto significa unificação de sensibilidades nacionais e eliminação de diferenças de casta; os «mass media» não são conservadores porque introduziram novas linguagens e novos estilos, etc., etc. (veja-se Abruzzese/Miconi: 1999). Numa palavra, conservadores são os que não entendem que a cultura atingiu uma poderosa dimensão industrial e que, por isso, tendo, dela, os defeitos, também tem as suas virtudes. O que se pode e deve fazer é uma crítica que distinga o que neles se revela como imperativo histórico e o que neles se revela como simplesmente instrumental e manipulável.
Um politólogo italiano de renome, Giovanni Sartori, escreveu um livro fortemente crítico da televisão: «Homo videns» (Sartori, 2000). Muitas das características do «Cahier de Doléances» de Eco estão lá. Mas está lá, sobretudo, uma ideia central: a televisão é emocionalmente forte e cognitivamente fraca. A assunção realística desta ideia poderá ajudar-nos a colocar devidamente o problema da natureza e da função da televisão e da própria cultura de massas. A delimitar as suas debilidades (cognitivas) e a sua força (emocional). E, assim, a assumirmos uma posição realística sobre o assunto. É claro que não é fácil deixar de reconhecer a justeza da fenomenologia crítica de tipo apocalíptico, sobretudo depois da leitura de obras demolidoras sobre a televisão, como, por exemplo, a de Neil Postman, «Amusing ourselves to death» (1985) ou a de Jerry Mander, «Four arguments for the elimination of television» (1977). São argumentações fortes. Eu próprio publiquei, em 2000, um ensaio filosófico e crítico sobre a televisão, que aprofundava a leitura de Sartori e que foi reeditado, com uma nova introdução, recentemente: Homo Zappiens (Lisboa, Parsifal, 2019).
E, todavia, enquanto os «mass media» se constituem hoje como um dos mais importantes subsistemas das sociedades modernas, a cultura de massas dá novos passos para produzir um ulterior nivelamento, constituindo-se como poderosa força material capaz de mover o mundo. Mas, se é assim, o que devemos fazer é tentar compreender a razão de tanto poder, sem cairmos, todavia, na velha tentação de tudo resumir a «circo», que, juntamente com o «pão», continue a ser o verdadeiro alimento do povo: «panem et circenses». A rede tem, neste processo, um importante papel como potente democratizadora da cultura (individualizada) de massas. Sim, mas poderá também introduzir novas variáveis que rompam com o velho paradigma, quer no plano do acesso e da difusão, mas também (ou sobretudo) no plano da produção e da autoria.
O BORDADO DA MINHA AVÓ
Estamos, de facto, a assistir ao triunfo incontestável de indústrias culturais cada vez mais fortemente induzidas pela revolução tecnológica. E, como diziam Adorno e Horkheimer, em 1944, desta irrupção não resultou o caos, mas sim uma verdadeira ordem «cultural», uma autêntica homogeneização das formas culturais:
«a tese sociológica de que a perda de suporte representada pela religião objectiva, a dissolução dos últimos resíduos da sociedade pré-capitalista, a crescente diferenciação técnica e social e a tendência para a especialização tenham dado lugar a um caos cultural é desmentida todos os dias pelos factos. A civilização actual confere a todos os seus produtos um aspecto de semelhança. (…) A unidade visível e manifesta entre macrocosmos e microcosmos ilustra do modo mais eficaz, aos olhos dos homens, o esquema da sua cultura, que é a falsa identidade entre universal e particular» (Horkheimer/Adorno, 1997: 126-127; itálico meu).
Palavras escritas nos anos quarenta. Benjamin, alguns anos antes, em finais dos anos trinta, falava, como vimos, do fim da aura da obra de arte, com a emergência da possibilidade da sua reprodutibilidade técnica e consequente massificação, com perda de singularidade. A outra face desta revolução reside na emergência da centralidade de um público massificado que rompeu com o espaço restrito das salas de espectáculos, superando fronteiras, diluindo a fruição e levando-a até ao mais íntimo dos espaços privados. Ou seja, a cultura já não pode ser concebida, por um lado, como puro processo subjectivo de produção estética, onde a componente instrumental é, de algum modo, externa à concepção estética, já que a tecnologia passou a integrar o próprio processo criativo de forma muitas vezes dominante e avassaladora, e, por outro lado, como espaço público de fruição comunitária, já que a cultura está hoje quase integralmente disponível para pura e simples fruição íntima, em espaço integralmente privado. Diria mesmo individualizado, com a emergência das TICs e da Rede. Por outro lado, a própria noção de cultura dilatou-se, como nos está a sugerir a própria expressão «indústria cultural», envolvendo múltiplas formas de produção simbólica que até há bem pouco tempo eram consideradas como mero entretenimento. O debate sobre as formas de produção televisiva, a defesa da televisão como forma de cultura popular contra um suposto criticismo de esquerda que abominaria o próprio sistema de produção televisivo, enquanto forma inferior de produção simbólica, é bem elucidativo do estado da arte. Nem sequer é necessário lembrar a vastíssima reflexão de Gramsci – mas sob um registo contrário, realista e anti-formalista, às formas então dominantes – sobre as formas de cultura popular e a sua extrema valorização da dimensão dionisíaca da vida na tradição teatral siciliana – veja-se a importância atribuída a Liolà, de Pirandello – para enfatizar a componente popular das formas de produção cultural, sim, mas contra o convencionalismo abstracto e decadente das formas culturais dominantes. Desde sempre a dimensão popular da cultura foi fortemente valorizada, especialmente pela esquerda cultural. Mas a verdade é que, hoje, esta componente tem vindo a assumir outras dimensões que não as tradicionais. E isso tem a ver com a ruptura do paradigma cultural tradicional, fruto da revolução simbólica. Que dizer da Pop Music? E da Pop Art? Das caixas de tomate de Andy Wharol? E da publicidade da Benetton, ao tempo da responsabilidade do grande fotógrafo Oliviero Toscani? E do desviacionismo? A verdade é que a dicotomia cultura popular/cultura erudita começa a fazer cada vez menos sentido, já que o suporte em que é possível fruir uma ou outra pode ser o mesmo. É, de facto, a explosão e a disseminação das várias formas simbólicas que gera uma espécie de pós-moderna confusão de géneros e que anula a velha dicotomia. Mas, afinal, quanto de música popular já encontramos nas mais variadas composições do genial Mozart? E quanto de ruídos da vida quotidiana integram importantes peças da música contemporânea? A velha dicotomia soa-me a desfasamento temporal e, sobretudo, a enclausuramento especialístico nas paredes invisíveis do snobismo intelectual. Que efeitos estéticos podem resultar, por exemplo, da captação de imagens da transumância nas serranias? Ou melhor: onde reside a elaboração estética da transumância? Não será na captação, por uma câmara, dessas imagens perdidas no rolar cíclico da vida em meio rural?
O velho Gramsci gostava, de facto, daquele Liolà pirandelliano e siciliano que cantava a simplicidade da vida, afundando a palavra e o ritmo na força dos sentidos e na exuberância da natureza e valorizando as coisas simples e básicas da vida porque era nelas que ele via as sementes do futuro que haveriam de romper com o formalismo arcaico burguês e o ritualismo paralisante das tradições retrógradas.
Afinal, não passaram assim tantos anos desde o momento em que eu próprio emoldurei um lindíssimo bordado que a minha avó Josefina, mulher simples da aldeia, fez em homenagem ao amor da sua vida, o meu avô Joaquim Pinto. Está lá exposto na minha galeria pessoal, a parede da minha casa, em Famalicão da Serra. E já não é um simples fragmento de memória afectiva… É uma obra de arte. Um objecto cultural. Com aura. Um regresso ao passado sob a forma de exaltação estética, que, sim, pode, agora, ser disponibilizado nas redes sociais, tendo como autora Josefina Valério, a minha querida Avó (que perdi em 1957).
FINALMENTE
Mas, para terminar, devo sublinhar o outro aspecto que emergiu com o aparecimento e o aprofundamento da nossa relação com a rede. E esse aspecto tem a ver com essa dimensão a que se referiam Adorno e Horkheimer, mas também Umberto Eco, ou seja, com a necessidade de ruptura com a comunicação de massas, uniformizadora e “genérica”, pela introdução de uma dimensão individual activa no processo que, pelo menos, perturbe essa homogeneização universal das consciências e da recepção cognitiva e sensorial dos produtos culturais, na medida em que hoje já é possível ao indivíduo intervir sobre o espaço público, como “mass self-communication”, até como produtor, além de agir como receptor activo e dotado de um ilimitado poder de selecção dos conteúdos. Bem sei que será exagerado falar de regresso da “aura”, agora através da singularidade que nos é devolvida pela rede, mas sempre se poderá falar de ruptura dessa fúria homogeneizadora dos mass media, de redução do fruidor cultural a ente genérico e de imposição arbitrária do valor de troca como constitunte decisivo do produto cultural. Bem sei que já estamos perante uma forte interferência dos processos algorítmicos, um gigantesco e automatizado poder de classificação e arrumação em tipologias cada vez mais individualizadas, mas nem por isso a nova situação deixa de ser profundamente diferente da que há não muito tempo tínhamos perante nós: broadcasting, relação unidireccional, vertical e hierarquizada no processo comunicativo. A rede, por mais que se diga, veio dar à singularidade um protagonismo que lhe estava vedado no anterior modo de produção comunicacional. E isto tem enormes repercussões no universo dos produtos culturais.
REFERÊNCIAS
ABRUZZESE, Alberto e MICONI, Andrea (1999). Zapping. Napoli: Liguori. BENJAMIN, Walter [1937] (1966). L’opera d’arte nell’epoca della sua reproducibilità técnica. Torino: Einaudi.
CASTELLS, Manuel (2007). «Communication, Power and Counter-power in the Network Society», in «International Journal of Communication, Vol. 1.
ECO, Umberto (1999). Apocalittici e Integrati. Milano: Bompiani.
FERRÁNDIZ, R. R. (2001). Apocalypse Show. Intelectuales, televisión y fín de milenio. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
HORKHEIMER, Max e ADORNO, Theodor [1944] 1997. Dialettica dell’Illuminismo. Torino: Einaudi.
MANDER, Jerry [1977] 1999. Quatro argumentos para acabar com a televisão. Lisboa: Antígona.
POSTMAN, Neil [1985] 2002. Divertirse da morire. Il discorso pubblico nell’era dello spettacolo. Venezia: Marsilio.
SANTOS, João de Almeida (1999) Os Intelectuais e o Poder. Lisboa: Fenda. SANTOS, João de Almeida (2019). Homo Zappiens. Lisboa: Parsifal.
SARTORI, Giovanni [1997] 2000. Homo Videns. Televisione e Post-Pensiero. Roma-Bari: Laterza.
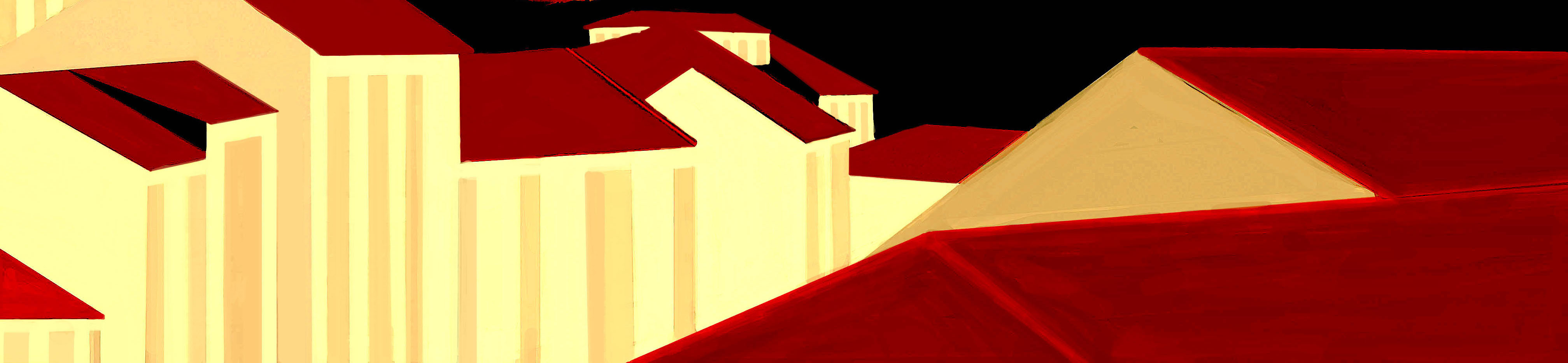
“A Montanha Encantada”. Detalhe.
O POETA DEU-NOS MÚSICA
Ainda a propósito do Nobel atribuído a Bob Dylan
João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 06-2022
ONTEM, ENQUANTO PINTAVA, pus-me a ouvir “Mister Tambourine Man” e “Blowin’ In the Wind”, do Bob Dylan. Gosto de ouvir música enquanto pinto, não enquanto escrevo poesia. A escrita poética é mais sofrida do que a pintura, impondo um silêncio que esta não exige. A música deve brotar do poema, desprender-se suavemente da rítmica silenciosa das palavras escritas. Como se fosse uma pauta lida e trauteada em surdina. Mas essa vontade de ouvir Dylan levou-me a rever e a reescrever um texto que publiquei em Outubro de 2016 por ocasião do anúncio da atribuição do Nobel da Literatura ao poeta-músico e que aqui reproponho desenvolvido e com alterações substantivas.
HEY, MISTER TAMBOURINE MAN
O BOB DYLAN poeta-músico passa da surdina poética ao som explícito, instrumental e vocal. E é por isso que as pessoas o vêem assim, como músico. Ou melhor, o ouvem. A música de um poema que não está em primeiro plano. Por exemplo, a fruição dos que não sabem inglês e só percebem o que quer dizer “Hey, Mister Tambourine Man”, o título dessa belíssima canção que nos ficou no ouvido. Sim, poderíamos afirmar que se trata de “poesia para o ouvido”, como alguém disse. Dylan, um autor e diseur com especial sentido e poder musical.
Eu, quando jovem, até já sabia alguma coisa de inglês (aprendera no Liceu), mas, para mim, naquele tempo, o Dylan era só sons, música. Da melhor, mas só música. Revolucionária, mas só música. Do tempo desses extraordinários cantautores que agitavam as massas, sobretudo estudantis. Com música. Todos à esquerda. Revolucionários. Com música. É verdade que, nesse tempo, as letras contavam muito e eram “da pesada”, muito politizadas, de intervenção ou com uma intensa expressividade existencial. O pico desse tempo foi 1968. O lugar deputado: Paris. O mês: Maio.
Mas não era preciso conhecer a letra. A música bastava-se, além do contexto ambiental que funcionava como cenografia ou pano de fundo e também como difusa semântica. Nem havia Internet com as traduções. Bastava o título e o cantautor. Ouvi muito Dylan, gostava, mas nunca li nem fui induzido a descodificar a letra das suas canções. Só mais tarde é que, movido pelo debate, as fui ler. Graças ao Nobel. Muito belas, confesso. Em particular, as de “Mister Tambourine Man”, “Blowin’ In the Wind” ou “Like a Rolling Stone”. Quem nunca se sentiu perdido nas mil veredas da existência e precisou de uma canção para sonhar, de um “Tambourine Man”? Quem não se sente, tantas vezes, a caminhar sem rumo por uma “velha rua deserta demasiado morta para sonhar” e a precisar de ouvir um Bob Dylan? Sim, o Dylan ajudava e ajuda – “Hey, Mr Tambourine Man, play a song for me” (…), “take me on a trip upon your magic swirling ship”. São palavras que falam do sentido profundo da existência e dos sonhos que a alimentam e a redimem: “Let me forget about today until tomorrow”.
O DISEUR É UM MÚSICO
A VERDADE é que, em 2016, Bob Dylan recebeu o Nobel da literatura porque soube fundir poesia e música de forma poderosa, como autor e como cantor, como poeta e como músico, dando forma expressiva e intensa à sua inspiração, materializando-a e conseguindo atravessar o tempo e as suas vastas fronteiras, inspirando multidões um pouco por todo o mundo. Mas também é verdade que se o género é claro e linear na sua expressividade, já o prémio pode parecer um pouco oblíquo – meio-música/meio-poesia, mas invertendo a dominante da equação. Ou seja, trata-se de uma forma expressiva onde a música é dominante, sobredeterminando de forma decisiva o significante poético. A intensidade sensitiva a sobrepor-se à semântica. Parece-me. Embora, é minha convicção profunda, a poesia seja a fala da música, a primeira fala, aspirando também ela sempre a ser convertida em música, ou melhor, a ser dita também musicalmente. A sair do seu estado de surdina e a ficar em primeiro plano. Mas a poesia surge, aqui, como suporte auxiliar da música, cooperando sobretudo com a sonoridade, a rima, a rítmica. Não tanto com a sua componente semântica, que em Dylan também é intensa. Mesmo na sinestesia há sempre uma arte que sobe ao primeiro plano com a sua linguagem, dependendo, claro, do tipo de experiência estética do fruidor. Às vezes, há mesmo dificuldade em conciliar a intensidade rítmica com a suavidade e a delicadeza poética de certas letras. Seguindo esta linha selectiva, amanhã o Nobel da Literatura também poderá ir parar a um pintor, a um bailarino, a um coreógrafo, a um realizador? Como o foi a um músico, embora cantautor/diseur e poeta. Porque não? Um quadro não é tantas vezes uma poderosa narrativa contada em riscos e cores? Mas talvez não. A música e a poesia falam a uma só voz e podem até diluir-se reciprocamente, uma na outra. O diseur, na realidade, é um músico. E o cantautor é uma espécie de upgrade intensivo do diseur, que também seja poeta. Sim, música e poesia podem, sem risco de errar, identificar-se. De poeta a diseur, de diseur a músico. Cada momento integrando o anterior.
DE DYLAN A DARIO FO
BOB DYLAN sempre se colocou à esquerda e tem projecção mundial. Há muito. Mas as escolhas à esquerda não são de hoje, arriscando-se a Academia a que o Nobel um dia venha a ser publicamente recusado, como aconteceu, em 1964, com Jean-Paul Sartre, que não queria ser “institucionalizado” (a Oeste como a Leste), mantendo-se livre, embora com simpatias pelo socialismo e pelos sistemas políticos de Leste. Mas isso não viria a acontecer quando a Academia teve a ideia de o atribuir, em 1997, a Dario Fo – um giullare (jogral) de esquerda ou mesmo da esquerda radical – “porque, seguindo a tradição dos jograis medievais, faz troça do poder, restituindo a dignidade aos oprimidos”. Palavras que ecoaram forte na Academia Sueca, aquando da atribuição do prémio a este extraordinário Mimo: o grande Dario Fo, sempre acompanhado pela sua companheira Franca Rame. Um dramaturgo em acto, em movimento, dando vida às palavras com um poder mímico extraordinário. Veja-se “Mistero Buffo” (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=9EdIFECzTVE), onde encontramos a sua genialidade nas partes em que recita uma espécie de narrativa meta-semântica, à semelhança da poesia que tem o mesmo nome. As palavras do torrencial discurso são sonoridade alusiva a uma narrativa previamente identificada, sons sem significado próprio, mas que imitam a sonoridade de palavras, acompanhando-as de mímica. Discurso meta-semântico, sem dúvida, tal como quando se fala da poesia meta-semântica de Fosco Maraini, por exemplo, em Il Lonfo. Sons que se assemelham a palavras, mas que não são mesmo palavras. Dramaturgia accionada tecnicamente pela capacidade mímica do grande giullare, por exemplo, quando conta/imita a história antiga precisamente de um giullare. Também aqui a lógica da atribuição do Nobel funcionou como em Bob Dylan. Ou o caso de José Saramago, bem conhecido também pelo seu posicionamento à esquerda. O caso de Dario Fo não foi menos “escandaloso” do que este, o de Dylan. Foi ele próprio que o disse no seu discurso de investidura: “Mas, sim, o Vosso” – dar o prémio a um jogral – “foi deveras um acto de coragem que soa a provocação”. E evocou Ruzante Beolco e os seus cânticos ao quotidiano e às pessoas comuns, as gargalhadas sobre um poder que não tolera o riso. Sim, seria necessário mais gargalhadas corrosivas sobre os poderes sem alma que nos governam a coberto de ideologias solidárias mal ancoradas na ideia de justiça, seja ela distributiva ou comutativa. O Nobel de Fo provocou, como ele diz, uma “balbúrdia” entre os eleitos do Parnaso e da literatura convencional que se viram preteridos e trocados por um jogral que usa “palavras para mastigar, com sons esquisitos, rítmicas e modulações diferentes, até às loucas tagarelas sem sentido do ‘grammelot’ (sequência arbitrária de sons)”. Por outro lado, como nome mundial, projectado precisamente pelas suas canções, Bob Dylan, ao contrário de muitos e relevantes poetas ou romancistas, mas pouco conhecidos, não precisaria de ser “reconhecido”, não dependendo dos oito milhões de coroas suecas para sobreviver como artista nem do Nobel para ver divulgada a sua obra. Já tinha que chegasse, até demais.
Pode até parecer que, às vezes, a Academia faz escolhas fracturantes ou disruptivas para subir ao topo da agenda pública, ao gerar polémicas planetárias. E não têm sido poucas. Não creio que seja porque os tempos estejam a mudar, como disse a Secretária da Academia, uma vez que faz isto há muito e, por isso, não creio que, como alguém disse, de passo em passo a Academia acabe por terminar na irrelevância. A arte precisa de reconhecimento com dimensão. De dinheiro também, mas sobretudo de reconhecimento digno de registo. A Academia tem essa importante função.
O TESTAMENTO DE ALFRED NOBEL E A POLÉMICA
O NOBEL, por vontade testamentária de Alfred, é concedido no âmbito de cinco áreas: a Física, a Química, a Medicina/Fisiologia, a Literatura, a Paz. É o que lá está, embora também se atribua o Nobel da Economia (não previsto no Testamento). Compreende-se, pois, que a atribuição deste prémio esteja limitada a estas esferas e que a Bob Dylan não pudesse ser atribuído o prémio para a música. Simplesmente porque não está previsto. Por isso, houve, em 2016, polémica. E da grossa. Até o Nobel da Literatura Wole Soyinka disse que, assim, no ano seguinte, deveriam atribuir dois Nobel da Literatura. Outros disseram que a música não precisa deste tipo de megafone, porque já tem em si uma enorme força reprodutora e de expansão. Ou que este prémio equivaleu a dar um Grammy Award a um qualquer escritor pela musicalidade da sua narrativa ou, o que seria mais natural, a um poeta, que tem a música inscrita nos poemas, não precisando, pois, de recorrer a outsourcing.
Até o Nobel a Dario Fo foi considerado, por muitos, deslocado por não haver um Nobel para o Teatro (tão-só para a dramaturgia, enquanto género literário). E ele era sobretudo um “giullare”, não um importante dramaturgo. E o Sartre recusou, como disse, porque não aceitava ser institucionalizado. Mesmo os Nobel da Literatura a Henri Bergson (1927) ou a Churchill (1953) foram também algo surpreendentes, pelo desvio da norma. E o mais curioso é que este Nobel tenha sido atribuído a Bob Dylan no mesmo dia em que morreu o grande Dario Fo, encenador, actor, dramaturgo, esse grande italiano que se seguiu, em matéria de teatro e de Nobel, a Luigi Pirandello (Nobel em 1934), o fantástico dramaturgo/filósofo cuja genialidade foi descoberta e reflectida em inúmeros textos pelo jovem António Gramsci, outro italiano que teria merecido o Nobel (entre os vinte italianos que já o receberam).
Disse a Secretária da Academia que Bob Dylan “criou uma nova expressão poética no âmbito da tradição da grande canção americana”. Poderia ter dito, como alguém disse: criou “poesia para o ouvido”, que é mais do que dizer que criou “novas expressões poéticas”. Ainda que o registo estético deste órgão, o ouvido, seja, no caso da música, mais o da sonoridade, da fonética ou da rítmica do que o da semântica, sendo certo que a poesia tem ela própria uma musicalidade interior que até pode prescindir da sonoridade expressa. Ma, sim, há música que tem a alma abrigada na poesia que a inspira. O Leonard Cohen também navega por estas águas. Por isso gosto tanto de o ouvir, sobretudo quando pinto. O que é muito frequente.
FINALMENTE
EM SUMA, a Academia sueca voltou, há seis anos, a pôr a música e a poesia na agenda, pondo meio mundo a discutir o valor e o estatuto literário das letras das canções, valorizando a música de intervenção e o papel dos cantautores e repropondo o riquíssimo ambiente libertário e de protesto dos anos e da geração de sessenta. E a valorização deste tipo de música é, de facto, muito importante porque traz à boca de cena o empenho político e social com dimensão de massas, sem dúvida, mas também a sofisticação estética. Ou seja, traz de facto uma revalorização da cidadania no plano estético. Hans-Georg Gadamer, inspirando-se nas “Cartas sobre a Educação Estética do Homem” (1795) de Friedrich Schiller, propôs, em “Verdade e Método” (1960), uma espécie de imperativo categórico estético para a cidadania: “Comporta-te esteticamente”. Ou seja: Age como se a máxima da tua sensibilidade pudesse valer ao mesmo tempo, e sempre, como princípio de uma estética universal.
No momento em que escrevia a primeira versão deste texto, precisamente em Outubro de 2016, a Academia ainda não tinha conseguido contactar Bob Dylan e até houve quem admitisse que poderíamos assistir a um novo caso como o de Sartre, com Dylan a recusar o Nobel para não ser integrado ou institucionalizado. Ou a nem sequer agradecer. Teríamos novo debate à escala planetária. Mas não aconteceu, porque o poeta-músico o aceitou e recebeu, em abril do ano seguinte. E também é verdade que este prémio, por exclusão, acabou por deixar na sombra aqueles que só dispunham da escrita para firmarem publicamente a sua obra. E por isso tinha razão Rainer Maria Rilke naquele Soneto de “Die Sonette an Orpheus” onde diz: “cantar é existir” (“Gesang ist Dasein”). O poeta-cantor Bob Dylan teve o Nobel porque cantou a sua poesia, fez da sua vida um canto permanente. Mas, na realidade, também a escrita pode funcionar neste registo, ou seja, como solução da própria vida, embora sem o mesmo poder expressivo e capacidade de expansão universal. Mas quando estas duas dimensões se conjugam, então, a existência intensifica-se, aprofunda-se e expande-se, podendo acabar… num Nobel. Foi o que aconteceu a Dylan. Que não o recusou. Mas não deixaria de ser talvez ainda mais significativo se houvesse um acto de recusa, pois, como diz o poeta, é na renúncia que melhor se vislumbram os sinais de grandeza. #JAS@06-2022
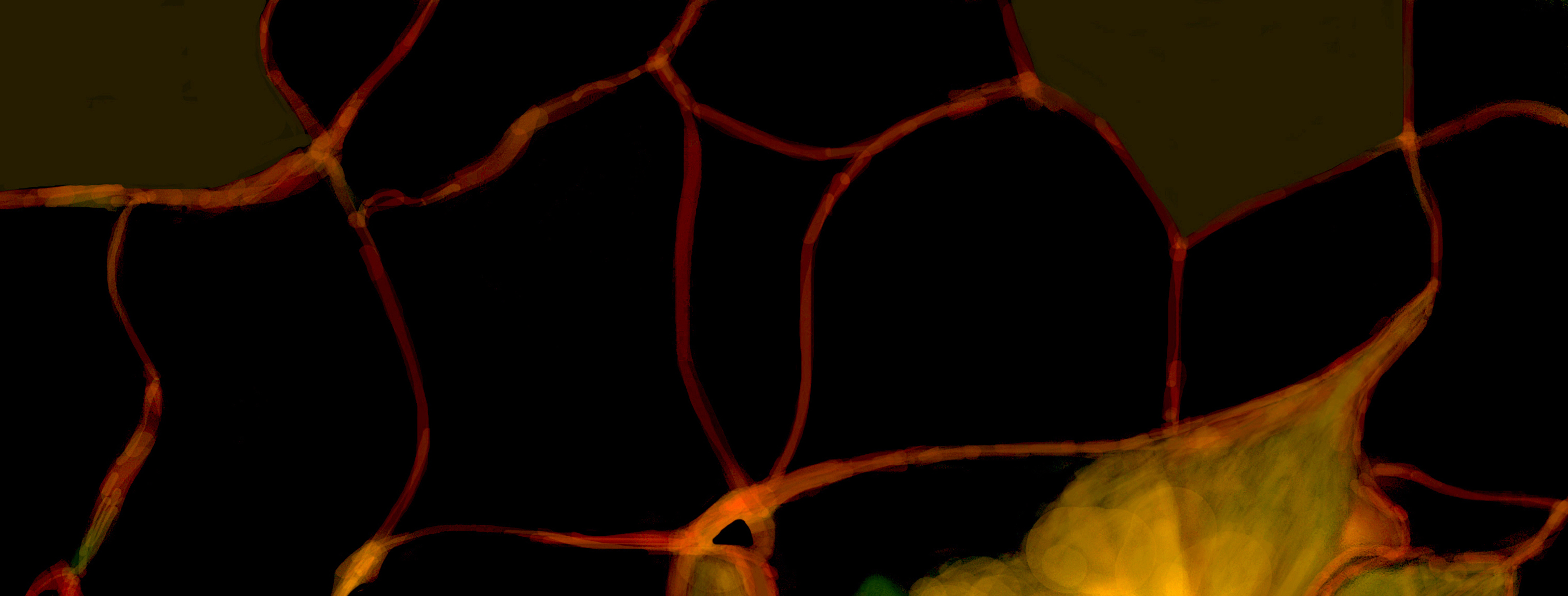
ALGOCRACIA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 06.2022
MÃO AMIGA FEZ-ME CHEGAR, por via digital, um interessante livro de Giovanni Gregorio, investigador na Universidade de Oxford, precisamente sobre o anunciado no título deste artigo: Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society (Cambridge, Cambridge University Press, 2022). O assunto é sério, urgente e interessante. E responde, em parte às questões que têm sido levantadas, designadamente por Shoshana Zuboff, no seu A Era do Capitalismo da Vigilância (Lisboa, Relógio d’Água, 2020), de resto citado no livro (pág. 2). Vejamos.
NOVOS CONCEITOS
O AUTOR usa interessantes conceitos para analisar a sociedade digital e em rede. Vale a pena referir alguns: “algorithmic society”, “algocracy”, “automated decision-making processes”, “digital environment”, “extraction of value from information”, “online platforms vertically order”, “digital capitalism”, “digital liberalism” “modulated democracy”, “constitutionalisation of online spaces”, “functional sovereignity” (que substitui a “territorial sovereignity”). Nos conceitos usados adivinha-se toda uma doutrina avançada sobre esta nova realidade, que muitos teimam em não reconhecer e assumir como algo a considerar muito seriamente, sobretudo nos domínios da política, da comunicação e do direito. “Sociedade algorítmica” – parece ser o conceito que vem substituir o de “sociedade digital e em rede” para indicar uma evolução das TICS e uma maior intervenção social da Inteligência Artificial (IA), o crescimento dos “automated decision-making processes” subtraídos aos normais processos de “accountability”, a montante e a jusante . Tanto que pode dar origem a uma Algocracy, a um sedutor regime do algoritmo, sucedâneo da Democracy. Bastaria para tal dar forma política à “sociedade algorítmica” e à correspondente automatização generalizada dos processos sociais. Uma utopia que parece ao nosso alcance a breve prazo. Outro conceito a registar poderá ser o de “soberania funcional”, uma soberania pós-territorial, global, a das grandes plataformas digitais. Uma soberania diferente, que não reside na nação nem no povo, mas nas grandes plataformas digitais privadas. Ou ainda a extracção da mais-valia, agora não já do trabalho, como em Marx, pelo prolongamento não remunerado da jornada de trabalho (a famosa mais-valia absoluta), mas pela informação acerca perfis dos seus utilizadores/consumidores para futura venda de preditivos comportamentais aos seus novos clientes. Poderia continuar, mas creio que já ficou claro o caminho traçado.
SOBERANIA FUNCIONAL
ESTAMOS, pois, a pisar terreno inovador, muito complexo, polémico e vital. O centro do problema reside na relação entre as grandes plataformas digitais, a cidadania e a autoridade pública, estando cada vez mais as grandes plataformas digitais privadas e globais a interpor-se entre a autoridade pública e a cidadania, gerando o que julgo ser já um problema de “constituency”, de uma nova “constituency”, vista a natureza e o alcance destes poderes privados globais. O conceito de soberania funcional é isso mesmo que indicia. Sim, um problema de “constituency” exactamente como acontece no caso das grandes plataformas financeiras. Diferente, mas equivalente. Se estas actuam perante os Estados endividados como credores protegidos por contratos que intervêm no processo de gestão financeira dos Estados e até nos seus programas de governo (veja-se, como exemplo, o documento assinado – um autêntico programa de governo – entre o governo português e a troika que nos financiou), reivindicando o direito a verem satisfeitos os termos dos contratos de financiamento público, estas plataformas intervêm directamente sobre a cidadania consumidora de produtos digitais, gerindo um vastíssimo espaço social não regulado ou, então, ainda pouco e mal regulado, podendo mesmo, vista a matéria sobre a qual trabalha, condicionar a génese e a constituição do próprio poder político e, por essa via, a condicionar decisivamente os processos de “decision-making” e os programas, a um nível que nunca o velho poder mediático atingiu. A passagem do conceito de mass communication (media) a mass self-communication (rede) dá-nos bem ideia da mudança. Esse terreno foi, por exemplo, e como se sabe, explorado e usado para condicionar a eleição de Donald Trump e para favorecer o BREXIT. Ou seja, foi usado politicamente para instalar no poder determinadas soluções políticas.
As grandes plataformas movem-se num espaço global, interpelam biliões de consumidores, estabelecem códigos não contratualizados com eles e substituem-se aos Estados nacionais numa parte relevante da vida social, assumindo até funções que antes estavam exclusivamente confiadas aos poderes públicos, e têm orçamentos maiores do que muitos Estados nacionais. E, muito importante, intervêm directamente sobre os comportamentos, analisando-os e explorando-os comercial e politicamente. Há como que uma dualidade na relação dos poderes públicos e privados com a cidadania, podendo classificar-se como verdadeira partilha. Só que se uns respondem perante a cidadania, outros exercem directamente uma soberania funcional sem necessidade de prestarem contas, não estando o seu poder dependente de processos electivos. A rede é uma camada que está cada vez mais a sobrepor-se à realidade social e é governada segundo regras que não constam de uma constituição, não estando sujeitas a “accountability”, dispondo de informações sobre os cidadãos considerados individualmente numa dimensão tão profunda que nem os Estados nacionais se lhes podem comparar. Na verdade, esta transferência de funções e poderes para as plataformas digitais não conhece, pois, nenhum tipo de “accountability”, nenhum tipo de controlo, precisamente porque não estão sob a alçada de um constitucionalismo digital e funcional. O constitucionalismo digital constituir-se-ia, assim, como uma reacção aos novos poderes digitais. Reacção que nem é muito difícil de compreender e de aceitar – veja-se, por exemplo, o poder dos vários oligopólios instalados na sociedade portuguesa (operadoras de telecomunicações, redes de distribuição, marcas de combustíveis) e a impotência do cidadão singular perante os ditames destes oligopólios. No caso das plataformas digitais esta dimensão agiganta-se e não só em extensão, mas também em intensidade e em qualidade.
DA SOCIEDADE DIGITAL E EM REDE À SOCIEDADE ALGORÍTMICA
NA VERDADE, se, no início, as grandes plataformas representavam um incomensurável alargamento de direitos, de liberdade de comunicação e de participação nos processos de decision-making da cidadania, centrando-se a relação entre as plataformas e a cidadania exclusivamente neste plano, disputando poder ao establishment mediático para o devolver à cidadania (na figura dos users), depois haveria de se verificar um desvio de função, passando as plataformas a considerar como clientes, não os users, mas as empresas interessadas na determinação da previsão comportamental, tendo aqueles sido transformados em matéria-prima a ser trabalhada para extracção de mais-valia processada a partir da informação acumulada nos servidores e gerida pelas plataformas digitais junto dos seus novos clientes, que tanto podem ser empresas como forças políticas interessadas em sucesso eleitoral.
Como diz o autor: “Este é um livro sobre direitos e poderes na era digital. É uma tentativa de reformular o papel das democracias constitucionais na sociedade da informação ou em rede, que, nos últimos vinte anos, se transmutou em sociedade algorítmica como atual base societal que apresenta grandes plataformas sociais multinacionais ‘situadas entre os Estados-Nação tradicionais e os indivíduos comuns e o uso de algoritmos e de agentes de inteligência artificial para governar populações’” (Gregorio, 2022: 1). Portanto, forças intermédias dotadas de potentes e sofisticados meios de IA para gestão de processos sociais, económicos e comportamentais.
Da “sociedade digital e em rede” à “sociedade algorítmica”, à sociedade governada pelo algoritmo, pela inteligência artificial, através de “automated decision-making processes” que viriam a afectar “os valores constitucionais que sustentam o contrato social”, que superaram a lógica de Vestefália, substituindo a soberania territorial por uma nova soberania funcional desterritorializada e global. É assim que funcionam as grandes plataformas digitais. Como diz, no prefácio Oreste Polliccino, “Giovanni explora a transformação de plataformas online de simples atores económicos em poderes privados capazes de competir com autoridades públicas” (Gregorio, 2022: xiii). A geometria do poder já não se resume a uma relação vertical, mas acontece cada vez mais na relação horizontal que “conecta indivíduos com poderes digitais privados que competem com, e muitas vezes prevalecem sobre, poderes públicos na sociedade algorítmica” (Gregorio, 2022: xiv). Assim sendo, “atores não estatais, corporações privadas e instituições supranacionais de governança contribuem para definir as suas regras e códigos de conduta cujo alcance global se sobrepõe à expressão tradicional do poder soberano nacional” (Gregorio, 2022: 311) – “Google, Facebook, Amazon or Apple are paradigmatic examples of digital forces competing with public authorities in the exercise of powers online. Within this framework, constitutional democracies are increasingly marginalised in the algorithmic society”. Glosando o Michel Foucault de Surveiller et Punir; o autor afirma que “the paradigmatic idea of a public panopticon can be considered one of the primary concerns in the algorithmic society” (2022: 8; 15). É assim que:
“Digital firms are no longer market participants, since they ‘aspire to displace more government roles over time, replacing the logic of territorial sovereignty with functional sovereignty”. “These actors have been already named ‘gatekeepers’ to underline their high degree of control in online spaces. As Mark Zuckerberg stressed, ‘[i]n a lot of ways Facebook is more like a government than a traditional company’” (2022: 17).
Substancialmente, o que acontece é um verdadeiro processo de livre constitucionalização dos espaços online, mas feito por instrumentos de ordenamento privado que moldam o alcance dos direitos e liberdades fundamentais de biliões de pessoas, adotando uma rígida abordagem top-down, sem exigências de accountability. E a pergunta poderia ser a mesma que faz Daniel Innerarity em recente artigo no “El País” (13.05.2022): não dispondo nós ainda de um dispositivo conceptual que nos instrua sobre a natureza do novo espaço digital e o seu significado democrático, teremos de começar por perguntar quem, neste novo universo digital, “é o soberano: o algoritmo, o consumidor ou o Estado?”.
DO PODER ECONÓMICO AO PODER POLÍTICO
JÁ TEMOS QUE CHEGUE. Está, de facto, a emergir uma terceira constituency, depois da dos contribuintes e da dos credores internacionais, que financiam a dívida pública (W. Streeck, em Gekaufte Zeit, Berlin, Suhrkamp, 2013): a das grandes plataformas digitais que paulatinamente vão criando o seu universo societário de acordo com as suas próprias normas, superando o nível económico e atingindo já a dimensão da própria soberania (territorial), a soberania funcional. Basta pensar, como disse, na sua intervenção na eleição de Trump ou no Brexit. Se antes se podiam considerar verdadeiramente tecnologias da libertação relativamente aos poderes públicos instalados e aos poderes que os acompanhavam e reflectiam (o establishment mediático), agora, com a determinação preditiva de comportamentos em larga escala, elas dão lugar a uma intervenção que já supera a mera dimensão económica: “[i]n a lot of ways Facebook is more like a government than a traditional company”. Se antes o poder do establishment mediático já era enorme, colocando-se mesmo em directa competição com o poder político (veja-se o meu Media e Poder, Lisboa, Vega, 2012, pp. 259-264), agora, as plataformas digitais online representam um enorme upgrade, um poder muito mais forte que deve ser constitucionalmente regulado para que “dentro deste modelo, os indivíduos” não se encontrem eles próprios “in a situation which resembles that of a new digital status subjectionis”. Um novo estado de sujeição, súbditos, em vez de cidadãos. Bem pelo contrário, diz, segundo Vestager, podendo ter as plataformas um enorme impacto no modo como vemos o mundo à nossa volta e tornando-se, por isso, um sério desafio à nossa democracia “so we can’t just leave decisions which affect the future of our democracy to be made in the secrecy of a few corporate boardrooms” (2022: 287). Existindo uma regulação constitucional feita pelos poderes públicos através de correctos procedimentos políticos e institucionais seria possível recuperar o primeiro impulso destas tecnologias, valorizando-as como tecnologias de libertação, sem as impedir de desenvolverem o seu processo de acumulação, mas respeitando os direitos e as garantias individuais, sendo certo que elas fornecem à cidadania, aos utilizadores, fantásticos instrumentos de comunicação, de automobilização, de participação e de conhecimento a custo zero e numa escala de liberdade que nunca os media conseguiram atingir. O que naturalmente tem um custo. Que tem, todavia, de corresponder a um “preço justo”. O autor sublinha bem este aspecto positivo das grandes plataformas, mas considera que se torna necessário reconduzir todo o processo à “constituency” originária, aquela que verdadeiramente é a legítima e com dimensão ontológica porque o segundo fôlego das plataformas as levou por um caminho que pode atingir o coração da democracia e daquilo que ela tem de mais sagrado: a ideia de soberania popular (ou da nação) centrada na autodeterminação individual. O que não é possível é os poderes públicos continuarem a proceder como se esta realidade não existisse, emitindo deliberações que são totalmente desprovidas de valor perante estas novas realidades. Por exemplo, se a ERC para reconhecer uma publicação “on line” lhe aplicar os critérios que, no essencial, são aplicáveis às publicações “on paper”, então, a entidade reguladora revelará (mais uma vez) a sua perfeita inutilidade. Mas este é um simples e minúsculo exemplo. De resto, nem me parece que a ERC esteja muito preocupada em compreender este gigantesco universo com o qual nos estamos já a confrontar em larga escala.
CONCLUSÃO
É CLARO que estamos a assistir a um fortíssimo ataque à rede, em especial às redes sociais, por parte daqueles que antes tinham o monopólio do acesso ao espaço público e o monopólio da opinião socializada. Por outro lado, de repente, os radicais descobriram um novo imperialismo, a que chamaram capitalismo da vigilância, evidenciando somente o enorme poder das plataformas on line e imputando-hes o roubo de direitos e de titularidades aos cidadãos. Precisamente aquilo que aqui está em causa e que merece um novo e necessário constitucionalismo digital que possa regular as relações destes poderes quer com os Estados nacionais ou a União Europeia (sobretudo com esta) quer com a cidadania, não se limitando a simples códigos de conduta, como o que já foi (e bem) assinado, nem a disposições legais de aplicação meramente comercial. Como diz o nosso autor, só assim será possível usufruir do melhor que as grandes plataformas digitais podem dar, evitando que deslizem para a produção de lucro puro e duro sem regras nem fronteiras. Mas o que não se deve é ver nelas apenas poder, totalitarismo, capitalismo globalitário e imperialismo digital. História com barbas – o radicalismo reinventa-se sempre para sobreviver, mantendo acesa a velha chama. Como se para ele nada significasse esta enorme possibilidade que o cidadão passou a ter de acesso ao espaço público deliberativo, de se informar sem limites a partir de casa, de se automobilizar sem intermediações, de retirar o monopólio do acesso ao espaço público ao establishment mediático e às respectivas elites (o poder de gatekeeping), de se protagonizar singularmente e de se organizar autonomamente através de plataformas livres que possibilitam uma eficaz conectividade democrática bottom-up em condições de promover uma autêntica democracia deliberativa. Sim, tudo isto. Mas, sim, também à necessidade de se construir um novo constitucionalismo digital à escala europeia (a que melhor pode dialogar com as poderosas plataformas digitais) que, interpelando com seriedade estas plataformas para promover uma resposta integrada às ameaças e aos riscos, dê maior protagonismo digital aos Estados nacionais e à União, inovando politicamente para melhor consolidar e aprofundar a ainda jovem democracia representativa, hoje seriamente ameaçada por forças que, à esquerda e à direita, vêem na sua matriz liberal originária o inimigo a abater. “The rise of European digital constitutionalism”, diz Gregorio, “can also be read as a reaction against the power of online platforms to set their values on a global scale on a discretionary basis” (2022: 287). Mas reacção como uma “terceira via” entre humanismo digital e capitalismo digital (2022: 284) – uma Europa consciente do papel que a IA pode representar para o progresso e o próprio empoderamento da cidadania, mas também dos riscos de concentração de poder sem controlo, não só do ponto de vista da caça ao lucro desmesurado e desumano, mas também de um poder capaz de condicionar decisivamente o curso da democracia e até mesmo de a destruir. A famosa transição digital tem de contemplar não só os progressos da IA, assumindo um protagonismo que lhe tem faltado e promovendo um fortíssimo investimento nesta área, designadamente na infraestruturação das redes digitais, na construção de próprios motores de busca e na literacia digital, mas terá também de integrar esta revolução num novo paradigma constitucional que a reconduza aos parâmetros e às exigências da democracia representativa ou deliberativa. A ideia de um constitucionalismo digital europeu é fundamental sobretudo porque estamos a falar de poderes muito fortes e muito sensíveis e num terreno onde tem faltado não só regulação, mas também sensibilidade constitucional para a desenvolver. #Jas@06-2022.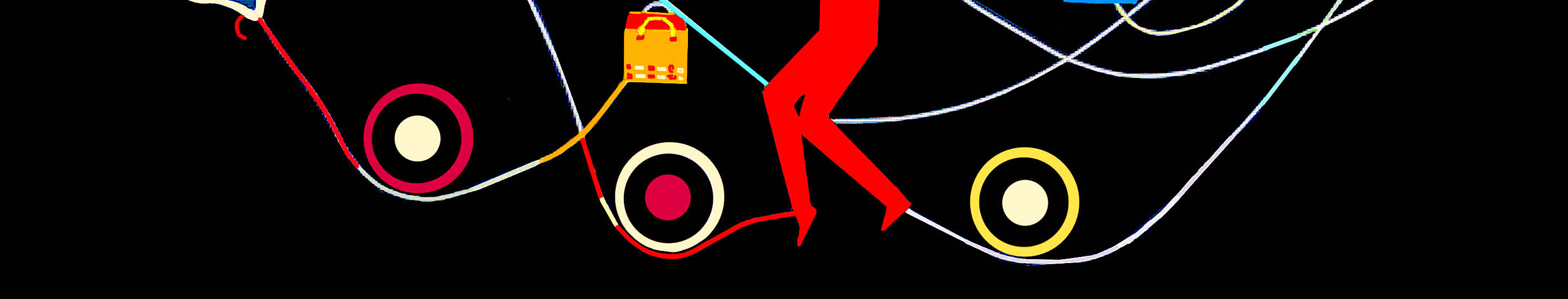
A POLÍTICA DELIBERATIVA
AFINAL, O QUE É?
Por João de Almeida Santos
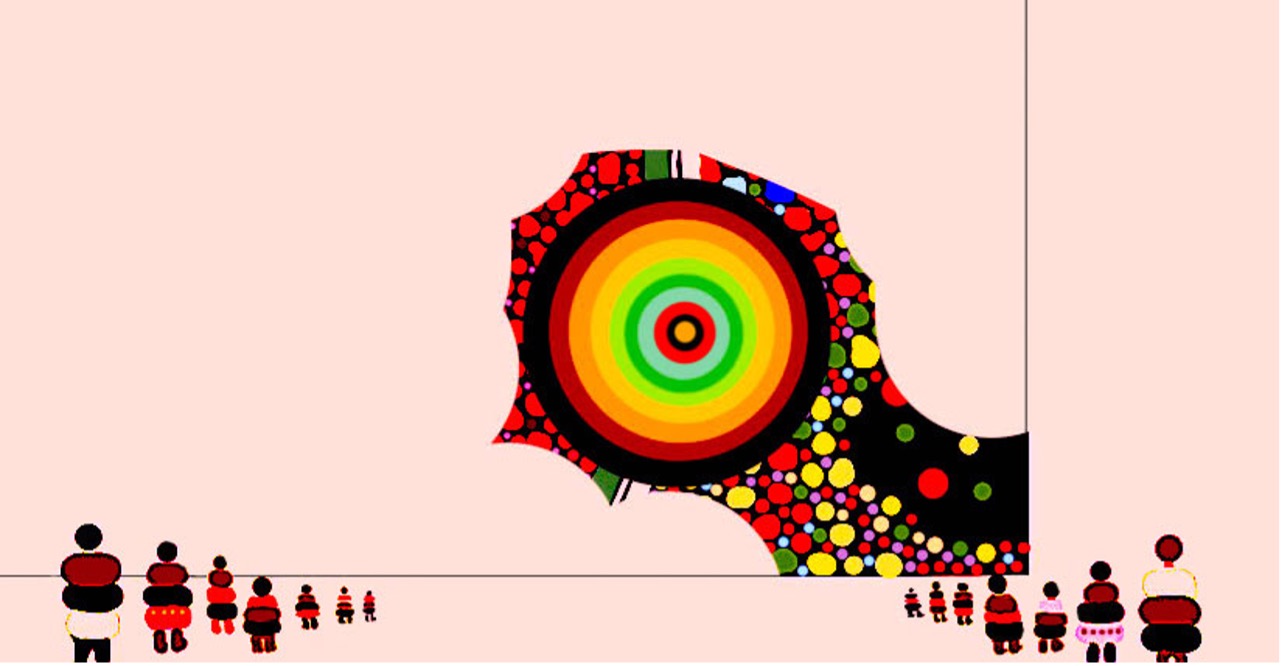
“S/Título”. Jas. 05.2022
QUANDO SE CONSULTA a bibliografia sobre a política deliberativa e a democracia deliberativa quase sempre se constata que o que circula é uma visão muito restritiva, ficando-se quase sempre por experiências de democracia participativa ou pela experiência dos Deliberative Polls, de James Fishkin (veja-se List, Luskin, Fishkin, McLean, 2012). Experiências de cidadãos escolhidos para, em duas fases, se pronunciarem sobre um mesmo tema, um antes de informação e de debate e outro depois de informação e de debate. As posições tendem a ser alteradas depois de adquirida mais informação e mais diálogo sobre o tema. Só que a questão da política deliberativa é muito mais ampla e inscreve-se na própria história da política e da democracia, dos gregos a hoje, mas sobretudo desde a instauração do sistema representativo e, depois, do sufrágio universal. Acresce que, hoje, com a rede, a situação ainda se aprofundou mais. Na verdade, a rede veio produzir uma tal transformação nos processos sociais, designadamente no crescimento do chamado espaço público deliberativo̧o público deliberativo, um espaço de tipo intermédio onde acontece a relação entre cidadão e poder, sem intermediações de carácter orgânico, que é possível afirmar que, finalmente, superada a fase da exclusividade ou monopólio da intermediação, a democracia representativa pode vir a ser aproximada daquela que era a sua matriz representativa original, ou seja, a da centralidade do indivíduo/cidadão a que corresponde um sistema de poder (político ou comunicacional) mais transparente e mais participado e com menor índice de intermediação̧a. Esta será uma democracia deliberativa porque resulta da superação da cisão originária, da separação, do “sulco” entre cidadania e poder, através do crescimento do espaço intermédio como espaço público deliberativo̧o público deliberativo. O vazio inicial entre as instâncias do poder e a cidadania, esse espaço intermédio, foi sendo ocupado progressivamente pelos meios e canais de comunicação até se tornar um território de conquista da cidadania, subtraindo-o ao monopólio dos media e à exclusividade da mediação partidária. Não se trata, como é evidente, de uma experiência de democracia directa, como o referendo, por exemplo, porque se inscreve plenamente na matriz do sistema representativo, acrescentando, todavia, novas e mais profundas exigências ao processo decisional, ancoradas numa alteração profunda da identidade da cidadania.
A DELIBERAÇÃO NA HISTÓRIA
VALE, POIS, A PENA começar por me deter um pouco no conceito de democracia deliberativa (1). Que não é, de facto, coisa nova.
1. Na “Política” de Aristóteles (Aristóteles, 1998), no capítulo sobre “As magistraturas deliberativas”, o conceito está claramente formulado:
“Todos os regimes (políticos) constam de três partes (…). Uma dessas três partes relaciona-se com a deliberação (tò bouleuómenon) sobre assuntos que dizem respeito à comunidade. (…) Compete à função deliberativa decidir de modo supremo sobre a declaração de guerra e de paz, as alianças e a quebra dos pactos; sobre as leis; sobre a condenação à morte, o exílio e a expropriação de bens; sobre a escolha para os cargos de magistratura e a fiscalização das contas públicas. Todas estas decisões estão necessariamente sob a alçada, ou de todos os cidadãos, ou só de um certo número deles (neste caso, as decisões podem ser da competência ou de uma magistratura só ou de várias; ou, então, umas serão da competência de certas magistraturas e outras da competência de outras); ou ainda, uma sob a alçada de todos os cidadãos, enquanto outras apenas sob a alçada de alguns. É próprio do espírito democrático o procedimento segundo o qual todos decidem acerca de todas as questões que se referem à comunidade. É, de facto, o povo quem mais procura essa espécie de igualdade (…) Quando a participação na função deliberativa não está ao alcance de todos, mas só dos que foram eleitos, e se estes governam de acordo com a lei da mesma forma que na situação precedente, então estamos perante um procedimento oligárquico (…). Ainda assim, a decisão seria melhor se todos deliberassem em comunidade: o povo (dêmos) com os notáveis, e estes com a multidão (plêthous)” (itálico meu) (2).
O substantivo proboúleuma (-tos), deliberação, deriva de boulê, a mesma palavra usada para designar o Conselho dos Quinhentos, a Boulê (3), criada por Clístenes, que preparava as Assembleias, competindo-lhe a função deliberativa̧ão deliberativ, ou seja, emitir parecer (proboúleuma) (4), obrigatório (5), que era submetido à Assembleia.
Do que se lê no texto de Aristóteles sobre a matéria pode evidenciar-se o seguinte:
- Uma das três partes do regime democrático ateniense refere-se à deliberação (tò bouleuómenon) sobre assuntos que dizem respeito à comunidade: decidir de modo supremo sobre a declaração de guerra e de paz, as alianças e a quebra dos pactos; sobre as leis; sobre a condenação à morte, o exílio e a expropriação de bens; sobre a escolha para os cargos de magistratura e a fiscalização das contas públicas – nisto consiste a função deliberativa, ou seja, a deliberação sobre assuntos essenciais;
- a melhor decisão, segundo Aristóteles, é a que resulta da deliberação em comunidade: o povo (dêmos) com os notáveis e, estes, com a multidão (plêthous);
- a melhor decisão é, pois, a que é preparada pela Boulê e deliberada pelo povo (os cidadãos, polítai, sob forma de Assembleia).
Podemos, pois, dizer que a democracia deliberativa já existia em Atenas (e nas colónias) e que se consubstanciava num processo de amadurecimento democrático da decisão, através de um processo deliberativo. A própria figura da deliberação (proboúleuma) conhece em Atenas um ancoramento institucional num órgão que tem o mesmo nome, Boulê, e cujo verbo, bouleúo, significa precisamente deliberar, aconselhar, reflectir, pensar. A política associada a um procedimento racional e argumentativo.
Esta preparação da decisão acontecia num regime de democracia directa para posterior decisão da assembleia, constituída pelos polítai, e excluídos os escravos, os estrangeiros e as mulheres. No sistema representativo, acontecerá uma inversão de papéis, sendo a cidadania a intervir para melhorar não só a qualidade da decisão dos representantes, mas também a sua transparência. Este duplo processo (deliberativo e decisional) manter-se-á ao longo dos tempos, como veremos, ainda que com a evolução da comunicação o processo tenha ganho maior acuidade e importância, dando origem àquilo que conhecemos como política deliberativa e democracia deliberativa.
2. Se consultarmos a Enciclopédia de Diderot e D’Alembert (1751-1772) encontraremos a ideia de deliberação em múltiplos sentidos, inclusivamente, neste caso, de délibératif: “en termes de suffrages”: “signifie le droit qu’une personne a de dire son avis dans une assemblée, & d’y voter” (Diderot & D’Alembert, 1751) (6). O processo deliberativo é aplicável às várias formas de associação, funciona segundo regras prévias, de tempo, para assuntos relevantes e visa melhorar as decisões sobre a vida da comunidade.
3. Em 1774, Edmund Burke pronunciou um discurso, “Speech to the electors of Bristol” (03.11.1774), onde definia o Parlamento britânico como uma “assembleia deliberativa”:
But government and legislation are matters of reason and judgment, and not of inclination; and what sort of reason is that, in which the determination precedes the discussion; in which one set of men deliberate, and another decide; and where those who form the conclusion are perhaps three hundred miles distant from those who hear the arguments?” (…) “Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates; but parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole; where, not local purposes, not local prejudices, ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole” (7).
Governo e legislação são assuntos de razão e juízo; a decisão não pode estar separada da deliberação, da discussão, da argumentação; o parlamento é uma assembleia deliberativa e visa o bem geral, que resulta da razão geral do todo. A decisão também aqui implica um processo deliberativo prévio em instâncias deliberativas (e não executivas), como é o caso do Parlamento.
4. Se, depois, consultarmos um bom dicionário de política do século XIX, por exemplo, o que foi organizado por Maurice Block e publicado em 1864, Dicionário Geral de Política (Block, 1864), veremos que “dans les affaires publiques, toute décision importante doit être le résultat d’une délibération, c’est à dire d’une réflexion en commun, contradictoire, d’une discussion”. O processo deliberativo – diferente do processo consultivo – é essencial para se obter uma boa decisão política para a comunidade.
5. Já no século XX, Walter Lippmann, na obra Public Opinion (Lippmann, 1922), define as bases necessárias para evoluir para uma democracia de tipo deliberativo, fundada não sobre as origens do poder – como era habitual –, mas sobre a legitimidade de exercício ou, como eu prefiro, sobre a legitimidade flutuante, ou seja, sobre a necessidade de ancorar o exercício do poder num processo de tipo deliberativo, onde as decisões mereçam um consenso activo por parte da cidadania, não só como controlo, mas também como construção de um espaço público deliberativo onde deliberar acerca das matérias decisivas para a comunidade, em fase de decisão (Santos, 2017), repondo, de algum modo, aquela que era a inspiração ateniense e aristotélica originária.
6. Um grande impulso à ideia de uma democracia deliberativa foi dado por Jürgen Habermas, em 1992, na obra “Faktizität und Geltung. Beiträge zur Discurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats”, tendo-lhe dedicado explicitamente o capítulo “A política deliberativa como conceito procedimental da democracia” e um outro sobre “Sociedade civil e esfera pública política”, em torno da mesma problemática (Habermas, 1996).
Segundo Habermas, uma política deliberativa deve conter elementos da concepção liberal e da concepção republicana, valorizando simultaneamente a sociedade civil e a dimensão política de Estado. Se a primeira centrava na sociedade civil o bem comum, e não na esfera política (veja-se Constant, 1819), e considerava inultrapassável e ineliminável o “sulco entre aparelho estatal e sociedade”, e a segunda considerava a sociedade como “comunidade ética politicamente institucionalizada” (Habermas, 1996, pp. 352 e 350), para a terceira, ou seja, para a política deliberativa, apoiada numa teoria do discurso, “a razão prática já não reside nos direitos universais do homem ou na substância ética de uma comunidade particular, mas sim naquelas regras de discurso e formas argumentativas que derivam o seu conteúdo normativo da base de validade do agir orientado ao consenso, portanto – em última instância – da estrutura da comunicação linguística e do ordenamento insubstituível de uma socialização comunicativa” (1996, p. 351; itálico meu). Assim sendo, “o sucesso da política deliberativa não depende do agir unânime da cidadania, mas da institucionalização de correspondentes procedimentos e pressupostos comunicativos e da interacção das consultas institucionalizadas com as opiniões públicas informais”. A teoria do discurso, que subjaz à política deliberativa, visa “a intersubjectividade de grau superior, que caracteriza os processos de consenso que se concretizam nos procedimentos democráticos ou na rede comunicativa das esferas públicas políticas” (1996, p. 353). Habermas, nesta sua incursão pela política deliberativa, conclui que a “formação democrática da opinião e da vontade” não deve limitar-se “a controlar a posteriori o exercício do poder político, mas conseguir também (com maior ou menor sucesso) programá-lo” (1996, p. 355; itálico meu). Deste modo, as estruturas comunicativas da esfera pública não comandam, mas controlam e influenciam a orientação do poder administrativo.
O que aqui se verifica, na linha da política deliberativa, embora de forma pouco mais que acenada ou mesmo fragmentária, é o reconhecimento de um “sulco” entre sociedade e Estado que urge preencher a partir da sociedade civil, designadamente através do accionamento das estruturas comunicativas da esfera pública, de modo a influenciar a decisão política, ou seja, a ir mais além do mero controlo do exercício do poder, intervindo sobre a “programação”, logo, directamente sobre o processo decisional. Neste sentido, o agir comunicativo desempenha aqui uma função essencial, todavia, ainda num sentido algo limitado, mas claro, relativamente às exigências de tipo deliberativo.
O ESPAÇO INTERMÉDIO, OS MEDIA,
A REDE E A DELIBERAÇÃO
NA VERDADE, e é isto que é preciso sublinhar, o que se verificou entre o século XVIII e o século XXI foi uma evolução do espaço intermédio (veja-se Tagliagambe, 2009), no início, aquele “sulco” ineliminável de que fala Habermas e cuja superação implicava o “breach of privilege”, tendo como consequência a prisão de quem o superasse, pois era proibido relatar o que acontecia nas instâncias do poder. Pelo menos até pouco depois de meados do século XVIII, era crime relatar o que se passava no Parlamento inglês, o que viria dar origem à literatura Lilliput (8). Entre o palácio e a rua não havia comunicação. Uma vez eleitos os representantes – aliás, por uma parte ínfima da população, vista a vigência do regime censitário –, a comunicação interrompia-se e ficava sujeita à alçada da lei.
Foi o crescimento da imprensa política e a sua autonomização relativamente ao poder que deu origem à lenta, mas progressiva ocupação deste espaço intermédio, até porque com a progressiva adopção do sufrágio universal se tornou necessário manter informados os inúmeros eleitores. Temos assim uma evolução que vai da imprensa à rádio e à televisão, com a crescente ocupação do espaço intermédio e a entrada em cena de milhões e milhões de pessoas que se informavam e votavam. Ou seja, este “sulco” originário foi sendo progressivamente transposto pela cidadania mediante informação acerca do exercício do poder proveniente dos mass media. Numa primeira fase, nos fins do século XIX e na primeira metade do século XX, na verdade, a informação política para fins eleitorais quase se identificava com exercício de propaganda política, sendo a participação dominada pela ideia de pertença ideológica̧a ideológica, mais do que por informação acerca do exercício concreto do poder (veja-se Manin, 1995, pp. 247-308). A imposição de ditaduras na Europa entre guerras viria reforçar esta ideia. Por isso, esta situação ou, melhor, esta exclusividade da participação política fundada no sentimento de pertença só começaria a ser ultrapassada na segunda metade do século XX, com a expansão das fontes de informação, sobretudo da televisão, que haveria de se tornar o “príncipe dos media”, a ponto de capturar o essencial da comunicação política e de, sobretudo a partir dos anos 50, com o nascimento do marketing político, impor as próprias regras de comunicação aos agentes activos da política. Esta evolução haveria de influenciar de tal modo a democracia representativa que esta acabaria por assumir, espelhando a realidade, a designação de “democracia do público” ou “democracia de opinião” (Manin, 1995; Minc, 1995). De qualquer modo, esta evolução viria a produzir mudanças de fundo nas relações entre a cidadania e a política. Em primeiro lugar, verificou-se uma crescente perda de influência da participação por “sentimento de pertença”, não só porque a informação começou a chegar de forma mais alargada à cidadania, mas também porque se verificou uma crescente perda de influência das ideologias políticas, em parte devido à desnatação ideológica dos grandes partidos de alternância ao transformarem-se em catch-all-parties. A expansão da informação e a quebra na tensão ideológica da política iriam, pois, provocar uma alteração substantiva na relação entre a cidadania e o poder, passando a participação política por “sentimento de pertença” a ser partilhada com uma participação centrada na informação e agora vocacionada para o controlo do exercício do poder (sobretudo através dos media), a que se seguiria, depois, uma participação já não só de controlo, mas também de intervenção política propositiva, cumprindo-se assim uma evolução estrutural que haveria de levar à formulação da chamada democracia deliberativa. Completa-se, assim, a superação desse “sulco” entre a sociedade e o Estado, desse espaço intermédio, através do seu “enchimento”, ou seja, a sua conversão em espaço público deliberativo.
Na verdade, do que se trata é de uma progressiva superação desse “sulco” vazio, desse espaço intermédio inacessível por um espaço público deliberativo que foi ganhando qualidades emergentes à medida que o subsistema comunicacional o ia ocupando com novas funções de controlo e de “programação”, a que já fiz referência. Emerge deste modo uma nova realidade no quadro do sistema representativo que não estava inscrita na sua matriz originária, concebida que fora no quadro do regime censitário, com o poder a ser exercido pelas elites e com o próprio voto a ser sujeito a critérios económico-financeiros9. Só o sufrágio universal e a introdução da chamada “democracia de partidos” viriam introduzir a exigência de uma progressiva ocupação do espaço intermédio. Ocupação que dera os seus primeiros e condicionados passos já no século XVIII.
E, todavia, até à chegada da rede, toda esta evolução estava sujeita a um processo de intermediação política e comunicacional, onde a cidadania delegava duas vezes a sua soberania. Em primeiro lugar, no sistema de partidos e, em segundo lugar, no Parlamento. Esta delegação acontecia também no plano da comunicação uma vez que os mass media passaram a ter a função – protegida constitucional, legal e corporativamente – de intermediar a representação social, em nome da cidadania, como função orgânica da sociedade e espaço público reconhecido e gerido pelos chamados gatekeepers, autênticos filtros da opinião pública. Por isso, foram designados como quarto poder, apesar de, na verdade, ocuparem uma posição cimeira na hierarquia dos poderes. Veja-se, por exemplo, e já no século XIX, o que diz Alexis de Tocqueville, em “Da democracia na América”: “Nos Estados Unidos, cada jornal tem, por si só, pouco poder; mas a imprensa periódica é ainda, depois do povo, o primeiro dos poderes” (2001, p. 231). Mas, por isso mesmo, também são protegidos pelas constituições, pelas declarações de direitos e pela lei.
É claro que este processo de intermediação constituiu um gigantesco passo em frente na promoção da literacia política, da participação e do funcionamento do sistema político representativo, durante o século XX e, em especial, na sua segunda metade. Mas o sistema, no seu processo evolutivo, haveria de conhecer tendências negativas que o afastariam da cidadania, gerando endogamia partidária, indiferença política (Santos, 1998, p. 111-137), perda de contacto com a sociedade e fragmentação dos sistemas de partidos, com emergência de novos partidos que procuravam responder às expectativas frustradas pelo establishment partidário. Ou seja, o que se verificou foi uma clara inversão no processo de representação: os partidos, que surgiram para organizar politicamente a sociedade civil, deixaram de estar ancorados nela para passarem a estar ancorados no Estado, retroagindo, depois, instrumentalmente, sobre ela para efeitos meramente eleitorais e para garantirem sustentabilidade financeira, ocupação da máquina do Estado e hegemonia política.
A rede veio, depois, introduzir uma mudança radical neste processo uma vez que iniciou um poderoso processo de desintermediação da política e da comunicação, devolvendo soberania à cidadania, dotando-a de instrumentos capazes de promover auto-organização e automobilização política e comunicacional, reforçando fortemente o espaço público deliberativo e substituindo a velha mass communication por uma mass self-communication que vê emergir o indivíduo singular com maior protagonismo e capacidade de autónoma intervenção no espaço público deliberativo. Tudo isto tem consequências que a política deve reconhecer e, mais do que isso, metabolizar.
RISCOS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES
É CLARO que neste processo de desintermediação da política e da comunicação há riscos, mas as oportunidades de regeneração do sistema representativo, no sentido que indiquei e como resposta ao fechamento do sistema, são maiores do que as ameaças.
1. Num longo ensaio, É tempo de desmantelar o Facebook, publicado originariamente no New York Times, Chris Hughes (Hughes, 2019), cofundador do Facebook, sobre esta rede social, o Whatsapp e o Instagram, propõe, de facto, o desmantelamento desta plataforma, numa posição que talvez possa ser considerada demasiado radical para uma plataforma que veio dar voz a quem a não tinha e que, afinal, não encontra correspondência noutros grandes grupos multinacionais com orçamentos superiores aos de muitos Estados nacionais. Francisco Louçã concorda com o desmantelamento, em artigo publicado no Expresso (Louçã, 2019), devido ao excesso de poder concentrado nesta plataforma, seguindo, nisso, Ted Cruz e Elizabeth Warren, referindo o historial de desmantelamentos americanos de outros monopólios (e a Lei Sherman) e concluindo que, depois de Zuckerberg ter manifestado querer criar a sua própria moeda Facebook e, ainda, visto o escândalo da Cambridge Analytica (veja-se Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E., 2018), chegou o tempo de parar o patrão do Facebook. Mas, digo eu, talvez não tenha chegado este tempo, não só porque estes desmantelamentos não tiveram, como se sabe, o efeito que fora invocado para os accionar, mas sobretudo porque não é tempo de acabar com plataformas digitais que vieram dar espaço de liberdade aos cidadãos como nunca acontecera, podendo também tornar-se instrumentos de libertação da cidadania relativamente a outros oligopólios como as televisões e os outros grandes meios de comunicação, bem menos democráticos que a rede e bem mais amigos do poder instalado, constituindo mesmo a outra face do mesmo poder (veja-se Blasio e Sorice, 2020). De resto, as críticas às redes sociais têm sido, como é sabido, promovidas precisamente pelos poderes (individuais e organizacionais) instalados, ao verem ameaçado o seu monopólio de acesso e de gestão do espaço público deliberativo. Mas concordo, isso sim, na necessidade de regular as redes sociais, impedindo que um poder excessivo, político e comunicacional fique concentrado numa só pessoa, que Hughes, neste caso, identifica como o de Mark Zuckerberg.
Entretanto, e neste sentido, na União Europeia, a Comissão assinou e activou um código de conduta com as grandes plataformas por ocasião das eleições europeias de Maio de 2019, o que foi um passo importante para regular a circulação da informação na rede, designadamente nas redes sociais, libertando as suas potencialidades para alimentar uma democracia deliberativa que possa relançar o sistema representativo, devolver poder ao cidadão, evitar a tendência endogâmica dos partidos, melhorar a qualidade e a transparência da decisão e promover uma cidadania activa e mais interventiva, mais e melhor informada e mais culta. Tudo no quadro da democracia representativa.
2. Na verdade, a emergência da rede veio alterar significativamente o quadro em que se passou a processar a comunicação e a própria política, o quadro com que operavam as chamadas teorias dos efeitos, e designadamente a teoria do agenda-setting, todas elas pensadas sobretudo para o modelo mediático de comunicação, para o broadcasting, o eixo emissor-receptor, o modelo vertical e hierarquizado de comunicação, a mass communication. E veio alterar porque o eixo da comunicação mudou, dando lugar a um novo eixo de tipo horizontal, não hierárquico e relacional, onde a comunicação ocorre entre variáveis independentes num gigantesco espaço intermédio e onde a mass communication deu lugar à mass self-communication, a uma comunicação individual de massas, centrada num sujeito de múltiplas pertenças e dotado de eficazes instrumentos e canais de duplo acesso (como receptor e como emissor) ao espaço público deliberativo, de que antes não dispunha (veja-se Castells, 2007; 2011; 2012) . Ou seja, no quadro do novo modelo comunicacional já não há o receptor puro, mas sim um receptor que é simultaneamente emissor, dando lugar àquele que hoje já começa a ser designado por cidadão prosumer, cidadão produtor e consumidor de comunicação e de política. Em tese, um cidadão mais interveniente, menos passivo e, logo, menos sujeito ao diktat do emissor, ao gatekeeping, ao spinning e à comunicação instrumental, até porque a sua actividade se inscreve cada vez mais numa lógica de conectividade, bottom-up (veja-se a entrevista, em linha com o que aqui defendo, de Daniel Innerarity, ao “Público, de 17.05.2022, pp. 18-19). É claro que já existia, pelo menos, uma linha teórica, no âmbito das teorias dos efeitos, que atribuía uma função mais activa ao receptor, embora ainda no quadro da comunicação broadcasting – a teoria dos “usos e gratificações” (10). Sem dúvida. Mas, com a rede, o activismo do receptor passa a ser de outra natureza, visto que assume a forma de prosumer, simultaneamente receptor e emissor, em condições, pois, de devolver as mensagens ao emissor. Ou seja, o poder de agendamento está hoje ao alcance de um cidadão que antes não dispunha dos meios para o fazer e, por isso mesmo, a capacidade de polarização da atenção social e o poder sobre o acesso ao espaço público deliberativo deixaram de ser monopólio do establishment mediático (poder de gatekeeping) para passarem a ser partilhados com o poder diluído emergente no sistema-rede (Álvarez, 2005). Estas profundas levam necessariamente a uma evolução que corresponde exactamente ao que se entende por política deliberativa.
3. Do que se trata, pois, neste novo paradigma, que se adequa plenamente à proposta da política deliberativa e da democracia deliberativa, é de uma nova localização do cidadão no sistema, neste processo de desintermediação da comunicação e da política, havendo, pois, que redefinir o quadro de referência para a determinação da natureza do subsistema comunicacional e dos seus efeitos nos processos políticos e, consequentemente, que proceder também a uma revisão do quadro conceptual das próprias teorias dos efeitos, à semelhança do que já está a acontecer com o marketing digital ou marketing 4.0 (Kotler, 2017), e, consequentemente, da própria política. O que, na verdade, se verificou foi uma novidade radical: a emergência de um espaço intermédio como livre espaço público deliberativo, não sujeito ao monopólio do gatekeeping, e de uma nova ontologia da relação vieram alterar o sistema em aspectos absolutamente decisivos, gerando qualidades emergentes que a política e as próprias teorias dos efeitos (assentes no modelo vertical emissor-receptor) terão que metabolizar conceptualmente se quiserem compreender as novas mecânicas dos processos políticos e o ambiente em que eles se processam. E é, naturalmente, neste quadro que se inscreve a própria ideia de democracia deliberativa.
CONCLUSÃO
DE QUALQUER MODO, já existem experiências políticas concretas onde o digital e as mudanças estruturais por ele induzidas ocupam um lugar de destaque, devendo, por isso, ser avaliadas do ponto de vista da relação entre a cidadania e o sistema, quer no plano da comunicação quer no plano da política.
Falo de experiências negativas, como as que viram a Cambridge Analytica envolvida na manipulação de dezenas de milhões de dados de users, nos casos americano e inglês, mas falo também do uso inteligente e legítimo que foi feito nas duas campanhas de Barack Obama (Castells, 2011; e Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E., 2018). E falo sobretudo da experiência italiana do MoVimento5Stelle, apesar de se encontrar agora em graves dificuldades políticas, depois das eleições europeias de 2019 (11). Experiência importante de uma formação política de matriz digital e de tipo neopopulista que soube capitalizar o consenso para chegar ao poder como primeira força política (32,7%, em 2018), mas que, depois, não soube concretizar as suas propostas, vendo-se, primeiro, ultrapassada pela Lega (por exemplo, nas eleições europeias), numa autêntica inversão de resultados no arco de um ano, e, depois, pelo Partito Democratico e por Fratelli d’Italia, mantendo-se hoje, nas sondagens, como o quarto partido italiano. Exemplo: o modo como lidou com a sua própria proposta sobre a cidadania digital, uma âncora estatutária e ideal do M5S.
Poderia aqui falar também das grandes plataformas digitais que mobilizam milhões de cidadãos numa lógica bottom-up, centradas na conectividade, e que já disputam influência aos grandes partidos tradicionais, mas sobre esta ideia já tive oportunidade de discorrer no capítulo VI do livro Política e Democracia na Era Digital: “Conectividade – Uma chave para a política do futuro” (Santos, 2020a). Na verdade, estamos perante uma profunda mudança nos processos políticos que é necessário metabolizar porque, entre ameaças e oportunidades, a possibilidade de melhorar a democracia representativa é real. Mas, para isso, é preciso reconhecer o caminho percorrido de modo a detectar a real evolução das sociedades nas suas formas de autogoverno, o que funcionou bem e os desvios, as mudanças estruturais e os seus efeitos sobre a política e a comunicação. Este reconhecimento é fundamental para dar resposta às novas exigências e, no meu entendimento, a democracia deliberativa é a melhor resposta aos desafios que se estão a pôr à democracia representativa, não só porque esse é, como vimos, o sentido para que aponta a evolução da política desde que foi criado o sistema representativo, mas também porque a evolução da tecnologia para aí converge também, enquanto facilita o empoderamento comunicacional e político da cidadania e lhe permite um autogoverno mais esclarecido e informado. É este o quadro em que se processa a política democrática e à qual a designação que melhor lhe corresponde é a de “política deliberativa” porque ela qualifica o sistema sem desvirtuar a sua estrutura representativa.
REFERÊNCIAS
* Para uma análise mais aprofundada veja-se Santos, J. A. (2020), A política, o digital e a democracia deliberativa. In (2020) Camponez, C, Ferreira, G. e Rodriguez, R.. Estudos do Agendamento. Covilhã: Labcom/UBI, pp. 137-167.
Álvarez, J. T (2005). Gestión del poder diluido. La construcción de la sociedad mediática (1989-2004). Madrid: Pearson.
Aristóteles (1998). Política (Edição Bilingue). Lisboa: Vega.Blasio, E., e Sorice, M. (2020). O partido-plataforma entre despolitização e novas formas de participação: que possibilidades para a esquerda na Europa. In Santos, (2020: 71-101).
Block. M. (1864). Dictionnaire général de la politique. Paris: O. Lorenz, Libraire Éditeur.
Burke, E. (1774). Speech to the electors of Bristol. Consultado e, 1 de julho de 2019, em
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html. (Acesso: 02.05.20).
Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E. (2018). The Cambridge Analytica Files. The Guardian. Consultado a 17 de março de 2019, em https:// http://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files.
Castells, M. (2012). “La politica in ritardo nell’Era dell’Internet”. Reset (17.01) – Consultado a 19 de Agosto de 2019 em https://www.reset.it/caffe- europa/la-politica-in-ritardo-nellera-di-internet.
Castells, M. (2011). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.
Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. International Journal of Communication, 1, 238-266.
Constant, B. (1819). Discours sur la Liberté des Antiques comparée à celle des Modernes. In https://www.panarchy.org/constant/liberte.1819.html. Consultado a 24.05.2022.
Constitution Française de 1791. Consultado a 24.05.2022, em https:// http://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/ constitution-de-1791.
Diderot, D., & D’Alembert, J. R. (Org.) (1751). Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris: Le Breton (Tome 12). consultado a 24.05.2022, em https://fr.wikisource.org/ wiki/L’Encyclopédie/1re_édition/PEINE
Habermas, (1996). Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del Diritto e della democrazia. Milano: Guerini e Associati.
Hughes, Chris (2019). É tempo de desmantelar o Facebook. Expresso. Consultado a 25 de maio de 2020, em https://expresso.pt/sociedade/2019-05-25-E-tempo-de-desmantelar-o-Facebook.
Kotler, Ph., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0. New Jersey: Wiley.Lipmann, W. (1922). Public opinion. New York: Macmillan.
Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York: Macmillan.
List, Christian and Luskin, Robert and Fishkin, James and McLean, Iain (2012). Deliberation, single-peakedness, and the possibility of meaningful democracy: evidence from deliberative polls. The journal of politics . ISSN 0022-3816. © 2012 Cambridge University Press.
Louçã, F. (2019). Porque é necessário desmantelar o Facebook. In Expresso, 08.06.2019.
Manin, B. (1995). Principes du gouvernement représentatif. Paris: Flammarion.
Minc, A. (1995). L’ivresse démocratique. Paris: Gallimard
Santos, J. A. (2020) (Org.). Política e democracia na Era Digital. Lisboa: Parsifal.
Santos, J. A. (2020b). Conectividade – Uma Chave para a Política do Futuro. In Santos, 2020, 133-153. Lisboa: Parsifal.
Santos, J. A. (2018). O Nacional-Populismo já tem um Ideólogo: Steve Bannon. [Web log post] Disponível em https://joaodealmeidasantos. com/artigos/.
Santos, J. A. (2017b). Mudança de Paradigma: a Emergência do Digital em Política. Os casos italiano e chinês”. ResPublica, 17/2017, 51-78.
Santos, J. A. (2012). Media e poder. O poder mediático e a erosão da democracia representativa. Lisboa: Vega.
Santos, J. A. (1998). Paradoxos da democracia. Lisboa: Fenda.
Sorice, M. (2014). I media e la democrazia. Roma: Carocci.
Tagliagambe, S. (2009). El espacio intermedio. Red, individuo e comunidade.
Madrid: Fragua/ThinkCom-IPE.
Tocqueville, A. (2011). Da democracia na América. S. João do Estoril: Principia.
NOTAS
1. Para uma síntese das várias posições sobre a democracia deliberativa, veja-se o excelente ensaio de Michele Sorice I media e la democrazia (Sorice, 2014, p. 45-71).
2. Aristóteles (1998): pp. 324-330: 1297b – 41; 1298a – 4 e 14; 1298a – 40; 1298b – 4; 1298b – 20 e 22; 1298b – 30 e 33 – no texto grego; itálico meu. A palavra proboúleuma não é usada neste capítulo (apesar de encontrarmos a forma verbal probouleúsôsin, aoristo do conjuntivo, 3.ª pessoa do plural, do verbo probouleúo, deliberar, relativo às deliberações da Boulê prévias à Assembleia, ou Ekklêsía), mas sim o verbo bouleúo. O prefixo pro significa precedente. Algumas formas derivadas do verbo bouleúo (deliberar, aconselhar, reflectir, pensar) ou do substantivo boulê que aparecem no texto grego, aqui citado nas páginas acima referidas: bouleuómenon, bouleúontai, bouleúesthai, bouleúsontai, bouleuómenoi, bouleuoménous, probouleúsôsin, symboulês.
3. A estrutura institucional da democracia grega era composta pela Ekklêsía (Assembleia, com 30.000 polítai com direito a voto, sendo o quorum 6.000), pela Boulê (Conselho dos Quinhentos, que correspondia em Roma ao Senado) e pelos Tribunais.
4. “Este proboúleuma era, de acordo com as várias questões, mais ou menos longo e formulado com maior ou menor precisão: podia ser uma simples proposta, quase um esboço oferecido à discussão da assembleia ou, então, um decreto acabado em todos os seus aspectos. Na idade mais antiga, cada proboúleuma devia vir do Senado, já que um decreto ao qual faltasse o proboúleuma senatório não era considerado legal”. Da Enciclopédia Treccani online: http://www.treccani.it/enciclopedia/probuleuma_ (Enciclopedia-Italiana)/ (Acesso em 01.05.2020; itálico meu).
5. Esta pertença exclusiva do proboúleuma (que só existiu em Atenas e nas klêrouchíai, colónias) às competências da Boulê terminou no início do século IV a.C.
6. https://books.google.pt/books?id=KFYrD5RoR5UC&pg=PA782&lpg=PA782&dqe (Acesso: 01.05.2020).
7. In: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html (Acesso: 09.06.2019).
8. Veja-se, sobre o assunto, o meu “Media e Poder” (Santos, 2012, p. 61, notas 50 e 51)
9. Veja-se a constituição francesa de 1791, no seu Capítulo I, Secção II, Art. 7.
10. Sobre as Teorias dos efeitos, veja-se o meu Media e Poder (Santos, 2012, p. 229-256).
11. A este propósito veja-se o meu ensaio “Mudança de Paradigma: A emergência da Rede na Política. Os casos italiano e chinês” (Santos, 2017b). E ainda: “O Nacional-Populismo já tem um ideólogo: Steve Bannon” (Santos, 2018). #Jas@05-2022.
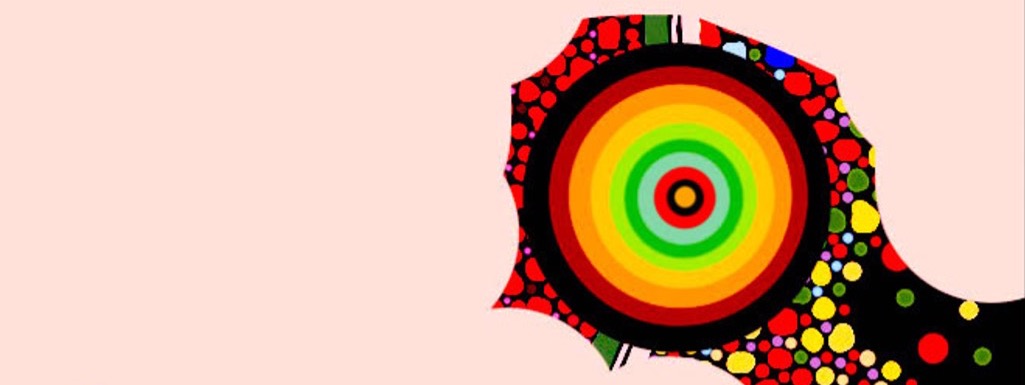
RasPutin
Por João de Almeida Santos

“Dugin. Como o vejo”. Jas. 05-2022
I.
É conhecida a influência do místico Grigori Rasputin sobre a czarina Feodorovna e, por seu intermédio, sobre o Czar Nicolau II, o seu intenso activismo na corte, designadamente no andamento da própria guerra, graças aos favores da czarina pela sua acção sobre a sua saúde do seu amado filho. Mas também agora circulam notícias (aliás, confirmadas pelo próprio) sobre a influência de um filósofo russo (mas este, ao que parece, mais virado para o ocultismo) sobre Putin, de nome Aleksandr Dugin. Um intelectual que pretende avançar com uma nova teoria política que se propõe suceder ao liberalismo, ao marxismo e ao nacionalismo, que “dominaram o pensamento político moderno”, tendo, no fim, vencido um deles, o liberalismo, que, no seu entendimento, viria a lançar “os fundamentos da globalização durante a década de noventa do século XX”. A sua proposta é esta, apresentada, por exemplo, no artigo La Cuarta Teoría Política como estrategia de lucha contra el capitalismo mundial, de 2021:
“A Quarta Teoria Política propõe-se ir mais além de uma tal definição eurocêntrica da política que é defendida pela Modernidade. Além disso, algo equivalente se pode conseguir através do regresso ao pré-moderno, quer seja europeu ou não europeu, e dar também um passo até ao futuro pós-moderno. Não através de um “pós-modernismo” liberal, que é uma continuação da hegemonia ocidental, mas sim através de um pós-modernismo alternativo e multipolar, que reconheça ao mesmo tempo a pluralidade de culturas e civilizações e o seu direito sagrado a construir as suas sociedades e sistemas políticos de acordo com o desejo da maioria da sua população, sem ter em conta standards ‘universais’ e especialmente os dogmas próprios do liberalismo moderno desumanizante e perverso que destrói todas as formas de identidade colectiva em nome de um individualismo absoluto” (In Revista “Política Internacional”, Vol. III, n. 4, 2021, 127-128; itálico meu).
II.
Dugin mistura várias influências, como por exemplo, as de Heidegger (o conceito de Dasein), de Julius Evola, de René Guenon, de Ananda Coomaraswamy ou de Alain de Benoist, o famoso teórico da Nova Direita francesa. Ou até a crítica da razão instrumental da Escola de Frankfurt . Mas o verdadeiro centro do seu combate ideal é o “liberalismo ideológico”, a doutrina que inspira inapelavelmente as elites europeias. Um combate, pois, contra as “elites liberais politicamente correctas”, “a aristocracia globalista” (itálico meu), que conduziram a Europa à decadência. Um liberalismo que caminha para a progressiva “libertação do indivíduo de todos os vínculos com a sociedade, com a tradição espiritual, com a família, com o próprio humanismo”, que liberta o indivíduo do seu gender e, um dia, até da sua própria natureza humana. Refere-se, aqui, naturalmente, ao construtivismo e ao experimentalismo social, inimigos jurados de uma ontologia da tradição.
A Rússia diz, já não se revê nesta Europa, pois ela já não é “a pátria do logos, do intelecto, do pensamento”, sendo hoje “uma caricatura de si própria”. É ela, cristã ortodoxa, que se assume como a autêntica “herdeira da tradição romana, grega, bizantina”, fiel ao antigo espírito cristão. Na verdade, nós russos, diz Dugin, “somos mais europeus” do que “estes europeus”, “somos cristãos, somos herdeiros da filosofia grega”. E acrescenta: “a Europa não pode compreender o acto político por excelência, a soberania, porque ela própria perdeu o controlo da própria soberania” (veja-se a entrevista de Dugin, a Giulio Meotti, “Il Foglio”, 02.03.2017). A realidade a que Dugin se refere é a Eurásia.
Mais claro do que isto não é possível. A Europa, para ele, é o rosto da decadência e o seu país, a Rússia de Putin, o rosto do futuro (embora reconheça que Putin não preparou a sua própria sucessão). Dugin filia-se no pensamento político da nova direita, representada sobretudo por Alain de Benoist, e tem como alvo principal do seu combate o liberalismo, considerado como o inimigo principal a abater. Mas não é novidade, este antagonismo, pois a mesma posição já tinha sido amplamente desenvolvida pelos românticos (mas também pelos marxistas) contra as Luzes, rejeitando a visão liberal por ser uma visão abstracta e descarnada do ser humano (Veja-se Santos, J. A., 1999, Os Intelectuais e o Poder, Lisboa, Fenda, pp. 71-87). Visão que fora traduzida deste modo por Joseph de Maîstre, nas Considerações sobre a França (Londres, 1797, p. 102, 2.ª edição):
“A constituição de 1795, tal como as predecessoras, é feita para o homem. Ora, não existe homem no mundo. Eu vi, na minha vida, Franceses, Italianos, Russos, etc.; até sei, graças a Montesquieu, que é possível ser persa; mas, quanto ao homem, declaro que nunca o encontrei na minha vida; a não ser que exista sem que eu saiba” (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6258824q/f114.item.texteImage).
III.
Dugin e os seus parceiros de pensamento colocam-se nos antípodas do liberalismo, rejeitando liminarmente o individualismo sem vínculos e contrapondo-lhe a inserção orgânica do indivíduo nas suas comunidades de pertença, a começar logo pelo vínculo natural. Esta posição está expressa com notável clareza numa conferência de Benoist em Palermo sobre “Les fondements anthropologiques de l’idéologie du profit” (https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/l_ideologie_du_profit.pdf). Cito duas passagens bastante elucidativas:
“La bourgeoisie s’est progressivement émancipée des valeurs artistocratiques et des valeurs populaires et, après avoir conquis son autonomie, n’a pas tardé à imposer ses propres valeurs à l’ensemble de la société. Comme chacun le sait, sur le plan politico-idéologique, cette évolution s’est confondue avec la montée de l’individualisme libéral, pour lequel le marché est le paradigme de tous les faits sociaux” (itálico meu).
“On ne peut dès lors s’étonner que la montée de l’individualisme libéral se soit traduite, d’abord par une dislocation progressive des structures d’existence organiques caractéristiques des sociétés holistes, ensuite par une désagrégation généralisée du lien social, et enfin par une situation de relative anomie sociale, où les individus se retrouvent à la fois de plus en plus étrangers les uns aux autres et potentiellement de plus en plus ennemis les uns des autres, puisque pris tous ensemble dans cette forme moderne de «lutte de tous contre tous» qu’est la concurrence généralisée. Telle est la société décrite par Tocqueville, dont chaque membre, «retiré à l’écart, est comme étranger à tous les autres». L’individualisme libéral tend à détruire partout la sociabilité directe, qui a longtemps empêché l’émergence de l’individu moderne, et les identités collectives qui lui sont associées. « Le libéralisme, écrit Pierre Rosanvallon, fait en quelque sorte de la dépersonnalisation du monde les conditions du progrès et de la liberté» (itálico meu).
Estas palavras – valores aristocráticos, valores populares, estruturas de existência orgânica, desagregação do laço social, anemia social, sociabilidade directa, identidades colectivas, despersonalização do mundo – seriam certamente subscritas também por Dugin. O mundo é hoje dominado pelos liberais e há, pois, não só que combater a sua hegemonia, opondo-lhe a condição natural e orgânica dos indivíduos, a sua pertença à natureza e às várias comunidades em que necessariamente se inscrevem. É esta integração orgânica, natural, geográfica, social, histórica e tradicional que lhe transmite os valores e o sentimento de pertença colectiva, o tornam elemento integrante e vivo de uma comunidade natural e histórica. A dimensão de valor da existência do indivíduo é garantida pela tradição e pelo património por ela transmitido. E estes valores remontam às origens da nossa própria civilização. Mas os liberais, pelo contrário, segundo Alain de Benoist, centram a sua estratégia sobre o corte com a natureza e com a tradição como forma, por excelência, de emancipação e única via de acesso a uma sociedade universal e cosmopolita (veja-se a sua recensão ao livro de Jean-Claude Michéa, Le Complexe d’Orphée, na revista Critica Sociale: Socialismo, nè sinistra nè destra: https://www.sinistrainrete.info/teoria/3729-alain-de-benoist-socialismo-ne-sinistra-ne-destra.html). Uma crítica clara e radical ao liberalismo, sobretudo na sua versão neoliberal.
IV.
Num recente artigo no “Observador” (de 14.05), “Valores Europeus? Que Valores?”, Jaime Nogueira Pinto alinha claramente com estas posições, mas evidencia um outro aspecto muito importante:
“Hoje, por razões diferentes, muitos europeus – à semelhança dos fundadores da Europa e dos povos e dirigentes dos países do Leste Europeu que, depois do fim da União Soviética e da libertação, entre 1989-1991, recuperaram a sua independência – estão longe, muito longe, da deriva pós-moderna dos ‘novos direitos humanos’ que algumas instituições e dirigentes políticos da União Europeia querem apresentar como ‘valores europeus’” (itálico meu).
E continua, perguntando quem os mandatou para: “lavrarem recomendações de bom e correcto comportamento político e ideológico e fazer depender do seu cumprimento a atribuição de subsídios ou a aplicação de sanções” (itálico meu)? Depois, em linha com o combate à assepsia ou anemia axiológica do liberalismo, mas avançando para a dimensão axiológica da sua proposta, faz uma incursão pela literatura grega e romana (Homero, Virgílio), pelas suas relevantes obras (Odisseia, Ilíada, Eneida), pelos seus principais protagonistas (Ulisses, Aquiles, Heitor, Eneias) e pelos valores que eles representam: o heroísmo, a liberdade, o realismo, o sofrimento, o combate, a transcendência, a lealdade, a beleza, a força física e a inscrição deste valores numa “ética de grupo”, na comunidade, na cidade, na tribo, na família e na sua relação com os deuses. Uma evidenciação dos valores originários clássicos e pré-modernos que foram elevados ao sublime pela ancestral arte da Europa clássica e que, supostamente, o liberalismo dos nossos tempos votou ao esquecimento ou mesmo à sua anulação.
Esta incursão de Nogueira Pinto completa, assim, a pars destruens das posições de Dugin e Benoist, aqui evidenciadas, de crítica radical e de desmontagem do liberalismo com uma pars construens, que evidencia os valores inscritos nas nossas comunidades orgânicas originárias de pertença e que a melhor tradição nos legou como património ideal imorredouro. Esta viagem pelo classicismo não representa uma hermenêutica estética, mas sim uma valorização política dos valores que a estética clássica pôs no centro da sua narrativa, dando assim corpo a uma alternativa à doutrina neoliberal, a mesma que, de resto, também é combatida pela esquerda, como se se tratasse de uma revisitação da velha oposição entre românticos e marxistas, de um lado, e iluministas, do outro.
V.
Fica assim clara a dupla orientação da nova direita, não só no combate directo àquele que eles consideram ser o seu adversário maior, o liberalismo vencedor sobre o socialismo e o nacionalismo (Dugin), mas também na recuperação dos valores que a estética grega e romana elevou em obras de arte imortais (JNP). E, todavia, ao ler-se o discurso de Benoist em Palermo, o que realmente se reconhece é o neoliberalismo mais puro, a fileira que vai de Adam Smith, abundantemente referido, a Friedrich von Hayek, sendo certo que a crítica, na verdade, não atinge o liberalismo social, que parte de Stuart Mill e vai até Norberto Bobbio. Pelo menos na cirúrgica reflexão de Benoist. É, pois uma posição clara, sendo certo que nesta visão do liberalismo esta doutrina inclui os identitários e os apóstolos do “politicamente correcto”, apesar de estas orientações serem objectivamente antiliberais nos seus postulados. Neste sentido, a crítica não atinge argumentativamente este seu alvo. Com efeito, os identitários, tal como esta nova direita, negam o tão criticado universalismo defendido pela doutrina liberal. De fora deste combate parece ficar a social-democracia, o que até não é de estranhar por ela ter sido historicamente também adversária das posições liberais, apesar de estas terem uma sua versão conhecida precisamente como socialismo liberal.
Mas não deixa de ser curioso que esta direita tenha colhido de forma tão certeira aquela que é a matriz moderna da nossa civilização, construída a partir do liberalismo, tão bem expressa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (de 1789) e tão fortemente combatida quer pelos românticos quer pelos marxistas (Santos, 1999). Na verdade, o que eles combatem realmente é esta matriz, retomando a crítica romântica. Nada de novo, portanto.
Em suma, aquele que, generalizadamente, é apontado como o novo RasPutin, inspirador e ideólogo do novo Czar russo, é, pois, um claro seguidor expresso e confesso do pensamento da Nova Direita, em particular do pensamento de Alain de Benoist, o que, de resto, não é de estranhar vistas as afinidades electivas que se têm verificado entre esta direita e Vladimir Putin.
VI.
Perante esta vaga de direita que se está a instalar intelectualmente, e de forma muito sofisticada, um pouco por todo o lado, o que apetece perguntar é o seguinte: por onde andam os intelectuais orgânicos do socialismo democrático e da social-democracia em face deste avanço intelectual e político da nova direita a caminho de uma hegemonia ideológica nas democracias ocidentais? Até o pobre Gramsci tem sido convocado para o projecto, o que, de resto, não acontece pela primeira vez (veja-se a este respeito o meu texto em Neves, J., Org., 2006, Da gaveta para fora, Porto, Afrontamento, pp. 79-107, esp. 96-101). Não foi o próprio Viktor Orbán que já lhe deu voz política ao proclamar a sua luta pela liberdade contra o sufoco liberal? Desabafo, de resto, subitamente acolhido pelo nosso Jaime Nogueira Pinto. E não tivemos Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos, com o inefável Steve Bannon e a Cambridge Anaytica como preciosos ajudantes? E, antes, a experiência dos neoconservadores americanos com a tentativa de conseguirem a hegemonia nos Estados Unidos? E não temos, agora, ao que parece, a nova e perigosa teoria do “Great Replacement”, nos USA? Na verdade, o que está a ocorrer talvez seja um provável e grave erro de visão do establishment sobre o que é necessário fazer não só para garantir a nossa matriz civilizacional moderna, mas também para promover a sua actualização sem cair naquilo que os novos conservadores criticam tão radicalmente, ou seja, no construtivismo social e na sua correspondente tradução linguística. #Jas@05-2022.

A MILITÂNCIA E A LIBERDADE
Por João de Almeida Santos
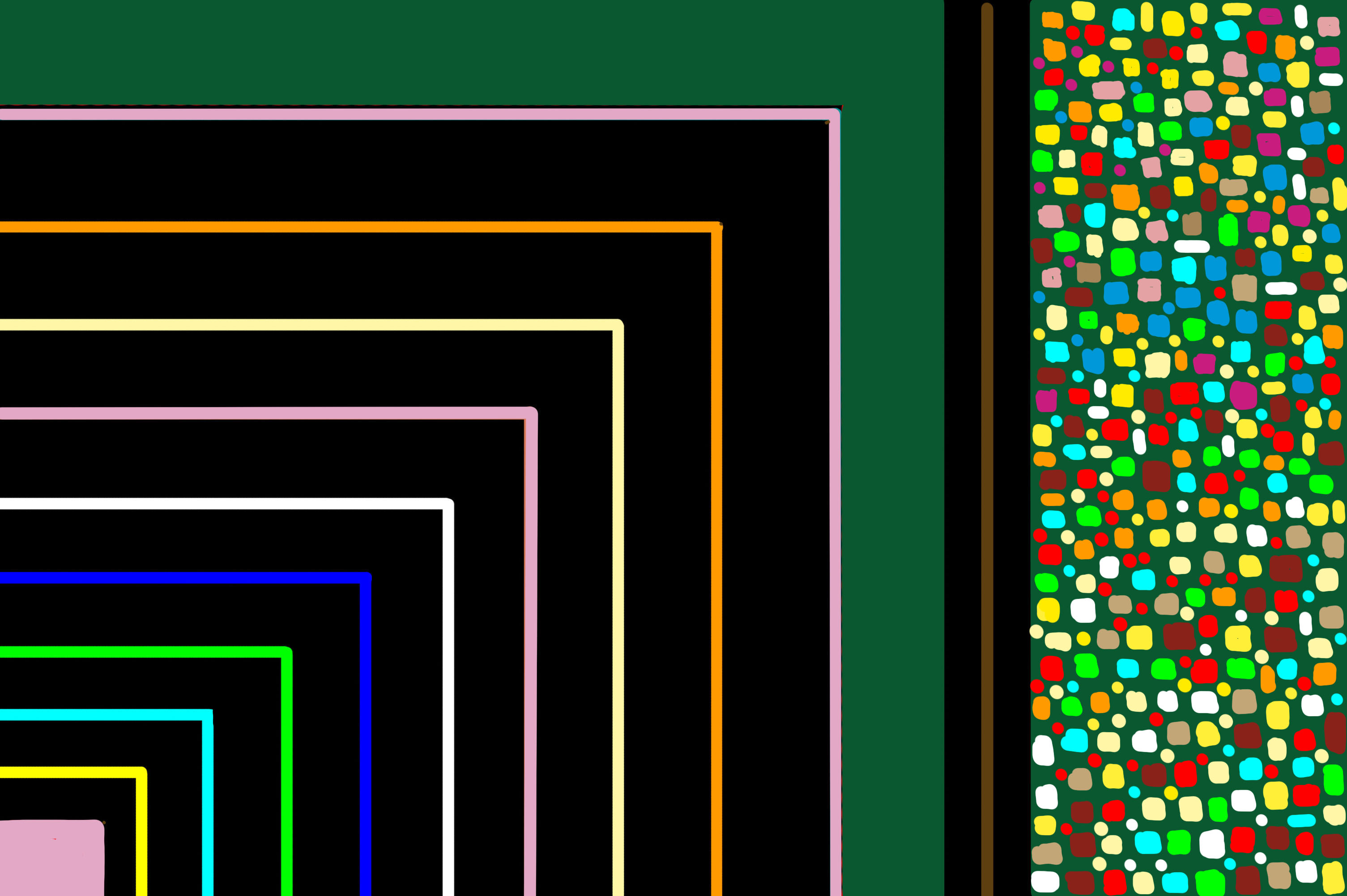
A RECENTE EXPULSÃO do militante do PS, Maximino Serra, por ter integrado a lista de candidatos do “Nós, Cidadãos” à Câmara Municipal de Alcobaça, como último suplente, recordou-me o que escrevi, há uns anos, aquando do processo a 320 militantes pela mesma razão. Nunca tive conhecimento do desfecho do processo, embora creia que o desfecho terá sido o mesmo, a expulsão. Mas entendo que esta nova situação, pela sua particularidade, é um bom momento para voltar a reflectir sobre o assunto pelo que ele representa.
O caso concreto está enquadrado nos artigos 2, 3 e 13 dos Estatutos do PS, tratando-se da conjugação do exercício da liberdade de expressão com o dever de respeito pelas normas estatutárias do partido.
As notícias, na altura, davam conta de que trezentos e vinte militantes do PS estavam sob processo e em risco de expulsão por terem participado em listas de movimentos não partidários nas eleições autárquicas. A questão gerou alguma polémica no interior do próprio partido, como, aliás, esta decisão. Com efeito, alguém lembrava a candidatura presidencial de Manuel Alegre contra a candidatura de Mário Soares, apoiada pelo PS, sem que a este militante tenham sido aplicados os estatutos (embora, neste caso, em rigor, não fossem formalmente aplicáveis por se tratar de candidaturas não partidárias). Era, pois, caso para isso, para levantar polémica, tratando-se de um partido que tem como valor fundamental da sua matriz a ideia de liberdade, avesso, pois, matricialmente, ao bastão administrativo. Mas há os Estatutos, o artigo 13. E é claro que a violação das regras de uma organização a que se pertence tem de ter consequências. É normal. E naquele caso houve. Militantes participaram em listas cívicas que se apresentaram nas eleições autárquicas em concorrência com o PS. E isto não deveria acontecer, à luz dos estatutos da organização a que esses cidadãos pertenciam. Uma organização que se preze deve agir em consequência. Também neste caso se verificou a mesma circunstância.
Mas (há sempre um mas), tratando-se de uma organização política e, ainda por cima, com as características do PS, a questão não é linear. E menos ainda quando se trata de um militante com a história de vida (política e partidária) de Maximino Serra.
ENDOGAMIA E “BOLSAS DE QUOTAS”
EM PRIMEIRO LUGAR, mais do que com as sanções, o PS deveria preocupar-se com as causas, as razões desta “deserção”, ou melhor, desta suspensão de militância nas suas fileiras no combate autárquico. Para, deste modo, poder dar vida a soluções estruturais para o problema. É que não se tratava só de trezentos e vinte, que já eram muitos, porque a maioria saiu mesmo do Partido, muitas vezes com as lágrimas nos olhos. Conheço alguns com quem travei batalhas. E com dezenas de anos de militância activa, de trabalho e de luta. A esses já não eram aplicáveis os Estatutos, simplesmente porque já lá não estavam. Foram silenciosamente embora, mas levando consigo os valores por que sempre lutaram, continuando socialistas (mas sem cartão). Acabaram em movimentos cívicos ou então politicamente desmotivados. Levaram a mesma luta para outros espaços de intervenção. Muitos dos casos tinham e têm a ver, no caso autárquico, com a imposição, às vezes incompreensível, de candidaturas pela direcção nacional. E, há que reconhecer, na verdade, no plano autárquico, trata-se de circunstâncias muito complexas e delicadas, onde as relações pessoais determinam em muito as próprias relações políticas.
Na verdade, há duas razões de fundo que explicam este transvase de militantes para a área da cidadania não partidariamente comprometida. A primeira reside na insuficiência ou inadequação dos mecanismos de selecção de dirigentes e de candidatos às instituições políticas de natureza electiva. O debate em torno das primárias, sobretudo de primárias abertas, tem vindo a ser suscitado por isso mesmo: necessidade de melhorar o sistema de selecção e de romper com o velho sistema. Ou seja, o controlo das estruturas dos partidos através de “bolsas de quotas” tem-se revelado politicamente desastroso porque permite a ascensão a cargos de alta responsabilidade política de pessoas manifestamente impreparadas e inadequadas, para usar a qualificação mais benigna, visto que esta ascensão acontece em muitos casos de forma ínvia e pouco transparente ou mesmo por imposição da direcção nacional. Um exemplo: há candidatos que ganham sempre as eleições internas, mas perdem sempre que se candidatam em eleições autárquicas. A ausência de mecanismos de selecção adequados e controlados (“bolsas de quotas” ou injunções administrativas na selecção dos candidatos) provoca muitas vezes fracturas graves e a opção por caminhos alternativos. E esta prática contribui para alimentar uma grave doença do sistema de partidos, ou seja, a endogamia, responsável pela perda de contacto dos partidos com a sociedade civil, mas também pela ocupação incompetente, primeiro do aparelho do partido, depois do aparelho de Estado, com as consequências nefastas que são conhecidas. E esta tendência tenderá a reforçar-se se não se alterar o sistema de selecção das candidaturas seja aos órgãos dirigentes do partido seja às instituições políticas de origem electiva. As primárias não são a chave milagrosa que resolve o problema, mas ajudam a resolver o problema das “bolsas de quotas” e da ínvia promoção dos respectivos angariadores.
Na verdade, grande parte dos movimentos autárquicos não partidários alimenta-se – do ponto de vista dos eleitores, mas também do ponto de vista dos candidatos ou dirigentes – de militantes que abandonaram ou que acabarão por abandonar os partidos. Voluntariamente ou expulsos. E há várias maneiras de abordar com seriedade este problema partidário, vista a dimensão que tem vindo a ganhar essa tendência da política autárquica que podemos designar por movimentos políticos autárquicos não partidários. Um crescimento progressivo, mesmo com uma lei que decididamente foi feita para lhes criar obstáculos e que é, sem dúvida, inconstitucional, pelo menos num dos seus aspectos, porque fere o princípio da igualdade. Mas há seguramente uma maneira de abordar o problema que não é desejável: a de apontar o dedo, desatando pura e simplesmente à bastonada moral e administrativa. Não só porque é feio e porque agudiza o problema, mas também porque indicia um comportamento simétrico, que acusa os mesmos defeitos que se atribui aos que deixaram de ser militantes ou que, num determinado momento, por razões que até podem ter uma clara explicação, sobretudo no plano autárquico, não seguiram o caminho traçado pelo partido, apesar de se manterem firmes nos seus valores políticos. Uma posição destas sabe a visão de seita, pouco compatível com a tradição, a dimensão e a vocação de um grande partido como o PS. E até porque os partidos políticos, mais do que fazerem juízos morais e negativos sobre a diferença, as razões da dissidência ou os comportamentos políticos, incentivando a “caça às bruxas”, seja por que via for, têm, isso sim, a responsabilidade de compreender a fundo o que se passa à sua volta, respondendo com eficácia aos problemas, designadamente aos internos. Curiosamente, este processo administrativo contra os trezentos e vinte e, agora, este (e outros haverá na sequência das autárquicas de 2021) fez-me lembrar a questão catalã, muito viva na altura (e agora de novo agitada pelas famosas escutas através da tecnologia Pegasus), respeitando naturalmente as devidas proporções. É claro que os independentistas violaram a constituição de 1978, acabando, por isso, na prisão ou em fuga. Mas temos a certeza de que esta é a melhor maneira de resolver um problema que envolve milhões de catalães? Que foi feito da política? Por que razão cresceu o independentismo na Catalunha? Curiosa a expressão independentismo, porque também entre nós o que se está a passar é um transvase precisamente para os chamados movimentos independentes, com pequenas catalunhas autárquicas na nação partidária. O Porto, a Barcelona do PS, por exemplo. E confesso que a minha leitura das últimas eleições autárquicas, apesar de ganhas claramente pelo PS, não é tão optimista como a visão oficial. Um exemplo: no distrito da Guarda o PS ficou reduzido, na autárquicas de 2021, à presidência de três Câmaras (em catorze), número igual precisamente ao dos movimentos autárquicos não partidários. Mereceria uma atenta leitura o processo de selecção dos candidatos nestes catorze municípios, designadamente no da Capital do distrito.
Em relação ao caso em apreço, a da fuga de militantes para a concorrência não partidária, não seria melhor que o secretário-geral repensasse a sua posição sobre as primárias e promovesse também um repensamento mais profundo sobre a identidade organizacional do partido e da sua própria relação com a cidadania? Com a actual maioria absoluta na AR e no início dos mandatos autárquicos, o processo de reflexão, neste sentido, poderia muito bem ser desenvolvido com tempo suficiente para encontrar um caminho virtuoso.
SENTIMENTO DE PERTENÇA
A SEGUNDA RAZÃO é mais de fundo e tem a ver com a natureza do partido contemporâneo, especialmente se comparada com a do partido da primeira metade do século XX, com o alargamento do sufrágio universal. Na verdade, naquele período os partidos nasceram para organizar politicamente as várias sensibilidades existentes na sociedade, facilitando a participação política através da mediação partidária, extremamente importante num período em que à escassez quantitativa e qualitativa de canais de informação correspondia uma generalizada iliteracia política, mas também a adopção do sufrágio universal, ou seja, o alargamento da base eleitoral. Fomentar o sentimento de pertença tornou-se extremamente importante para dar vazão à participação política. Numa palavra: votava-se na família política, guiados pela ideologia, e o erro seria residual. Era fácil, eficaz e permitia o alargamento exponencial da participação política, numa época em que se estava a consolidar o sufrágio universal e, portanto, se estava a alargar a base eleitoral das democracias. Tornava-se, assim, possível organizar politicamente a sociedade civil, dando-lhe depois uma coerente expressão institucional.
Ora, o que entretanto aconteceu, com o desenvolvimento da imprensa, do audiovisual e, agora, da Rede, foi uma expansão gigantesca dos canais de informação e de comunicação, numa verdadeira democratização do acesso à informação e da intervenção participativa directa da cidadania na comunicação e na política, com uma progressiva desintermediação destes processos, ainda em curso. Sobretudo, agora, na era da Rede, embora a expansão da comunicação tenha conhecido uma aceleração incrível nos anos noventa do século passado. Com efeitos evidentes na cidadania, em ambos os sentidos. E, assim, o sentimento de pertença relativizou-se (este processo começara nos anos cinquenta, nos USA, com o advento da televisão), dando lugar a uma participação agora também fundada na informação e no conhecimento e na possibilidade de auto-organização e de automobilização da cidadania. Ou seja, começou a emergir uma cidadania cada vez mais independente dos processos de intermediação comunicacional e política. Mas este sentimento de pertença desapareceu de vez, tornou-se residual, desnecessário? Não, mas passou a só intervir parcialmente nas escolhas e decisões políticas dos cidadãos em geral. Continuando a ser muito importante, relativizou-se e deu lugar a uma sua afirmação mais autónoma, mesmo da cidadania que continua a partilhar uma pertença política. Este facto tem fortíssimas implicações no sistema de partidos, designadamente, na natureza da pertença e da própria militância, ou seja, aumenta o grau de independência e de autonomia do cidadão comprometido partidariamente e diminui o peso da organicidade envolvente e decorrente dessa pertença. Acontece com os partidos aquilo que já está a acontecer com os media: o cidadão pode auto-organizar-se e automobilizar-se prescindindo dos órgãos de intermediação. O que pode acontecer parcialmente ou radicalmente, pelo abandono dos partidos. Por isso, estes têm de compreender a nova situação, diminuindo a rigidez da organização e das normas de pertença se não quiserem ver a sua base orgânica diminuir substancialmente e alastrar o sentimento de rejeição da “mordaça” estatutária e comunitária. De resto, esta rigidez tem vindo a diminuir sob outros aspectos, designadamente com a sua passagem a “catch-all-parties”, abandonando a sua identidade como “partidos-igreja” de massas. A pertença a um partido, que antes era condição de liberdade política, se não for regulada de acordo com a nova realidade pode configurar-se mais como limitação da liberdade do que como pleno exercício de cidadania. A pertença passará a ser mais motivada por razões de interesse pessoal do que por razões ideais. A ética de convicção, mas também a ética pública cederão ao interesse pessoal e estes partidos acabarão por ser meras federações de interesses pessoais ou organizados visando a conquista do aparelho de Estado para próprio benefício. A fragmentação do sistema de partidos tem muito a ver com a ausência de resposta a esta dinâmica.
Que consequências resultaram, pois, deste processo? Uma consequência é certa: o sentimento de pertença passou a determinar só uma parte da decisão política e eleitoral porque a outra parte passou a resultar inevitavelmente da informação, do conhecimento e da reflexão pessoal. E um partido como o PS tem o dever de promover precisamente esta segunda dimensão, atenuando a dimensão orgânica e administrativa, porque sempre se assumiu como um herdeiro político do iluminismo, ou seja, aquele que tem como horizonte da sua estratégia a máxima de que fala o Kant de “Was ist Aufkaerung?”: “sapere aude!”. Ter a coragem, a audácia de saber. Uma saída – Ausgang – do preconceito para as luzes. Há, a este propósito, uma afirmação de Foucault, no seu texto de diálogo com Kant, “Qu’est-ce que les Lumières?”, que sintetiza tudo o que acabo de dizer: “a Aufklaerung é simultaneamente um processo de que os homens fazem colectivamente parte e um acto de coragem a efectuar pessoalmente”. Na linguagem de hoje: uma cidadania esclarecida e emancipada, onde a dimensão comunitária nunca poderá anular a afirmação pessoal, e muito menos à bastonada disciplinar.
CONCLUSÃO
É DAQUI que os partidos têm de partir, repensando a sua relação com a cidadania, seja ela a da militância ou não.
Ora, se pensarmos a questão dos trezentos e vinte (e de todos os outros que saíram silenciosamente) e agora este caso incrível de um militante com 87 anos e cerca de cinquenta de empenhada militância na causa partidária e democrática, com estas duas razões é fácil tirar conclusões: o excesso de endogamia juntamente com a relativização estrutural do sentimento de pertença (tal como era concebido) está a produzir efeitos disruptivos no sistema de partidos que urge assumir e para os quais é necessário encontrar respostas estruturais, designadamente no plano da identidade organizacional e das relações com a cidadania. Ou seja, tratando-se de um problema político não pode ser resolvido liminarmente com sanções administrativas ou com cruzadas morais.
Mas, no que toca ao PS, se até a simples questão das primárias se encontra adormecida como será possível responder a um problema que tem dimensões de futuro? Mas, ainda assim, mantenhamos a esperança.
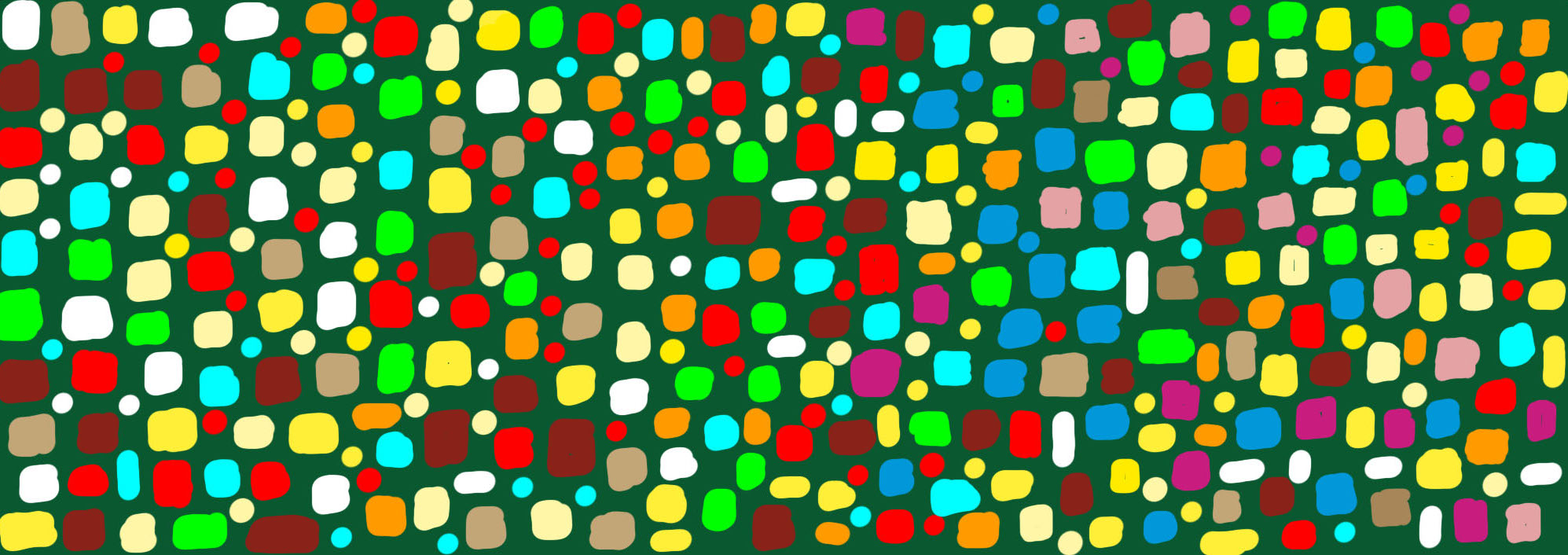
MUDAM OS TEMPOS E A POLÍTICA TAMBÉM
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 05-2022
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,/ Muda-se o ser, muda-se a confiança;/ Todo o mundo é composto de mudança,/ Tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades,/ Diferentes em tudo da esperança;/ Do mal ficam as mágoas na lembrança,/ E do bem, se algum houve, as saudades. (...) E, afora este mudar-se cada dia, / Outra mudança faz de mor espanto:/ Que não se muda já como soía. Luís de Camões
NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, 9 de Maio, é o dia da Europa. E, mais do que comemorar este dia, pois não é tempo de comemorações, vista a grave crise que atravessamos, o que importa é reflectir não só sobre o Projecto Europeu, o que muitos farão, mas também sobre a situação política interna dos Estados-Membros da União. É o que farei.
A EXTREMA-DIREITA
EM FRANÇA E EM ITÁLIA
EM DOIS dos maiores países da União Europeia, a França e a Itália, a situação política é muito esclarecedora sobre as tendências políticas de extrema-direita que estão a ganhar corpo e consistência no coração da Europa. Não falo do crescimento do VOX em Espanha (hoje com cerca de 15%, mas em sondagens recentes já com cerca de 20%, aproximando-se do PP de Feijóo), do Alternative fuer Deutschland (com cerca de 10%), na Alemanha, ou do CHEGA (com cerca de 7%), em Portugal. Falo de algo muito mais consistente. Marine Le Pen, em França, obteve 41,46% dos votos nas recentes eleições presidenciais, o mais alto score eleitoral jamais alcançado pela extrema-direita neste país. Em Itália, o segundo e o terceiro partidos, Fratelli d’Italia (os legítimos herdeiros do fascismo italiano, da senhora Giorgia Meloni) e a LEGA, de Matteo Salvini (de extrema-direita, herdeira da LEGA NORD, do famoso Senatur Umberto Bossi), exibem quase 38% nas sondagens mais recentes. FdI tem praticamente a mesma percentagem do Partito Democratico, o primeiro partido italiano (com 21,5%), sendo a diferença somente de cerca de 0,9 pontos percentuais (20,63%), na média de 13 sondagens recentes realizadas por 8 empresas diferentes. Estamos a falar de um score eleitoral consistente que, aliado ao de Forza Italia, direita liberal, atinge cerca de 46%. Ou seja, a direita moderada quase desapareceu em Itália, tendo, em França, desaparecido quer a direita moderada quer o centro-esquerda. A polarização é hoje entre o centro e a extrema-direita, tendo, todavia, a extrema-esquerda de Mélenchon atingido um score eleitoral muito significativo (cerca de 22%). E isto tem algum significado, não só internamente e não só para a esquerda, mas para toda a União. Lembrá-lo é muito importante sobretudo para os que parece estarem instalados e demasiado autoconfiantes nos resultados eleitorais que vão conseguindo. A velocidade da política aumentou. Basta lembrar o que aconteceu em 2017, e somente no arco de um ano, em França, com o fenómeno Macron. E lembrar também que um exercício político que se esgote na lógica da “governance”, na mera gestão da máquina do Estado e nos resultados de uma política financeira assente exclusivamente na cobrança fiscal, mesmo quando esta máquina (não a fiscal) dá sinais de ineficiência e desperdício, e sem um claro modelo de desenvolvimento, não conseguirá mobilizar a cidadania para um envolvimento empenhado e confiante na tarefa colectiva. Pelo contrário, a tendência será a de a sociedade se deixar envolver pela sereia da política populista e pelo regresso da velha política de apelo aos valores iliberais do velho romantismo político e ao regresso do organicismo vestido com as novas roupagens soberanistas do velho nacionalismo. Para isso muito têm contribuído também as novas ideologias identitárias anti-liberais e a agressiva vigilância moral sobre as linguagens, uma tendência que aspira a tornar-se hegemónica e que até já entrou no perigoso terreno da sua normalização jurídica, dando consistentes sinais de tentativa da criminalização da opinião, mesmo relativamente a instâncias políticas que era suposto gozarem de imunidade no exercício da opinião. Creio que é aqui que, por exemplo, poderá ser incluída a tentativa em curso de criminalizar a posição do PCP em matéria de política internacional (sobre o conflito Rússia-Ucrânia). A perigosa e sufocante avançada destas tendências a caminho da hegemonia alimentam e alimentarão cada vez mais a extrema-direita, que se lhes opõe frontalmente, mesmo no que elas possam ter de aceitável e de civilizacionalmente progressivo. Com este combate, ela crescerá mais do que já cresceu. Até invocando a liberdade. É muito sugestivo, a este respeito, um recente artigo de Jaime Nogueira Pinto (“A liberdade anti-liberal de Victor Orbán”, Observador, 09.04.2022). “O que se passa”, diz JNP, “é que, por um processo gramsciano de hegemonia cultural, a ortodoxia da correcção política adoptou os conteúdos e os caminhos do marxismo cultural. E um país, um povo e um governo que se proclamem nacionalistas, conservadores e populares são uma coisa inadmissível para a harmonia e equilíbrio das distopias em formação” (itálico meu). Sem discutir a correcção desta interpretação e de outras afirmações sobre Gramsci (como, por exemplo, a da actualização do marxismo-leninismo, absolutamente incorrecta), acaba o artigo a citar, a propósito da liberdade, Victor Orbán, acusando os liberais de um mal que, de facto, não lhes pertence: “Porque os liberais, que antes eram partidários do pluralismo, querem agora ter a hegemonia da opinião. Sim, sou hoje um lutador pela liberdade contra os liberais“. Mas a verdade é que os identitários e os apóstolos do “politicamente correcto” não são liberais, mantendo com os “iliberais” uma afinidade e um organicismo que estão nas antípodas do liberalismo.
O QUE É A EXTREMA-DIREITA?
O QUE É, afinal, esta extrema-direita? Falar de populismo começa a querer dizer quase nada, de tão gasta estar a palavra. E também porque a palavra povo, de onde deriva, pouco representa, contendo, em amálgama, diversos segmentos sociológicos indiferenciados, que lhe dão substância. De resto, a noção de povo foi identificado de forma diversa ao longo da história, indicando, todavia, preferencialmente as classes subalternas. Contrapunha-se-lhe, antes, a aristocracia e, depois, as elites. Com o direito de voto o conceito tendeu a alargar-se e passou a identificar-se com o eleitorado em geral. O mesmo vale para a palavra público, quando usada para designar a chamada “democracia do público”, uma fórmula realmente um pouco desviaste. Mais correcto é, pois, usar a palavra “cidadania” quando nos referimos à política por ser um conceito que lhe é totalmente funcional. Cidadão é o elemento do Estado político, o seu fundamento, a base a que está referida a actividade política. Assim sendo, como devemos caracterizar a extrema-direita, na sua inevitável diversidade nacional? Nacional-populismo? Neopopulismo (o populismo digital)? Plutopopulismo? Populismo tout court? Estes conceitos pouco dizem se não os caracterizarmos no concreto. É o que vou tentar, mas referindo-me à, mais unívoca, noção de extrema-direita.
E talvez seja caso de dizer que ela, a extrema-direita, com reservas mentais, a) aceita a democracia representativa, fazendo dela, todavia, uma interpretação autoritária e restritiva, contestando abertamente a sua matriz liberal e valorizando, pois, mais a sua componente orgânica; b) é inimiga figadal do politicamente correcto, interpretando um sentimento generalizado de recusa deste autoritarismo iliberal da linguagem, que, cada vez mais, tende a ser convertido em normas legais, só lhe faltando mesmo os famosos tribunais plenários, agora justificados em nome da liberdade (candidatos ou candidatas a procuradores-gerais, a pequenos vichinskys, não faltariam, até porque alguns, ou algumas, já vão exercendo essa função nos seus perímetros de actuação profissional); c) privilegia um certo cesarismo e o carisma, centrando-se muito na figura do líder, oráculo do sentimento profundo do povo oprimido; d) usa com eficácia e sem preconceitos as novas tecnologias para conseguir o consenso, como aconteceu com a campanha presidencial de Trump e com a empresa Cambridge Analytica; e) é soberanista, nacionalista e populista, tendo como mote central a devolução ao povo do poder confiscado pelas elites liberal-democráticas; f) é ambígua sobre o destino da União Europeia, interessando-lhe apenas os seus fundos estruturais, defendendo uma Europa-fortaleza e das nações e propondo, portanto, uma União minimalista em competências e fortaleza em fronteiras – uma ambiguidade equivalente, pois, à que mantém relativamente à democracia representativa; g) é securitária, sobretudo em função da diferença; h) mantém relações amistosas com os poderes ditatoriais, tendo generalizadamente privilegiado a relação com a Rússia de Putin (por exemplo, Marine Le Pen e Matteo Salvini, tendo até, neste caso, sido, em 2017, firmado um acordo escrito de cooperação entre a LEGA e o partido de Putin); h) explora as fraquezas sociais do sistema, a ineficiência do Estado, a crise de representação e o exaurimento do tradicional sistema de partidos; i) usa com inteligência a teoria do agenda-setting, propondo temas altamente fracturantes para polarizar a atenção social sobre si; j) tem bem consciência do novo tipo de cidadania emergente e das potencialidades que as novas tecnologias oferecem para a sua mobilização; l) é tendencialmente negacionista em relação à transição ecológica; m) define-se mais pela negativa do que pela positiva, escondendo as suas filiações no seu património histórico doutrinário, procurando iludir as suas raízes históricas no totalitarismo; n) pratica o “entrismo” democrático de modo a conquistar por esta via o poder. E assim por diante.
O MAINSTREAM TRADICIONAL
PELO CONTRÁRIO, o mainstream do tradicional sistema de partidos mantém uma linha de rumo igual à do passado sem fazer um sério esforço de reconhecimento do que está a mudar nas sociedades de hoje e, consequentemente, a sua metabolização política para poder dar novas respostas de natureza organizacional, doutrinária, comunicacional, e relativas também às próprias classes dirigentes. Na verdade, o que verificamos é que: a) persiste a velha endogamia e pratica uma política sem alma, sem valores capazes de mobilizar a cidadania e sem uma clara estratégia inovadora de desenvolvimento integrado, para além da estratégia da transição energética, da transição digital e da solidariedade social, comuns a todas as forças, pelo menos em retórica; b) adopta institucionalmente, e cada vez mais, a linguagem do politicamente correcto e tende progressivamente a transpô-la para normas legais e para patamares sancionatórios, pondo seriamente em crise a velha e sagrada tradição que já vem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e da Primeira Emenda da Constituição americana, de 1791; c) a política tende cada vez mais a ser reduzida a “governance”, liofilizada, vendida em pacotes publicitários, eventualmente em marketing 4.0, transformando-se os governos em verdadeiros conselhos de administração, onde o primeiro-ministro é o administrador-delegado; d) pratica uma política mais reactiva do que proactiva, ou seja, limita-se a correr atrás do prejuízo; e) a burocracia do Estado tende cada vez mais a impor de forma difusa condicionamentos administrativos à livre acção do cidadão, bloqueando-lhe e onerando-lhe a iniciativa (colocar uma simples rede ovelheira a delimitar um terreno próprio pode implicar hoje três licenças diferentes); f) vive dos recursos que resultam do financiamento do Estado, em função dos resultados eleitorais, e do emprego na sua imensa máquina administrativa; g) convive (em Portugal) pacificamente, e de consciência tranquila, com a existência de dois tipos diferentes de cidadãos, os que trabalham para o Estado – emprego para a vida e 35 horas de trabalho semanal, para cerca de 733 mil empregos na AP – e os que trabalham no sector privado, a imensa maioria (a população activa é de cerca de 5, 152 milhões) – emprego não garantido nas mesmas condições e 40 horas de trabalho semanal (uma bela distinção entre cidadãos de primeira e cidadãos de segunda); h) vive também em regime de extrema personalização da política na figura do líder do momento, acomodando as estruturas do partido às clientelas da liderança em detrimento de um autêntico corpo orgânico autónomo – este processo é bem visível na formação das listas de candidatos a deputados; i) os técnicos de comunicação e de marketing substituem a militância na produção das campanhas eleitorais, que, mesmo assim, são os únicos momentos de exercício efectivo da militância; j) os partidos tornam-se federações de interesses pessoais e particulares que usam a marca-partido sobretudo como modo de vida, em clara violação dos imperativos da ética pública; l) perdeu consistência o seu tradicional corpo orgânico como mobilizador activo da sociedade civil, tendo-se desvalorizado o papel da militância orgânica e das respectivas estruturas durante o período entre eleições.
As suas posições podem muito bem ser resumidas, como exemplo, no plano da União Europeia, na ausência de solução para o actual impasse, que parece resolver-se somente à medida de cada crise que surge, para logo se verificar um ulterior e lamentável adormecimento. Corre-se atrás do prejuízo, também aqui. E as crises não são assumidas como oportunidades, mas tão-só como riscos a evitar.
O EQUÍVOCO
A EXTREMA-DIREITA, pelo contrário, tem sabido falar a linguagem da política (só assim se explica o seu sucesso) e, desse modo, ganhar consensos que devem ser tomados na devida conta, sim, mas sem transformar toda a política num combate contra ela, mantendo-a constantemente no topo da agenda, em vez de se reanimar ela própria com respostas políticas eficazes às expectativas da cidadania, com a promoção de uma verdadeira ética pública e um esforço de aperfeiçoamento dos mecanismos de deliberação e de decisão política, com novos canais de comunicação interventiva com a cidadania, com a eficiência da máquina do Estado (que não seja exclusivamente para cobrar), com a infraestruturação da sociedade para promover condições de auto-afirmação económica, política, social e cultural da cidadania, com o fim da retórica da solidariedade (para fins eleitorais e de conquista ou manutenção do poder de redistribuição de recursos do Estado) como se esse fosse o único objectivo do Estado e dos partidos, com a diminuição dos impostos que sufocam a classe média (quase metade dos que declaram rendimentos não paga IRS) e a promoção da educação como único fundamento eficaz para a construção de uma sociedade melhor. O combate é necessário, sim, mas mais necessária é uma lúcida resposta ao que já flui na sociedade e que não encontra resposta nos actuais protagonistas políticos. O crescimento da extrema-direita é a este défice que se deve.
OS PARTIDOS EM PORTUGAL
EM PORTUGAL, O PSD, partido de centro-direita (não de centro-esquerda), depois de mais uma derrota nas legislativas de Janeiro de 2022, está à procura de uma nova liderança, indo a votos a 28 de Maio (curiosa data, esta, para um partido de centro-direita reiniciar uma nova fase da sua vida). É um dos partidos do sistema (da alternância) e tem-se revelado incapaz de apresentar uma alternativa sólida ao PS de António Costa, em parte porque sobrepôs a sua estratégia à deste partido, não se diferenciando e deixando o flanco conservador ou de direita totalmente livre para novos partidos que aspirassem a interpretá-lo eficazmente. O que viria a acontecer de forma significativa, com o enorme crescimento do CHEGA e da Iniciativa Liberal. Na recente entrevista de Luís Montenegro ao Diário de Notícias (29.04.22, pp 4-7) não encontrei, todavia, qualquer referência à necessidade de adaptar o partido à mudança, de revisão do que não está bem, o que, de resto, ficou bem expresso na reiterada crítica ao “erro gravíssimo, diria mesmo um erro clamoroso” do PSD: “andar com problemas existenciais (…) andar com crises existenciais”, com “complexos ideológicos”. Ora, fica dito com clareza que, se for líder, não se irá ocupar daquilo que, no meu entendimento, é mesmo o problema central do PSD. Luís Montenegro fica-se pela pragmática, pela qualidade da liderança e pela força do seu aparelho autárquico e partidário territorial. Não se preocupa com o problema da representação política, ficando-se mesmo por duas ou três propostas de natureza programática: por exemplo, o tecto fiscal para os jovens entre os 25 e os 35 anos e a alusão ao gravíssimo problema da habitação, quer na óptica da aquisição quer na do mercado de arrendamento (a que, estranhamente, não é dedicada uma palavra sequer no discurso de Moreira da Silva). No essencial, Montenegro continuará a marcha actual sem sobressaltos nem angústias existenciais, reintroduzindo no partido apenas uma elevada dose de pragmatismo. Pelo contrário, o discurso de Moreira da Silva na apresentação da sua candidatura, embora tivesse reconhecido que o PSD não tem um problema de identidade, definindo-o através da tradição social-democrática e liberal-social (palavras suas), pretende, todavia, fazer uma actualização estatutária e das linhas programáticas do partido, porque, reconhece, o mundo mudou. E não o faz por menos do que o que fizeram Bill Clinton ou Tony Blair (e David Cameron, com a linda iniciativa que levou ao BREXIT, digo eu). Refundar o partido, sim. Clinton com os New Democrats e Blair com Third Way. Nada menos, até porque, diz, se verificam circunstâncias equivalentes. E, no meu entendimento, faz bem, seja ele capaz de levar por diante algo parecido com o que os referidos líderes fizeram. No essencial, pretende identificar o PSD como um partido-movimento orientado por causas, ficando, pois, claro que o que dominará serão as causas e não a sua incerta matriz ideológica – que, afinal, também parece pouco importar a Montenegro -, dando palco, em particular, às causas da sustentabilidade ecológica, da transição digital e da economia azul. Se esta orientação indicia uma compreensão de que é preciso fazer alguma coisa para que nada fique na mesma, todavia, parece-me pouco para um combate de reconquista do eleitorado perdido para o CHEGA, para a Iniciativa Liberal e também para o PS, ainda por cima sabendo-se que a tendência de fundo que se está a manifestar um pouco por todo o lado é, sim, a fragmentação do sistema partidário, pelas razões que acima referi. Mas também não é clara esta compatibilização de um partido-movimento com a identidade orgânica histórica do PSD, ainda por cima tendo ficado por definir também as causas específicas (devidamente priorizadas e limitadas em número) por que se baterá, para além daquelas que hoje são verdadeiramente comuns e que não diferenciam este partido de outros. A ideia de partido-movimento, ou de partido-plataforma, a sua versão mais actualizada, tem implicações que interferem necessariamente na sua identidade orgânica, por exemplo, como partido de militantes, e na sua base social, que se torna mais fluida e móvel. E isso terá também implicações na sua estrutura dirigente. Seguramente, esta redefinição alterará a sua identidade, o que contradiz a sua afirmação inicial de que o partido não tem um problema de identidade. Pelo contrário, é porque tem que se torna necessário avançar para a forma partido-movimento start-up. Mas, sinceramente, não sei se o PSD será o partido adequado para esta forma-partido. Se com a sua história e a sua complexidade estrutural poderá adquirir a agilidade e a flexibilidade de um movimento. E também não sei se a fórmula, sugerida por Moreira da Silva, de um PSD com uma “cultura de start-up”, à parte o vanguardismo que pretende sugerir com o uso político desta palavra, será a mais indicada por parecer estar a importar uma linguagem própria da economia empresarial para um corpo vivo com exigências de muito maior complexidade e delicadeza, como são as de um partido. Mas se o objectivo for o de indicar refundação de tipo empresarial, recomeço ou reinício (como na origem a palavra indica), então, mais uma vez estará em contradição com a questão da identidade ou, de outro modo, o recomeço não será suficientemente inovador, mas tão-só de tipo transformista: mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. Mesmo assim, sugiro a Moreira da Silva que peça conselho ao novo Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, que do assunto parece ter vasta experiência.
Assim, com estas limitações e sem que esteja ainda suficientemente clarificada esta linha de rumo inovadora, não me parece que o PSD, com a bagagem doutrinária que ainda carrega (e que, com Montenegro, manterá), esteja pronto para firmar uma robusta identidade política aliada à definição de concretas prioridades programáticas capazes de marcar com nitidez o terreno político em que se move, disputando o terreno eleitoral em que cresceram quer o CHEGA quer a Iniciativa Liberal. Não se alterando a forma-partido, mas assumindo uma sua faceta mais conservadora e mais liberal, diria mesmo liberal-democrática, abandonando as pretensões de se afirmar como partido social-democrático, ou seja, a linha derrotada de Rui Rio, até porque essa é a área em que se move o PS, o PSD poderá aspirar a reverter a tendência que se vem consolidando e evitar o provável crescimento das duas forças emergentes, que mais cedo que tarde o obrigariam a uma política de alianças para chegar ao governo do país. O facto é que estes dois partidos recentes podem exibir hoje 673 mil votos e 20 deputados na Assembleia da República, mostrando claros indícios de possível crescimento.
Por outro lado, à esquerda, e atendendo ao percurso pouco compreensível que o PCP tem vindo a percorrer e que poderá levar à sua efectiva irrelevância política, o Bloco de Esquerda poderá aproveitar a situação reflectindo a fundo sobre o seu posicionamento político e marcando com nitidez o seu espaço relativamente a um PS que se move nos carris tradicionais da social-democracia sem visivelmente incorporar as novas dinâmicas que decorrem da nova cidadania e da nova sociedade digital e em rede. O seu eleitorado confina com o do PS, mas não conseguirá atraí-lo mantendo uma identidade e uma orientação maximalistas. Este, sim, poderia estruturar-se como partido-plataforma ou movimento-plataforma em linha com as mais avançadas formas de organização e mobilização do imenso povo da rede (mas não só, pois precisa absolutamente do corpo orgânico que não tem), afirmando-se à esquerda e brandindo os valores da cidadania esclarecida em vez de continuar com a ladainha do desgraçadinho e do tudo para todos menos para os execrados capitalistas (veja-se o capítulo “O partido-plataforma” entre despolitização e novas formas de participação: que possibilidades para a esquerda na Europa?”, da autoria de Emiliana de Blasio e Michele Sorice, in Santos, J. A. 2020, Política e Democracia na Era Digital, Lisboa, Parsifal, pp. 71-101).
ENFIM, A POLÍTICA
A CLARIFICAÇÃO IDEOLÓGICA é muito importante porque define uma identidade política, um modo de relacionamento com a cidadania, uma orientação programática ancorada numa ideia de sociedade e, sim, um projecto de sociedade. E, para além de tudo isto, define também um modo de encarar a política em si, como exercê-la, a relação com a ética pública, a determinação do espaço de afirmação da ética da convicção e do espaço da ética da responsabilidade, a relação entre direitos e responsabilidades (onde a reivindicação dos direitos nunca corresponde a igual reivindicação de responsabilidades, quando há uma excessiva fixação nas chamadas classes subalternas privadas de direitos, o que hoje é já muito relativo), as fronteiras da liberdade responsável, a educação para a cidadania e o papel da ciência e da tecnologia no crescimento e no desenvolvimento. Pois é. A política não se resolve somente com cardápios programáticos e boas intenções ao serviço do sucesso eleitoral. A política, a boa política é a que sabe que uma sociedade justa, eficiente, harmoniosa e bela deve ser promovida pelo investimento na formação do indivíduo e, depois, na formação do cidadão. Uma sociedade de invejosos, de brutamontes, de mal-educados, de burocratas, de polícias dos costumes e da linguagem e de oportunistas nunca será uma boa sociedade. A boa sociedade só poderá ser promovida por uma política que promova eficazmente os bens públicos essenciais a um desenvolvimento harmonioso da sociedade e que se exija a si própria comportamentos virtuosos e exemplares.
A evolução do PSD interessará muito ao PS pois também ele terá que preservar o seu espaço político de referência, o centro-esquerda. E fá-lo-á com sucesso duradouro quando tiver a ambição de se tornar um partido hegemónico, não no sentido meramente político, mas no sentido ético-político e cultural, o que, infelizmente, não me parece que esteja a acontecer, ao contrário do que parece sugerir Nogueira Pinto (ainda por cima com a carga gramsciana que refere, embora também me pareça que ele alude sobretudo a uma ala do próprio PS e também ao Bloco). Mas interessar-lhe-á também a evolução do PCP e do Bloco de Esquerda na medida em que os seus eleitorados confinam com o seu e ocupam um espaço político onde se exprimem elites avançadas que ocupam importantes interfaces na sociedade civil, um espaço de deliberação pública muito importante, exigente e delicado. E é tudo para recomeçar, embora não numa lógica star-up, depois do que se passou e do que se está a passar, designadamente com a pandemia, com a guerra e a crise económica que lhe corresponde, com a nova configuração do sistema de partidos, a globalização, a sociedade digital e em rede, a nova cidadania e com a inflação a subir para níveis incomportáveis (depois de um longo período de contenção e estabilidade após a entrada da moeda forte euro) e o preço da energia a preços também eles incomportáveis. A velocidade da política é grande e o nosso espectro partidário está hoje confrontado com desafios intensos que irão interferir na geometria política das relações interpartidárias. Cabe aos partidos reinventar-se, sem dúvida, mas também cabe à cidadania ser cada vez mais exigente, auto-organizada e saudavelmente informada e crítica. Ou seja, importa mesmo promover uma autêntica política deliberativa que torne o processo decisional mais qualificado, mas também mais transparente e mobilizador. Se isso for feito ficaremos todos a ganhar. #Jas@05-2022
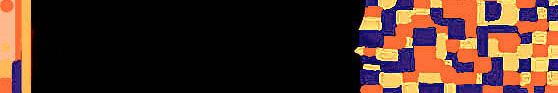
UM NOVO PARADIGMA PARA A SOCIAL-DEMOCRACIA
Por João de Almeida Santos

“Horizonte”. Jas. 04-2022
INTRODUÇÃO
NÃO É NECESSÁRIO ser um especialista em teoria política para constatar que, nesta matéria, estamos a conhecer hoje profundas transformações, como se as placas tectónicas da sociedade se estivessem a mover lenta, mas profundamente. E que, na verdade, se trata de uma mudança de paradigma que os socialistas e sociais-democratas não podem desconhecer, limitando-se a propor receitas económicas e financeiras para o mandato ou para a década ou repropondo uma nova centralidade do Estado na gestão da sociedade, ou seja, falando a linguagem política de sempre. Porque se trata de uma mudança profunda e complexa que toca directamente a natureza da política e que põe em causa o velho sistema de partidos e as tradicionais relações entre a cidadania e o sistema político. É já hoje evidente a clara fragmentação dos antigos sistemas de partidos em toda a Europa. E, todavia, apesar de esta profunda mudança já estar a acontecer à nossa frente, um pouco por toda a Europa, muitos de nós continuam teimosamente a não a ver. Ou porque não sabem ou porque não querem, porque não lhes interessa. Vou, por isso, tentar caracterizá-la, dando o meu contributo.
O EXEMPLO DOS SOCIAIS-DEMOCRATAS ALEMÃES E DOS TRABALHISTAS INGLESES
SEMPRE, ao longo da sua história, os socialistas se viram confrontados, quando o tempo da História acelerava, com a necessidade de redefinir a sua identidade política. Por um lado, demarcando-se, à esquerda, dos seus directos competidores políticos e ideológicos: o marxismo e o anarquismo; por outro, demarcando-se das forças políticas de inspiração liberal ou conservadora. Ou, então, tentando uma síntese construtiva: o socialismo liberal, de que o Partito d’Azione italiano, fundado em 1942, foi um interessante exemplo. Uma posição moderada, portanto: nem tradicionalismo nem revolução, nem darwinismo social nem igualitarismo. Mas reformas profundas, à altura dos desafios. As grandes lutas sociais pelo progresso, pela inovação, pelo conhecimento, pela emancipação, pela justiça, pelos direitos sociais, pelo sufrágio universal e pela liberdade sempre foram travadas com garra pelos movimentos que se inspiravam no socialismo. Olhando, por exemplo, para a história do SPD alemão poderemos ver com nitidez a evolução deste processo: de 1875 a 1989, de Gotha a Berlim, passando pelos Congressos de Erfurt (1891), de Heidelberg (1925, durante a República de Weimar, que assumiu de forma muito aprofundada o Estado Social, dando sequência à inovação de Bismarck, nos anos ’80 do século XIX) e de Bad Godesberg, em 1959. Está lá tudo. Veja-se, por exemplo, o Grundsatzprogramm de Bad Godesberg e a superação definitiva da marca de água marxista. Por outro lado, os socialistas também sempre souberam metabolizar politicamente a evolução do processo social, adaptando os seus programas às mudanças verificadas. Por exemplo, no caso do SPD, no Programa Fundamental, aprovado em Berlim (1989), reconhecendo a crise do modelo industrialista e do optimismo que o acompanhava, o papel da mulher na sociedade e na política, o equilíbrio ecológico, a revalorização social da cultura política. O Labour fez também – após a fracassada tentativa de Hugh Gaitskell, nos anos ’50, inspirada no livro de Tony Crosland, The Future of Socialism, de 1956 (“wealth redistribution, not the end of capitalism, was the goal”; Campbell, 2008: 29, n.1; ver sobre o assunto Jones, 1997) – uma profunda redefinição da sua identidade, com Neil Kinnock, John Smith e Tony Blair, dando origem ao New Labour e saindo finalmente do espartilho sindical e da referência nuclear à classe operária, a “classe gardée”.
Estes partidos acompanharam o andar dos tempos. E chegaram ao poder na sequência destas mudanças (1966-1974, no primeiro caso, com Willy Brandt, Vice-Chanceler e Chanceler, e 1997-2007, no segundo caso, com Tony Blair,). Hoje estamos de novo perante uma mudança de paradigma. Tento, por isso, fazer uma primeira aproximação à mudança, começando por formular 13 Teses.
TREZE TESES
1.1. Primeira Tese
As formações políticas clássicas de inspiração socialista ou social-democrata, governadas segundo a lógica funcional das grandes organizações, disseminadas territorialmente e com um vasto corpo orgânico, com precisa referência de classe (a “classe gardée”), ideologicamente muito intensas, modeladas ainda, e no essencial, segundo a lógica do industrialismo e das relações sociais daí resultantes (as velhas relações de produção), ancoradas no “sentimento de pertença” como matriz da integração política e da decisão eleitoral, entraram em crise perante os desafios da sociedade pós-industrial, pós-moderna, da informação e da comunicação e, agora, da sociedade digital e em rede, projectada na globalização. A informação passou a partilhar a participação e a integração política com o “sentimento de pertença”, pondo definitivamente em crise o exclusivismo deste.
1.2. Segunda Tese
A assunção, mesmo quando somente implícita, de uma filosofia de inspiração dominantemente comunitária ou neocomunitária (seja de classe ou de grupo) como eixo fundamental da narrativa política da esquerda moderada, contraposta à inspiração liberal, fundada na centralidade do indivíduo singular, deixou de fazer sentido. Aquela assunção – independentemente da sua matriz pré-moderna –, que garantia uma forte coesão entre os seus membros, sempre foi indutora de desresponsabilização individual do cidadão, que via sempre o seu insucesso como resultado de vícios do sistema (social), afastando-se das próprias responsabilidades. Assunção que tinha ainda, como seu contraponto, um efectivo condicionamento da própria liberdade. É inspiradora, a este respeito, a afirmação de John Kennedy: não perguntes o que é que o teu País pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer pelo teu País. Se confinada e assumida sectorialmente, a ideia de comunidade é certamente muito importante, mas não pode dominar e determinar o novo paradigma. Nem sequer propondo novas comunidades de natureza digital e desterritorializadas. Porque no centro do paradigma está um indivíduo singular complexo que se assume, ao mesmo tempo, como cidadão, produtor e consumidor, inscrevendo-se em múltiplas e diferenciadas pertenças ou relações, mutáveis no tempo e no breve prazo. A mobilidade e a flexibilidade são, de facto, variáveis fundamentais do sistema. Também no centro do sistema representativo e da democracia está o indivíduo singular (um homem, um voto), não as comunidades, as classes ou os grupos sociais. O sistema foi concebido para ele e não para as comunidades e, por isso, foi sempre combatido pelas visões comunitaristas e organicistas, de esquerda ou de direita, da sociedade. Ou seja, o indivíduo singular sempre foi o referente originário do sistema representativo, apesar de nas suas concretas expressões históricas ter sido substituído por organizações que intermediaram o exercício da sua própria soberania política. O que historicamente se compreende devido às condições gerais de exercício da política e, em particular, à generalizada iliteracia política do cidadão comum. Mas hoje, com o crescimento histórico do chamado espaço intermédio – da imprensa à rede -, a renovada ênfase no indivíduo singular fez subir à boca de cena a questão da relação entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade, sendo certo também que aquela foi sempre a ética dominante à esquerda, pela importância que nela tinha a frente ideológica e o sentimento de pertença a comunidades orgânicas. Ora, a reposição do indivíduo singular no centro do sistema leva-nos à necessidade de balancear não só esta relação, mas também a relação entre vários princípios. Em primeiro lugar, a intensificação dos direitos, das liberdades e das garantias e dos deveres e responsabilidades implica necessariamente um justo reequilíbrio entre os primeiros e os segundos. Ou seja, à intensificação moderna dos primeiros deverá corresponder também e necessariamente a intensificação dos segundos, sendo certo que na perspectiva comunitária uns e outros estão dominantemente subsumidos na própria ideia de comunidade orgânica, que, naturalmente, os limita. Em segundo lugar, o recentramento da questão da ética pública: colocá-la mais na esfera da ética da responsabilidade do que na da ética da convicção de modo a melhor garantir a prevalência do interesse geral sobre o interesse de parte. O que se compreende, já que a ética pública está mais ancorada nos grandes princípios que enquadram a democracia e o Estado de Direito – as Cartas de Direitos Fundamentais: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000-2009) – do que na esfera das ideologias. Está ancorada naquilo que, com Habermas, poderíamos designar como “patriotismo constitucional” (Verfassungspatriotismus), reconhecimento e adesão voluntária aos princípios estruturantes de uma constituição democrática. E é aqui que ganha, à esquerda, uma nova centralidade a ética da responsabilidade, antes de algum modo subalternizada a favor da ética da convicção. Um novo equilíbrio, portanto. Ou seja, a ética da convicção, ao elevar-se ao patamar da responsabilidade político-institucional (parlamentar ou governativa, por exemplo), deverá ser sempre balanceada e temperada com as exigências da ética da responsabilidade. Esta diferença poderá encontrar-se, por exemplo, na relação entre um programa de partido, um programa eleitoral e um programa de governo.
1.3. Terceira Tese
O sistema representativo clássico está hoje sujeito a exigências que já não cabem no interior da sua clássica estrutura formal. Não é por acaso que muitos falam de democracia pós-representativa (Alain Minc), pós-eleitoral (Pierre Rosanvallon), deliberativa (Habermas), participativa ou mesmo de democracia digital. Se antes isto poderia significar apenas fecunda imaginação teórica, hoje já representa um processo real. Vejamos, por exemplo, a tese de Rosanvallon (em Le Monde, 8/10.05.09). O que ele nos diz é que temos de fazer três operações no interior do universo democrático: a) “inventar formas não eleitorais de representação” (palavras suas); b) assumir a democracia como uma «forma de sociedade», ou seja, como algo mais do que um simples regime político; c) relançar a cidadania para além da sua mera expressão eleitoral. Ou seja, expandir a democracia e a política para além das suas dimensões puramente funcionais. Portanto, formas não eleitorais de representação, democracia como forma metapolítica de sociedade e cidadania pós-eleitoral, isto é, que não se reduza, portanto, a mera função do sistema político para fins eleitorais. Trata-se de uma tentativa de captar o que já flui no interior dos sistemas democráticos e que já não cabe no interior dos seus módulos formais. Ou seja, a sociedade moderna já encontrou canais e formas de expressão política que trasbordam as margens do clássico sistema representativo, agindo, depois, sobre ele, com uma tal “pressão ambiental” que, não obtendo resposta do sistema, vem reforçar ainda mais a chamada “discrasia da representação”, que resulta sobretudo da endogamia do sistema de partidos. Estes canais e formas de expressão política da cidadania exigem, pois, novas formas de resposta num espaço público deliberativo que também evoluiu e se alargou, sobretudo com a rede. Emerge, assim, a chamada política deliberativa como resposta a esta crise, que, no fundo, é uma crise de representação.
Por várias razões:
1. A política democrática, no processo de constituição e de legitimação do poder, deslocou o seu centro geométrico das estruturas representativas formais não só para o espaço partidário, mas também para o espaço público mediatizado, passando o voto a servir sobretudo para designar representantes e subalternizando a sua função de legitimação para o mandato. Esta redução do valor de uso do voto deveu-se, paradoxalmente, ao crescimento do chamado espaço intermédio, ou seja, ao papel da comunicação na constituição e na gestão do poder. A legitimidade, continuando, de facto, a ser formalmente de mandato, passa a ser politicamente flutuante, não se confundindo, todavia, com a chamada legitimidade de exercício, conceito mais ambíguo e menos denotativo, uma vez que a legitimidade não está centrada no exercício, mas no reconhecimento desse exercício, que, esse, sim, é flutuante. Flutuante, porquê? Porque sujeita a um permanente escrutínio no espaço público deliberativo. O que aconteceu foi o seguinte: numa primeira fase, a política conheceu um inevitável processo de intermediação, quer através dos partidos quer através dos media, o que potenciou o poder dos intermediários e diminuiu o poder dos representados. A intermediação e o poder dos media levaram a um tão forte condicionamento da representação que a legitimidade política passou a ter de ser confirmada permanentemente, ou seja, passou a ser flutuante, levando, pois, a uma relativização ou desvalorização política da legitimidade de mandato. Lembro que nos finais do século XVIII informar acerca do que se passava no Parlamento inglês, entre eleições, era considerado crime. Ora, o crescimento do espaço intermédio provocado pelo advento da rede inaugurou um processo de desintermediação progressiva e um crescente protagonismo da cidadania, o que relativizou ainda mais o valor político da legitimidade de mandato e dos organismos a quem estava confiada a dupla intermediação (representação política e representação do real, partidos e media). É aqui que se evidencia o papel do novo cidadão emergente, o prosumer político e informacional. Em palavras simples: o crescimento da informação confere poder ao cidadão e obriga o poder a prestar contas permanentemente. A legitimidade passa a ser flutuante e a exigência de procedimentos deliberativos aumenta significativamente;
2. este deslocamento da política ocorreu em perfeita sintonia discursiva com o poder mediático, configurando o seu sistema operativo à medida das exigências deste, sem cuidar de preservar a sua autonomia e abrindo, pelo contrário, espaço ao protagonismo e a um desmesurado poder funcional dos media sobre o coração do sistema político e institucional, convertendo-os, afinal, na outra face da mesma moeda, a do poder;
3. deste modo, permitiu que a soberania do cidadão fosse confiscada ou capturada por instâncias de intermediação diferenciadas e autopoiéticas, resultando daqui uma evidente “discrasia da representação” política e uma subalternização da própria cidadania; a legitimidade flutuante estava, naturalmente, sujeita a um forte condicionamento por parte dos media, o que também se veio a atenuar com a emergência de um novo tipo de espaço público deliberativo centrado na rede;
4. portanto, duplo desvio da soberania individual, na fase da chamada democracia do público: para os partidos, por exemplo, no plano da propositura de candidatos e listas, e para os media, no plano da interpretação e da representação do real, a que, no plano político, correspondeu uma captura do discurso, da atenção social e do processo de agendamento por parte do establishment mediático; ou seja, a própria ideia de representação política é agora partilhada com os media, assumidos intérpretes orgânicos da sociedade civil junto do poder político informal (sistemas de partidos, enquanto organismos privados da sociedade civil politicamente organizada) e formal (parlamento e governo).
5. Ora, só se pode compreender a ideia de relançamento da cidadania se ela representar, em primeiro lugar, uma reapropriação, pelo cidadão, da soberania confiscada ou capturada quer pelos directórios partidários (partidocracia) quer pelos directórios mediáticos (mediacracia), para não falar dos directórios judiciais, em crescente e perigoso protagonismo político (no mais benigno dos casos, o protagonismo do Tribunal Constitucional, estranhamente promovido pelos próprios partidos políticos); e, em segundo lugar, e por consequência, uma reposição do valor de uso do voto, designadamente através de um reforço da “cidadania activa” a montante e a jusante dos processos eleitorais para uma maior qualificação da decisão político-eleitoral da cidadania. Porque se alguma vantagem houve no deslocamento do centro da deliberação política para esse “não-lugar” que, numa primeira fase, acabou por se confundir com o establishment mediático, verdadeiro guardião do espaço público (ou gatekeeper), ela exprime-se agora, com a sociedade digital e em rede, através da emergência do cidadão individual como agente político directo, prosumer, no novo espaço público deliberativo digital em condições de se auto-organizar e se automobilizar politicamente (com uma lógica diferente da lógica das organizações políticas tradicionais) e com capacidade efectiva de influenciar a “agenda pública”, tantos são os canais disponíveis de acesso a esse novo e gigantesco “não-lugar”, para onde, afinal, também já migraram os próprios media.
6. Não é por acaso que, como veremos, os novos movimentos (Syrisa, M5S, Podemos, Ciudadanos, etc., etc.) falam, todos, de devolução do poder ou da soberania à cidadania. E que Castells, a propósito da Rede, fala, sim, num ensaio de 2012, “A Política em Atraso na Era da Internet”, do (re)nascimento da “democracia de cidadãos”, sucedânea da chamada “democracia do público” e da “democracia de partidos” (Castells, 2012).
7. Aqui, sim, teríamos uma democracia deliberativa, praticável a partir desse “não-lugar” que é a Rede, no seu sentido mais amplo e não meramente instrumental (“no sense of place” – fórmula que já Joshua Meyrowitz usava para caracterizar o espaço televisivo; Meyrowitz, 1985), centrada num cidadão não dependente nem dos gatekeepers mediáticos nem dos comunitarismos militantes e resistente ao exclusivismo e ao fechamento dos directórios partidários. A verdade é que nunca como hoje os cidadãos tiveram tantos meios de livre acesso ao espaço público, enquanto prosumers, produtores e consumidores de política e de comunicação, embora reconheça que também nunca como hoje os poderes fortes organizados tiveram tanto poder de colonização ou de opressão simbólica do real, tantos meios para agir instrumentalmente sobre as consciências (veja-se Santos, 2013; 2010). É aqui que reside a viragem e os socialistas e sociais-democratas devem assumi-la com a radicalidade que se espera de quem deve olhar mais para o futuro do que para o passado.
1.4. Quarta Tese
Deixou, pois, de ter sentido que a política continue a olhar para a esfera da comunicação numa lógica puramente instrumental e de spin doctoring, olhando para os media e para a rede como meros veículos de propaganda ou marketing. Não só porque aqueles se tornaram protagonistas políticos e poderosos agentes económicos portadores de concretos interesses (não respeitando os códigos éticos, aceites e/ou elaborados por eles próprios), mas também porque, afinal, já estão a conhecer sérias dificuldades perante a ruptura do próprio modelo de exercício do poder comunicacional. Mais do que meros instrumentos de comunicação ou espaço público mediatizado, o que hoje temos é um gigantesco espaço público intermédio com dimensão ontológica para onde tudo, incluídos os próprios media, tende a migrar: a Rede. Ou seja: a sociedade de massas deu lugar à sociedade digital e em rede. E, portanto, a mass communication deu lugar à mass self-communication (Castells), à comunicação individual de massas, onde o indivíduo singular ou o cidadão têm condições para um protagonismo como nunca tiveram. E aqui está a razão por que devemos finalmente transitar da lógica comunitária e da lógica de massas para a lógica da mass self-communication, onde a centralidade do indivíduo singular e complexo é evidente (veja-se sobre este assunto Castells, 2007).
1.5. Quinta Tese
Nesta nova fase evolutiva dos sistemas sociais e da democracia ganha novo significado e enquadramento a questão da hegemonia, que tem andado tão arredada do debate político e dos horizontes do establishment partidário, preocupado exclusivamente com o pragmatismo de curto prazo. E, todavia, esta questão é central num mundo cada vez mais simulacral, fragmentário, imprevisível e rápido. Só que esta questão não deve agora ressuscitar a fórmula ideológica de matriz comunitária, devendo, isso sim, repor-se no sentido da reconstrução de uma mundividência estruturada analiticamente, de uma cartografia cognitiva e ético-política virada para o indivíduo singular e para os seus direitos e responsabilidades. Eu diria, pois, uma mundividência ético-política que exprima claramente a orientação ideal do socialismo democrático ou da social-democracia e na qual a cidadania se possa maioritariamente rever. Não se trata, pois, de narrativas ideológicas, mas de cartografias cognitivas (Fredric Jameson) que ajudem o cidadão a orientar-se analítica e criticamente na sociedade, certamente com bússolas valorativas, mas também com instrumentos cognitivos e analíticos de largo espectro cultural e civilizacional. Lembro a bela proposta de Friedrich Schiller, nas Cartas Sobre a Educação Estética do Homem (veja-se, a este propósito, o que escrevi em Santos, 1999: 42-51), de um Estado Estético que centrasse na estética a base da sociabilidade, da cidadania e da formação humana. A nova hegemonia traduziria, portanto, um iluminismo renovado e crítico, voltado para o crescimento cultural e civilizacional da cidadania e para uma visão proactiva do saber. E, de certo modo, retomaria a velha ideia desse brilhante marxista italiano, um dos pais do chamado marxismo ocidental, Antonio Gramsci.
1.6. Sexta Tese
As próprias ideias de intermediação política e de intermediação comunicacional, com delegação de soberania nas grandes organizações políticas e comunicacionais por parte da cidadania, estão em crise devido à emergência deste indivíduo singular como novo protagonista e centro complexo de informação, de partilha, de decisão e de intervenção, portador de múltiplas e diferenciadas pertenças: prosumer. O processo de desintermediação da política e da comunicação é progressivo e tenderá a consolidar-se cada vez mais quer como afirmação do indivíduo singular quer como transformação qualitativa das relações entre as organizações (designadamente partidos e media) e a cidadania, com superação progressiva do gatekeeping comunicacional e político. Os partidos deverão, por isso, confrontar-se com esta nova realidade, tomando-a na devida consideração.
1.7. Sétima Tese
Mas, a par da emergência de um novo tipo de cidadania activa e do protagonismo do indivíduo singular, algo de novo também está a surgir nas relações entre a política e a economia. Hoje, como afirma Wolfgang Streeck (2013), em Gekaufte Zeit, já nos encontramos perante, não uma constituency, uma única fonte remota de soberania, mas perante duas: a dos cidadãos e a dos credores. Ou seja, a política já não se pode limitar a agir com os olhos postos na nova cidadania, mas também deve ter em consideração os grandes credores que financiam a dívida pública. E isso, digo-o desde já, deveria levar os decisores políticos a promover uma efectiva viragem no financiamento da dívida pública. Ou seja, a desenvolver uma política activa para a poupança, através dos instrumentos reguladores de que o Estado dispõe (por exemplo, em Portugal, através da Agência de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público – IGCP-E.E.E. ou da Caixa Geral de Depósitos), deixando a política de juros de estar irremediavelmente capturada e decidida por uma banca privada que tem revelado uma insustentável irresponsabilidade na própria gestão, provocando enormes danos nas finanças públicas e aos próprios clientes. Se tem de haver credores, e agora com o estatuto de nova constituency, então que eles se identifiquem cada vez mais com a cidadania. Ou seja, a nova cidadania não só se deve exprimir no plano comunicacional e político, mas também no plano financeiro, em particular no das finanças públicas, e não só através dos impostos. O que está em linha com a nova visão que estou a tentar delinear. Deste modo, relativizar-se-ia também o poder das oligopólicas agências de rating (da Fitch, da Standard&Poors e da Moody’s) na medida em que se subalternizaria o poder dos credores internacionais ao devolver em grande parte à cidadania a fonte da soberania e da legitimidade. Ora aqui está, no meu entendimento, uma boa linha de demarcação relativamente às forças neoliberais e conservadoras ou neoconservadoras. O Estado como regulador financeiro e promotor activo de independência financeira relativamente aos mercados internacionais de capitais, no que diz respeito à dívida pública. De resto, isto já foi praticado há bem pouco tempo e com bons resultados. E verifica-se também nos países que têm a dívida pública ancorada essencialmente nos recursos financeiros internos do país e não nos mercados internacionais.
1.8. Oitava Tese
Esta situação tem directas implicações na autonomia do Estado e na forma como age em matéria social. Chegou, pois, o momento de deixar de assumir a ideia de “modelo social europeu” como dogma e de repensar o Estado Social desde a raiz, mantendo firme, claro, a ideia de justiça social ou distributiva, ou seja, a ideia de que uma sociedade é melhor se garantir aqueles bens públicos essenciais que geram uma melhor cidadania em todas as suas dimensões. Não se trata, obviamente, de caridade, mas sim de maior eficácia, de maior qualidade de vida, de progresso individual e de avanço global da sociedade que, depois, dão vida a uma cidadania mais robusta, mais culta, mais preparada e capaz de promover mais e melhor crescimento e desenvolvimento, num círculo virtuoso. Neste sentido, a diferença relativamente à justiça comutativa dos liberais é muito clara. O mercado, funcionando numa lógica de curto prazo, nunca estará em condições de garantir todos os bens públicos essenciais, os bens transgeracionais, como os ambientais, por exemplo. O desmantelamento da esfera pública e a mercantilização integral de todos os bens públicos ou sociais continua a não ser uma boa solução porque reduz as bases do crescimento e do desenvolvimento social. Mas, por isso mesmo, chegou o momento de repensar radicalmente a filosofia que inspira o Estado Social, ou seja, de o referir a cidadãos que já se encontram em condições de tutelar responsavelmente o seu próprio futuro, sem necessidade de confiar integralmente a sua tutela a uma burocracia (incluída a política) que, depois, nem sequer é capaz de garantir o contrato social que subjaz à transferência dos recursos individuais para o Estado. Por exemplo, para fins de reforma (a famosa, recorrente e eterna questão da sustentabilidade financeira da Segurança Social; veja-se o ensaio de João Cardoso Rosas, 2013, sobre o Estado Social).
1.9. Nona Tese
Se é verdade que, por um lado, o financiamento da dívida pública através dos mercados financeiros internacionais provocou um reajustamento nos centros nucleares de decisão, fazendo entrar directamente novos protagonistas políticos exógenos à cidadania, também é verdade que, por outro lado, muitas esferas de soberania foram também deslocadas para o espaço político da União, com directas consequências sobre a liberdade de acção dos governos nacionais. É, de resto, por isso que, em atmosfera de crise, muitos já propõem o regresso ao velho Estado-Nação e à moeda nacional (como Streeck, por exemplo) e que outros, pelo contrário (como Habermas), propõem o reforço institucional da União e a assunção de políticas comunitárias em matérias que têm estado arredadas desta esfera. Neste aspecto, aos socialistas não é muito difícil marcarem o seu próprio terreno. A luta de Altiero Spinelli, um dos homens do Manifesto de Ventotene, sempre foi muito inspiradora. E não faria mal retomar a sua luta contra o predomínio das diplomacias nacionais na definição das políticas europeias e a favor da constitucionalização da União e da construção de uma democracia e de uma cidadania verdadeiramente supranacionais (a este respeito veja-se Habermas, 2001). Esta orientação, se for perseguida com tenacidade, permitirá resolver o problema da convergência comunitária em matérias tão importantes como a fiscal e a da segurança e defesa, por exemplo.
1.10. Décima Tese
A política mundial sofreu uma profunda mudança com o fim do bipolarismo estratégico, político, económico e ideológico. Estamos agora perante um multilateralismo algo caótico, sem âncoras sólidas capazes de garantir paz e desenvolvimento. Começamos, assim, a assistir ao protagonismo, designadamente financeiro, de novas potências emergentes (China e Índia por exemplo), mantendo-se como âncora sólida os Estados Unidos, mas também a Rússia de Putin, com um significativo protagonismo internacional e com uma grande zona cinzenta de influência (que agora está a tentar alargar à bomba, por exemplo, com a invasão da Ucrânia). Neste intervalo, e na ausência de uma clara delimitação de zonas de influência que possam ser mais governáveis e negociáveis diplomaticamente pelos agentes poderosos da cena internacional, detonam conflitos regionais e ameaças globais que alastram como mancha de óleo. A China há muito que compreendeu que as finanças são o mais sofisticado e importante instrumento geopolítico (ou as finanças como “a continuação da política por outros meios”). A tradição do socialismo democrático ou da social-democracia é também aqui muito clara nas suas orientações, sobretudo na defesa da paz e no direito dos povos à autodeterminação e à liberdade, ideias que devem estar cada vez mais ancoradas numa ideia avançada de Europa, em construção, no sentido de um seu efectivo reforço político e institucional. A União Europeia como protagonista mundial, dotada de um poder político interno bem delineado e legitimado, poderá ser decisiva para a reorganização do espaço político internacional, ajudando a neutralizar ameaças regionais que em tempos de globalização se tornam verdadeiras ameaças globais. Ela poderá ser também, por um lado, um poderoso instrumento de resposta eficaz à globalização de processos e de eficaz tutela dos interesses dos seus próprios Estados nacionais e da cidadania europeia e, por outro, o garante de conquistas civilizacionais que só no espaço da União se puderam realizar, afirmar e consolidar. Ou seja, a União Europeia como detentora de um sólido soft power e de capacidade política de o exercer.
A globalização não deverá transformar-se num processo globalitário, onde pontifiquem impérios que imponham livremente a sua vontade, mas também não deverá alimentar regressos aos nacionalismos e aos particularismos. A globalização não é, de facto, uma doutrina, porque ela representa a fase mais recente da evolução das relações internacionais, não sendo, pois, possível, nem sequer desejável, submetê-la a um processo de desregulamentação global total, onde cada um imporia a sua lei, ou então a uma dinâmica regressiva, com a imposição de fortalezas nacionais. A União Europeia representa, neste sentido, o elemento virtuoso que pode funcionar eficazmente como regulador desta nova realidade. O que só acontecerá se se dotar definitivamente de mecanismos de legitimação e de decisão internos verdadeiramente eficazes.
1.11. Décima Primeira Tese
Entretanto, e como nunca aconteceu no passado, a globalização já não se esgota no accionamento dos meios de comunicação tradicionais (dos transportes terrestres, viaturas ou caminho de ferro, aos barcos, aos aviões), mas insinua-se cada vez mais como globalização digital de processos e conteúdos, através da Rede. O que exige, a quem não tem medo do futuro, o reconhecimento de que a problemas globais só é possível responder com instrumentos e soluções globais, na óptica de um cosmopolitismo que sempre serviu de âncora ideal ao socialismo democrático e à social-democracia. Uma coisa é a lógica globalitária (por exemplo, dos mercados financeiros, dos fundos de pensões ou das famosas EPZ, Export Processing Zones; veja-se Klein, 2002), outra é a lógica de um cosmopolitismo crítico e integrativo, inspirado no racionalismo iluminista, que sempre inspirou os socialistas. De resto, a União Europeia é filha dele.
1.12. Décima Segunda Tese
O poder tradicional está a conhecer uma rápida mudança de paradigma: do poder organizacional, centrado na eficácia e na lógica exclusiva das grandes organizações, ao poder diluído, ou seja, a reconquista pela cidadania, sobretudo através da Rede, da soberania confiscada. Os partidos não podem, por isso, continuar encerrados nos seus limitados mecanismos internos de selecção da classe dirigente nem podem continuar a ver o mundo como uma projecção auto-referencial, com o permanente risco de uma progressiva perda de poder para movimentos políticos de mobilidade variável capazes de a cada momento interceptar os fluxos eleitorais com os novos meios de auto-organização e de automobilização, TICs e redes sociais. Movimentos que, de resto, podem ser facilmente colonizados, logo a partir da própria Rede. A introdução de primárias abertas para os reais centros de poder (concelhias, distritais, Secretário-Geral, no caso do PS, por exemplo), os que fornecem os dirigentes políticos máximos do Estado, não sendo milagrosa, pode constituir um primeiro momento muito importante no processo de metabolização da nova natureza do poder centrada nos prosumers. Nem sequer é, como se sabe, um processo novo, permitindo, todavia, superar os estrangulamentos próprios dos processos eleitorais internos puramente orgânicos e de tipo corporativo. A cidadania, sendo chamada a cooperar na selecção dos dirigentes partidários e nos candidatos a funções de Estado poderá contribuir decisivamente para injectar sangue novo em organismos que se estão a tornar cada vez mais endogâmicos, auto-referenciais e socialmente anémicos.
1.13. Décima Terceira Tese
Bem sabemos que só os ricos se podem permitir um Estado pobre, como se dizia no Grundsatzprogramm do SPD, aprovado em Berlim, em 1989. Mas não há dúvida de que não é possível continuar a atirar o emprego para cima do Estado, financiado por todos nós e alocando os recursos financeiros a uma gigantesca organização de serviços que tende a reproduzir-se por inércia. E também aqui os socialistas e os sociais-democratas devem dar o exemplo com coragem. Com efeito, não é muito difícil compreender que a crise da esquerda tem muito a ver com a crise do Estado, por excesso de identificação daquela com este. Sem deixar de ter na devida consideração esta ideia do programa do SPD, de valorizar as lições que resultaram da crise pandémica e de recusar com firmeza a ideia de Estado mínimo, está a tornar-se cada vez mais necessário desancorar a ideia de esquerda da ideia de Estado, tal como tem vindo a ser assumida. Por um lado, repondo a centralidade no indivíduo singular e na sociedade civil e, por outro, reconhecendo que, sendo os problemas cada vez mais globais, por isso, as soluções deverão ser cada vez mais supranacionais. O cosmopolitismo de que a esquerda do futuro se deve reivindicar encontra precisamente nesse indivíduo singular complexo, que bem pode ser o novo prosumer, o seu referente ideal. De resto, é preciso nunca esquecer que a própria ideia de Estado representativo é o contraponto da ideia de indivíduo e não da ideia de comunidade. Trata-se, pois, simplesmente, de repor a relação de uma forma mais directa e interactiva, reequacionando o papel das instâncias de intermediação (por exemplo, partidos e meios de comunicação), a caminho de uma progressiva desintermediação e do estabelecimento de relações mais abertas, fluidas e flexíveis entre a lógica organizacional e a cidadania. Mas trata-se também de incorporar a variável supranacional no processo de decisão relativo aos grandes dossiers, em particular a variável UE, em que nos integramos e que nos conforta com consistentes fundos estruturais e com indispensáveis intervenções do Banco Central Europeu nos períodos de maior crise.
UM NOVO PARADIGMA EM 14 PONTOS
AS TENTATIVAS DE AGGIORNAMENTO do socialismo democrático ou da social-democracia aconteceram em 1956, com o Labour, e em 1959, em Bad Godesberg, com o SPD, que se libertou definitivamente da chancela marxista – a ética cristã, o humanismo e a filosofia clássica alemã passaram a ser os seus novos pilares ideais -, assumindo-se como partido do povo (e não de classe); mais tarde, em 1984, em Essen, iniciou um novo processo de reconfiguração da sua identidade relativamente ao optimismo industrialista e à recusa da tradição marxista, que iria desembocar no Congresso de Berlim, em 1989. Também na Inglaterra, ao mesmo tempo (1985), acontecia um novo e complexo processo de redefinição da identidade política e ideal do Labour, de Neil Kinnock a John Smith, a Tony Blair (entre 1985 e 1997), procurando responder às novas exigências dos catch all parties (partidos sem “classe gardée”, profissionalizados, interclassistas, de baixa tensão ideológica), que começavam a dominar a cena política, reconfigurando o partido à medida da nova democracia do público, uma passagem obrigatória entre a chamada democracia de partidos e a democracia de cidadãos (veja-se, a este propósito, Manin, 1995, e Castells, 2011), ou seja, a superação definitiva da marca da “classe gardée” na identidade partidária. Ou seja, verificou-se uma espécie de “laicização” integral da narrativa política do Labour. Acabaram (Tony Blair, num processo nada fácil) com a marxista Cláusula 4 e com o enorme poder dos sindicatos, universalizando o voto individual (acabando, na era de John Smith, com o voto colectivo dos sindicatos), passaram a olhar para a cidadania como a base de uma stakeholder society, onde cada cidadão era considerado como um accionista ou co-interessado, titular de interesses e de direitos, de dividendos sociais (“strategic goods as education, jobs, income and wealth” – Stuart White), mas também de deveres e responsabilidades sociais. E esta, apesar de pouco apreciada em certos sectores da social-democracia (incluída a portuguesa), foi uma revolução na óptica de uma esquerda que sempre proclamou o primado dos direitos, liberdades e garantias, deixando na penumbra a ideia de dever e de responsabilidade individual. “No rights without responsabilities!”, viria a dizer, quase gritar, Anthony Giddens.
A viragem do Labour, que ficaria conhecida como “Terceira Via”, levaria Blair ao Poder por dez anos, sendo certo que a sua erosão foi devida mais à aliança com os Estados Unidos – no caso Iraque – do que à política interna.
Refiro o caso do New Labour apenas para sublinhar que, em certos momentos, mais do que afunilar a política em cardápios financeiros, económicos e fiscais como programas de governo, certamente importantíssimos, é necessário também interpretar os tempos e as limitações das formas temporais que as organizações sociais assumem, dando-lhes respostas ético-políticas, culturais e civilizacionais. Blair centrou-se na identidade do Partido e nas exigências de comunicação com os ingleses. Hoje, está a tornar-se cada vez mais necessário prosseguir na busca de novas âncoras que enrobusteçam socialmente a identidade ético-política dos socialistas e sociais-democratas.
Já formulei os principais pontos de ruptura com que nos confrontamos hoje. E é claro que o modelo do New Labour (ou o Neue Mitte, do agora execrado Schroeder, pelas suas ligações à Rússia de Putin) está, também ele, em parte, ultrapassado, porque a mudança já é mais profunda. Traduzi-la-ia, pois, em catorze pontos, para glosar a famosa agenda de Wilson:
- afirmação plena do indivíduo/cidadão/eleitor/consumidor/prosumer como centro complexo de pertenças e de relações que exprime uma lógica pós-organizacional, pós-ideológica, pós-representativa, mas também pós-comunitária, que não anula, mas traduz, reconverte e projecta, numa nova dialéctica, as formas organizacionais, ideológicas, representativas e comunitárias;
- relativização do poder das grandes organizações, na política e na comunicação, mas também na economia, onde se verifica uma persistência crítica de desigualdade estrutural entre o poder da grande empresa – muitas vezes a funcionar em registo de monopólio, de oligopólio ou de cartel – e os consumidores singulares. Este poder organizacional representa um grave handicap para a cidadania, incapaz de se contrapor com eficácia ao seu poder frequentemente discricionário e lesivo dos seus interesses como consumidora (veja-se a barreira intransponível dos Call Centers das grandes empresas, por exemplo, no espaço das telecomunicações, quando um problema mais difícil se põe ao consumidor);
- mobilidade e rapidez crescente na gestão dos processos políticos, comunicacionais, financeiros e económicos;
- acesso generalizado a plataformas digitais de informação e comunicação móveis altamente sofisticadas e possuidoras de um fortíssimo potencial de estruturação/desestruturação das relações sociais e humanas, em todas as suas dimensões;
- quebra drástica no valor tendencial da intermediação política e comunicacional, ou seja, da representação convencional, com a consequente e progressiva desintermediação de processos, para a qual se torna necessário desenvolver diversas literacias, designadamente a digital e informacional, em condições de animar a participação da sociedade civil no processo deliberativo;
- mutação profunda no próprio conceito de poder, com a emergência do poder diluído;
- centralidade da ética da responsabilidade na definição da ética pública, com remissão da ética da convicção para a esfera privada da sociedade civil, lugar onde se constrói a hegemonia ético-política e cultural;
- nova hegemonia centrada numa visão ético-política do mundo estruturada a partir de um cosmopolitismo crítico que funcione como sólida cartografia cognitiva e ético-política referencial para o cidadão;
- reequilíbrio da relação entre direitos, liberdades e garantias e deveres e responsabilidades: “no rights without responsabilities” (A. Giddens);
- reequilíbrio entre liberdade e igualdade que assente numa revalorização do indivíduo singular e na sua relação com os princípios acima referidos: nem igualitarismo nem darwinismo social;
- promoção das ideias de democracia e de cidadania supranacionais, articuladas com uma visão cosmopolítica e crítica do mundo;
- uma nova relação entre cultura e civilização, fazendo da cultura a âncora da civilização e colocando na estratégia política de promoção do progresso civilizacional a centralidade do indivíduo singular como sujeito complexo, informado e culto capaz de intervir criticamente como decisor nas causas de dimensão pública; esta relação está a tornar-se cada vez mais necessária visto o crescimento exponencial das TICs e das redes sociais com fortíssima capacidade invasiva sobre a vida quotidiana e as relações sociais, do plano público ao próprio plano privado e da intimidade; as novas plataformas digitais disponíveis, por exemplo, o Meetup (que esteve na origem do Movimento5Stelle) ou o MoveOn.Org (que contribuiu para a vitória de Obama e para o sucesso de Bernie Sanders), são bem indicativas deste poder emergente que tem o seu centro mobilizador no cidadão (veja-se, a este propósito, a excepcional obra de Ceri & Veltri, 2017);
- esta conexão pode limitar com eficácia os efeitos disruptivos de meras políticas aleatórias e fracturantes de causas civilizacionais como marcas definidoras de uma identidade política, sem cartografia cognitiva e ideal e subsidiárias do “politicamente correcto”;
- o progresso civilizacional não poderá, portanto, prescindir da centralidade dada à cultura e ao saber, no momento em que a ciência e a tecnologia já são as forças produtivas dominantes e fundamentais e em que a generalidade dos cidadãos já está dotada de ágeis instrumentos (as TICs) de participação e de livre acesso à esfera pública deliberativa, quer como consumidor quer como produtor.
UMA NOVA ESFERA PÚBLICA DELIBERATIVA
PAPEL DECISIVO nestas profundas transformações está a ser desempenhado pela Rede, grande responsável, juntamente com o crescimento do sistema informativo, pela mudança de paradigma. Deixou de ser possível continuar a pensar exclusivamente em termos de (a) legitimidade de mandato, ou seja, de estabilidade temporal da legitimidade da representação política; (b) comunicação instrumental (spinning e derivados); e (c) estruturação orgânica da política. Acresce que a evolução da globalização, em grande parte também devida à Rede, sobretudo a globalização de processos, veio introduzir, como já referi, novas constituencies, a juntar à da cidadania nacional, ou seja, a dos credores internacionais, mas também a da União (no caso da Europa). Trata-se, então, não só de uma “cidadania” politicamente mais alargada, mas também de outros fundamentos constituintes e legitimadores do poder. Acresce que a reserva de decisão de outrora foi também superada por novas exigências de cidadania, ou seja, a decisão política e institucional já não pode, em caso algum, prescindir de integrar, como variável informal e formal, no processo decisional e institucional, uma nova esfera pública deliberativa sob pena de ver recorrentemente deslegitimadas as próprias decisões institucionais e, consequentemente, o próprio poder, provocando discrasia e anemia da representação. Trata-se de uma política deliberativa a crescer cada vez mais no espaço reticular, mas também nos media convencionais, embora sob formas diferentes. Esta política deliberativa deverá conduzir à integração política e até formal (consultas públicas obrigatórias nos grandes dossiers) da instância deliberativa no processo decisional (sobre a política deliberativa veja-se Santos, 2020; 2017a; 2018).
Estas profundas mudanças ou são metabolizadas pelas formações políticas tradicionais – designadamente em termos de: (a) selecção das estruturas dirigentes e de candidatos a cargos electivos, através de métodos idóneos e da incorporação da cidadania no processo; (b) qualidade das propostas políticas e do seu próprio processo de construção; e (c) valorização dos processos deliberativos no processo de decisão – ou, então, estão condenadas a ser substituídas rapidamente por novas formações políticas mais em sintonia com os tempos, as novas exigências e os novos desafios. Já não basta a cosmética ou o spin doctoring. Estes eram amigos das velhas organizações. A experiência italiana dos Clubes Forza Italia (levada a cabo por Berlusconi) deveria, para este efeito, ser repensada à esquerda e em termos de funcionamento da Rede e em rede. Estes Clubes (chegaram a ser 15.000) eram organizações autónomas da sociedade civil ligadas ao Forza Italia por protocolos e dinamizavam territorialmente as relações interpessoais, na lógica do two-step flow of communication, de Lazarsfeld e Katz. Organizações deste tipo poderiam dar voz ao “poder diluído”, polarizando e organizando o consenso, ser mobilizadoras nas primárias abertas, motores eficazes de uma política deliberativa e decisivas nas eleições. A fórmula usada pelo MoVimento5Stelle, os famosos MeetUp, “grupos locais do movimento ligados entre si por uma específica plataforma online” (Biorcio & Natale, 2013: 14), é também interessante para reflectir sobre a forma de organizar e dar expressão ao poder diluído. Como é interessante reflectir aprofundadamente sobre a intervenção do MoveOn.Org na política e na frente temática americana, vista a sua gigantesca dimensão e os resultados que conseguiu determinar na política americana, na eleição de Barack Obama e no sucesso da candidatura de Bernie Sanders. Mas, para isso, os partidos deverão “reformatar-se” à medida de um novo conceito de poder e de acção política, reconhecendo e respondendo aos novos fluxos políticos e comunicacionais que já correm com força no novo espaço público deliberativo. Se não o fizerem, correm o risco de ver emergir novas formas de domínio não democrático da sociedade, como parece, de algum modo, já se estar a anunciar na Europa.
O PANORAMA EUROPEU
FRUTO DESTAS MUDANÇAS, está já a acontecer uma evidente crise das formações tradicionais que têm mostrado dificuldade em polarizar as expectativas dos cidadãos, traduzida numa generalizada fragmentação do sistema de partidos na Europa. Em Portugal, onde esta fragmentação também já se iniciou, embora ainda timidamente, apesar do massacre da classe média, promovido pelo anterior governo de centro-direita, o PS revelou grandes dificuldades em mobilizar os cidadãos, reduzindo a abstenção e evitando a dispersão de votos. Os resultados eleitorais do PS nas eleições de 2015 foram muito fracos, não conseguindo obter uma maioria relativa no confronto com a Coligação PaF e nem sequer em relação ao PSD. Comparando com 2009, e ao fim de 4 anos no governo, o PS obteve, nas Europeias de 2014, e depois dos sacrifícios que foram impostos aos portugueses a partir de 2011, somente mais 86.340 votos. Este problema persistiu, como se viu nos resultados eleitorais de 2015. Não se trata, pois, de uma questão conjuntural. Trata-se de uma crise sistémica que gera fugas para a abstenção ou para periferias políticas radicais. E é evidente que as duas sucessivas vitórias, conseguidas em 2019, com maioria relativa, e em 2022, com maioria absoluta, não foram fruto de uma reforma profunda do partido, mas sim do estado comatoso da oposição, à direita e à esquerda, para além de outros factores que não cabe aqui dissecar. Os sinais são claros: em pouco tempo, um recente partido populista de direita (CHEGA) cresceu significativamente (de um para doze deputados); um partido liberal (Iniciativa Liberal), também recente, conseguiu um forte crescimento (de um para oito deputados), ao mesmo tempo que o PSD cedia à sua direita, insistindo numa equívoca identidade social-democrática, afinal já ocupada pelo PS, e os dois partidos de esquerda quase se tornaram irrelevantes, ao lado de um PAN que ficou reduzido a uma deputada, a sua líder, tendo os Verdes desaparecido do Parlamento, fruto do descalabro do PCP. Perante esta situação a posição conjuntural do PS é muito favorável pela sua estabilidade e pela posição estrutural que ocupa no espectro partidário. Certamente. Mas isso não significa que esteja a responder aos novos desafios que tem pela frente, enquanto partido. E não creio que se possa dizer, como disse Galileo Galilei, “eppur si muove”.
O caso francês é exemplar e pode servir de alerta. François Hollande foi Presidente da França entre 2012 e 2017 e, em 2012, o PSF registava uma consistente força eleitoral superior a 40%. Mas a Frente Nacional, em 2015 ganharia a primeira volta das regionais. O PSF viu-se aqui remetido para a terceira posição, na segunda volta, com menos 19 mandatos do que a Frente Nacional. Depois, em 2017, viria o furacão Macron, que haveria de liquidar o PSF, conquistando, num só ano (2016-2017), a Presidência da República e maioria na Assembleia Nacional, governando hoje a França e tendo garantido, de novo, nas Presidenciais de 2022, a Presidência da República com uma margem significativa (58,54%) sobre a opositora de extrema-direita Marine Le Pen (41.46%), ainda que tenha obtido menos cerca de 1,5 milhão de votos do que em 1917 e Marine Le Pen tenha crescido cerca de 2,6 milhões de votos. O resultado da candidata do PSF, Anne Hidalgo, foi, nestas últimas eleições, em pouco superior a zero (1,75%). A velocidade em que se desenvolve hoje a política só pode ser compensada por organismos políticos robustos e bem conectados com a sociedade civil.
O Labour, com a liderança de Ed Miliband, que havia sucedido a Gordon Brown, em 2010, fracassou e, em 2015, a solução encontrada para o substituir, em termos de liderança, foi Jeremy Corbyn, que promoveu uma forte radicalização da base activa de apoio do partido que não augurava, todavia, nada de bom, pela filosofia radical e algo tributária de um longínquo passado que inspirava a liderança. Como se sabe, nas eleições de 2019, Corbyn fracassou perante a pujança do líder conservador Boris Johnson e viria a deixar a liderança, sendo substituído, em 2020, por Keir Starmer. A posição ambígua de Corbyn no processo do Brexit, mas não só, diz tudo sobre a visão política da sua liderança do Labour. Uma visão que procurou inverter com inoportuno radicalismo aquela que fora a experiência da terceira via de Tony Blair, recolocando-se na via do tradicional maximalismo social-democrata. Mais recentemente, uma sondagem de Dezembro de 2021 (da YouGov) e outra de Janeiro de 2022 (Opinium) dão os trabalhistas de Keir Starmer à frente, respectivamente com 40% contra 32% e 41% contra 31%. Uma assinalável recuperação relativamente à grande vitória de Boris Johnson em Dezembro de 2019, em que obteve 365 mandatos contra 202 dos trabalhistas e que levaria, como disse, à saída de Corbyn. Esta situação tenderá a piorar para os conservadores devido aos incidentes em que Johnson esteve envolvido, tendo já sido multado por comportamento inadequado durante a pandemia e estando também em curso um inquérito parlamentar sobre a eventualidade de ter mentido ao Parlamento. Apesar de Starmer revelar alguma solidez política, a queda dos conservadores talvez seja mais devida aos erros de Johnson do que a um renascimento político dos trabalhistas depois do período crítico da liderança de Jeremy Corbyn. Também aqui não se conhece uma iniciativa doutrinária que esteja em linha com as profundas mudanças a que estamos a assistir.
Em Itália, Beppe Grillo e o seu partido digital (veja-se Santos, 2017b) nas eleições de Março de 2018 acabariam por remeter drasticamente o Partido Democrático para o segundo lugar, à distância de cerca de 14 pontos percentuais (32,66% contra 18,72%), superando em muito o que já iam revelando as sondagens que eram regularmente feitas e publicadas: em média, podemos falar em cerca de 33% do PD contra 26% do M5S, em Fevereiro de 2016; em Março, em 6 sondagens, em cerca de 33% contra 25%; e, em Outubro de 2016, em cerca de 31% contra 28%, sendo certo que, em 2016, o M5S conquistou os Municípios de Roma e de Turim. Com efeito, e após uma vitória esmagadora, a partir 2018 o M5S governou Itália, em coligação com a LEGA de Matteo Salvini, uma formação de extrema-direita, que obtivera pouco mais de 17% nas eleições de 2018 (veja-se Santos, s.d., para uma análise do Contrato de Governo assinado pelo M5S e pela LEGA), até que, em 2019, a LEGA deixa o governo, formando-se um novo governo de aliança entre o M5S e o PD, liderado de novo pelo actual líder do M5S, Giuseppe Conte, que duraria até 2021, ocasião em que Mario Draghi se tornou Primeiro-Ministro num governo de largo espectro (de fora ficou apenas FdI, de Giorgia Meloni). O PD, que representa o centro-esquerda, tem-se mantido estável com a sondagens a mantê-lo regularmente entre 19% e 21%, dispondo, neste momento (Março-Abril), em 13 sondagens realizadas por 8 empresas, uma média de 21.5%, logo seguido por Fratelli d’Italia (20.63%), de Giorgia Meloni, um partido de extrema-direita. Nestas sondagens e em outras o Movimento5Stelle tem-se situado em média entre os 13.5% e os 16% (nestas 13,64%), enquanto a LEGA se mantém entre os 17% e os 18% (nestas 16,96%). Mas a verdade é que o PD mantém uma identidade política algo indefinida, federando sensibilidades políticas que vêm quer do antigo PCI quer da ala esquerda da velha DC, colocando-se na área correspondente ao centro-esquerda, uma área que agora confina com o novo M5S de Giuseppe Conte. O caso italiano mostra bem como a incerteza ideológica e as identidades políticas estão em movimento e com fronteiras menos rígidas do que as tradicionais.
Na Alemanha, nas eleições de 2017, a CDU/CSU voltou a governar com uma Grande Coligação, com um SPD de novo perdedor, com Martin Schultz a abandonar a liderança e a extrema-direita a subir fortemente. A CDU/CSU manteve-se solidamente na liderança, apesar de uma forte quebra eleitoral, descendo para os 33%, com um SPD persistentemente subalterno, com 20,5% e incapaz de interceptar os votos dos liberais (FDP, com 10,8%), do Linke (com 9,2%) ou dos Grünen (com 8,9%) e com a extrema direita (AfD) a subir cerca de 8 pontos, para os 12,6%, e a entrar no Bundestag com um consistente grupo parlamentar. As sondagens já indiciavam estes movimentos eleitorais: a coligação CDU/CSU, em 5 sondagens (Agosto/Setembro) já caía, em média, dos 41,5% obtidos nas eleições federais de 2013 para 33%, não estando o SPD a captar este eleitorado, porque também ele caiu 3 pontos (para cerca de 22%), sendo os grandes beneficiários os Verdes (+3 pontos) e AfD (cerca de +8 pontos), tendo ficado, em sondagens posteriores entre 13% e 16% do eleitorado. No total, os partidos que se movem no mesmo território político do SPD juntos obtiveram uma significativa percentagem de votos, totalizando cerca de 29%. Isto significa que o SPD não tinha um discurso estruturado em condições de captar um eleitorado que se movia politicamente em território afim, faltando-lhe certamente uma revisão doutrinária em linha com a actuais tendências evolutivas da sociedade alemã, plasmando-a num novo Grundsatzprogramm. Como sabemos, nas eleições de 2021, o SPD ganha as eleições com 25,7%, tendo a CDU/CSU obtido 24,1%, os verdes 14,8%, o FDP 11.5%, o AfD 10,2% e o LINKE 4,9 %. Neste momento, a Alemanha é governada pelo SPD (Chanceler Olaf Scholz) em aliança com os Verdes e o FDP. Mas a verdade é que os dois partidos centrais no sistema totalizam hoje cerca de 50% do eleitorado, um score muito inferior ao que tradicionalmente podiam exibir, consolidando-se, assim, a fragmentação do sistema de partidos alemão, como se vê pelos resultados destas últimas eleições.
Na Grécia, em 2015, os radicais tomaram conta da cena política e o PASOK ficou reduzido à insignificância, rondando os 6%. O Syriza substituiu no poder as velhas organizações hegemónicas, em nome da reposição da dignidade ofendida dos gregos. Mas, em 2019, a Nova Democracia venceu as eleições com cerca de 40% dos sufrágios, tendo o PASOK (numa coligação de centro-esquerda) ficado reduzido a cerca de 8%, enquanto o Syrisa, de Tsypras, obtinha cerca de 31.5%. Também aqui, o centro-esquerda se mantém numa posição de quase irrelevância política.
Em Espanha, nas eleições de Junho de 2016, venceu o PP, com 33%. O território eleitoral do PSOE foi seriamente ameaçado por Podemos e por Ciudadanos Partido de Ciudadanía, que obtiveram, respectivamente, 21,1% e 13,1%. Nestas eleições, o PSOE, perdendo, conseguiu ainda manter a segunda posição, com 22,7%, encontrando-se, com a demissão de Pedro Sánchez, entretanto reeleito, num complexo e difícil processo de reajustamento, visto o crescimento dos partidos Podemos e C’s, à esquerda e à direita. Entretanto, a chegada ao poder de Pedro Sánchez não teve aparentemente grande significado porque ela não resultou da conquista de novos consensos, mas sim da queda de Mariano Rajoy, fruto de uma coligação negativa que se formou para o derrubar. Digo aparentemente porque a situação de poder conseguida viria a ser habilmente usada por Sánchez para reforçar o PSOE e o seu próprio governo. Pedro Sánchez, de facto, viria a ganhar as eleições de Novembro de 2019, com os cerca de 28% dos sufrágios contra cerca de 21% do PP, 15% do VOX, 13% do Podemos-IU e 7% de Cs, e a formar um novo governo em aliança com PODEMOS, tendo como Vice-Primeiro-Ministro Pablo Iglesias (que, entretanto, após a derrota de Madrid, deixou a política activa).
Em Portugal, o PS conseguiu a sua segunda maioria absoluta com António Costa, depois de seis anos de governo, em minoria, mas com o apoio da esquerda, sobretudo nos primeiros quatro anos. Mas a situação do ponto de vista estrutural não mudou porque as tendências já referidas se mantêm, com o centro-esquerda a governar alguns países da União Europeia (Alemanha, Espanha, Itália, em parte, Portugal) e com movimentos populistas a manterem uma forte presença política na Europa. Na verdade, a fragmentação dos sistemas de partidos na Europa é hoje um dado consolidado, a força dos paridos socialistas ou sociais-democratas, tal como a dos partidos de centro-direita, é moderada e, em casos muito significativos, significativamente baixa, como é o caso da França ou da Grécia. Em países como Itália, Alemanha, Espanha os partidos socialistas ou sociais-democratas mantêm scores eleitorais entre 20% e 30%, permitindo-lhes formar governo ou fazer parte dos governos nacionais. Portugal é um caso especial, tendo em 2005 e em 2022 ganho as eleições com maioria absoluta, respectivamente com cerca de 45% e 41% dos votos expressos. E esta posição privilegiada deveria agora ser motivo para uma audaciosa transformação interna adequando-se aos novos desafios e prevenindo situações como a que aconteceu ao PSF no pós-Hollande.
Na verdade, não tenho conhecimento de que nalgum partido, ou sequer na Fundação do PSE, sediada em Bruxelas e dirigida por uma portuguesa, Maria João Rodrigues, esteja a ser desenvolvido um trabalho de repensamento político do quadro em que movem os partidos socialistas e sociais-democratas, quer eles estejam em situação de falência política, como o francês ou o grego, quer estejam com assinaláveis scores eleitorais como o PS ou o Labour de Keir Starmer. Depois da experiência da terceira via de Blair não se conhece outra tentativa de verdadeiro aggiornamento dos partidos socialistas ou sociais-democratas. Eles continuam a mover-se nos tradicionais binários ao sabor dos ventos políticos e eleitorais do momento e isso explica, em parte o seu redimensionamento e também a fragmentação dos sistemas de partidos, onde eles ocupam um espaço relevante. Um exemplo. Relativamente ao futuro da União Europeia não se conhece uma posição clara destes partidos em linha com a sua tradição mais avançada e que equacione a superação do estado actual da União, em particular a fragilidade do seu sistema de poder central, as lideranças, a cidadania europeia e o modelo institucional do futuro (constitucionalização da EU, retomando o processo interrompido em 2005 por dois referendos nacionais?).
A IDEOLOGIA DOS PARTIDOS DE NOVO TIPO
EM ITÁLIA, o M5S, de Beppe Grillo, contra a “Casta”, propunha a devolução do poder a uma cidadania digital, prenúncio de uma democracia de novo tipo, ainda algo incerta visto o projecto do governo de então, em 2018, para a sua implementação. Trata-se de um movimento que se define mais por causas do que por ima precisa identidade política. Nem de esquerda nem de direita. Na verdade, a ideia central de cidadania digital, para um movimento que se define como digital num corpo digital, em linha com a revolução digital e a emergência de um novo tipo de cidadão, o prosumer, parecia não estar muito bem definida no M5S, uma vez que promoveu uma solução que se limitava a conceder meia hora diária gratuita de acesso à rede para todos os cidadãos. Uma estranha solução para uma ideia-base de natureza matricial. Em boa verdade, a questão do direito à cidadania digital, sendo séria, deveria ter sido esclarecida no sentido de saber se deverá ser considerada como bem público essencial a ser oferecido pelo Estado aos cidadãos, tal como os outros bens públicos, sendo certo que a resposta remeterá sempre para a dicotomia de fundo: justiça distributiva (sociais-democratas) versus justiça comutativa (liberais). A questão reside em saber se o acesso deve ser gratuito e ilimitado, e naturalmente em banda larga. À primeira vista não parece ser simples a resposta, mas na verdade é simples se olharmos para o assunto como olhamos para o direito às comunicações ou à água. Em Portugal, o acesso à televisão generalista aparentemente não se paga, embora na verdade haja uma taxa obrigatória para o audiovisual e uma contrapartida de publicidade (6 minutos/hora na TV pública, metade da publicidade autorizada para as privadas). O telefone é pago por cada um em função do uso, a não ser que se use aplicações da rede que permitem o uso gratuito de comunicações telefónicas, mas sendo a rede paga. A água chega à casa de cada um, mas é paga. Dir-se-á que a saúde e a educação são gratuitas. Sim, mas não de forma individualizada uma vez que são fornecidas por instituições públicas: hospitais e centros de saúde e escolas. Tudo indica, pois, que a cidadania digital implica que a todos os cidadãos deva ser garantido, tal como a água, o acesso, devendo o serviço estar disponível com boa cobertura em todo o território nacional, mas ficando o uso a cargo do cidadão, eventualmente a custos controlados. O M5S deu um passo em frente e esteve em estudo a concessão de meia hora diária de acesso gratuito a todos os cidadãos, mas não definiu com clareza uma posição estruturada sobre a questão (veja-se, a este propósito, Rodotà, 2014, e, sobre o M5S, veja-se Santos, 2017b).
Também o Podemos ou Ciudadanos propunham a devolução do poder confiscado à cidadania. Na verdade, todos os movimentos de novo tipo, ou de inspiração populista, se alimentam dos velhos partidos e da vasta e crescente orfandade política da cidadania. Quais são as palavras-chave do Podemos? “Casta” (a classe política); “maciça operação de saque” (ao erário público); “novo/velho” (a diferença entre o Podemos e a classe política); “venda de soberania e sequestro da democracia” (a velha política); “cidadãos ao poder” e recuperação da cidadania (objectivo estratégico); “regeneração” moral (da política); nem de esquerda nem de direita (mas centralidade); fim do empobrecimento (da austeridade). Nas eleições o PODEMOS era claramente a terceira força política, muito próxima do PSOE, tendo, todavia, nas eleições de Novembro de 2019, descido para 4º lugar, com 12,97%, atrás do VOX, que obteve 15,21%. Uma queda considerável que não o impediu de vir a integrar o governo de Pedro Sánchez, na sequência das eleições de Novembro de 2019. O Syriza obteve 36,34%, nas eleições de Janeiro de 2015, e 35,46%, nas de Setembro de 2015, enquanto o PASOK se mantinha numa posição verdadeiramente insignificante, com 6,28%, um pouco mais do que o anterior resultado, inferior a 5%. Igual sorte coube ao social-democrata PvdA holandês, nas eleições de 2017, que sofreu uma forte queda, passando de 38 para 9 deputados, ao mesmo tempo que se registava uma significativa subida dos verdes. O panorama é, como se vê muito complexo. Na Grécia, em 2019, a Nova Democracia, passou a ser a primeira força política, formando governo.
Há como que uma corrente ondulatória na política europeia, mas a verdade é que o que se nota é uma tendência de fundo que já não pode ser enquadrada com as categorias da política tradicional. E há uma razão de fundo para isso: a cidadania, base de todos os sistema políticos, sofreu uma profunda alteração de identidade que não está a ser acompanhada por mudanças no modo de conceber a política e de a configurar para uma acção em linha com as mudanças, que são substantivas. Bastaria dar um exemplo e daí retirar as devidas consequências: hoje a maioria dos cidadãos dispõe de um pequeno computador móvel que transporta no bolso e que lhe permite aceder a infinita informação de alcance mundial, mas também entrar directamente no espaço público sem pedir autorização aos tradicionais “gatekeepers”. Este universo ainda não foi tomado devidamente em consideração por estes partidos, ao contrário do que já aconteceu com a extrema-direita, que, todavia, o usou em sentido puramente instrumental.
O PS
EM PORTUGAL, depois do aviso dos independentes nas autárquicas, em 2013, 2017 e 2021, ainda não foi levado a sério pelos partidos, limitando-se estes a alterar uma lei, já muito ferida de parcialidade ou mesmo de inconstitucionalidade, a seu favor, em claro conflito de interesses (tendo sido, no entanto obrigados a recuar). Em 2015 o PCP reforçou-se (nas sondagens e nas eleições legislativas, com 8,25%), o PS perdeu para a Coligação PaF, mas também para o próprio PSD, obtendo 32,31% contra os 36,86% da directa competidora. Reforçaram-se as pequenas formações, à esquerda do PS, subtraindo-lhe eleitorado, tendo o Bloco de Esquerda aumentado substancialmente a sua votação, obtendo 10,19% e 19 deputados. Também o PAN viria a conseguir eleger um deputado. O anúncio de que o PS estava a perder terreno via-se na generalidade das sondagens: por exemplo, a 19.06.15, o Centro da Universidade Católica constatava que o PS já se encontrava atrás da coligação de direita. Todos sabemos o que viria a acontecer e eu próprio tive ocasião de reflectir sobre o processo em artigos publicados (que podem ser consultados através do meu Facebook, sendo o regime de privacidade adoptado “público”). António Costa aceitou o desafio que o PCP e o Bloco lhe fizeram e accionou uma viragem na geometria política portuguesa, formando um governo com apoio parlamentar maioritário e remetendo para a oposição a Coligação PaF, que viria a dissolver-se. Entretanto, em 2017, o PS registaria uma expressiva vitória nas eleições autárquicas (sobre estas eleições, veja-se as conclusões do n.º 17/2017 da Revista ResPublica, pp. 191-199), em 2019 vence as eleições com maioria relativa e, em 2022, consegue uma maioria absoluta de 120 deputados.
A experiência de 2015, a queda do muro de Berlim, em Portugal, constituiu um desafio complexo, difícil e delicado para o PS. Desafio que se revelou ganhador, tendo o governo chegado ao fim da legislatura, em 2019. Mas deveria ter evoluído para uma profunda reflexão sobre a sua identidade. Reflexão tanto mais necessária quanto maior era o risco de diluição desta mesma identidade nas enormes zonas de fronteira que partilhava com as outras formações políticas. Em primeiro lugar, à direita, em matéria económica e financeira; depois, à esquerda, em matéria de Estado Social; e, por fim, transversalmente, em matéria de procedimentos políticos, de cidadania, de ética da convicção, de ética da responsabilidade e de ética pública. Ou seja, tornava-se cada vez mais necessário rever a velha matriz do PS para que não se verificasse aquilo que nesta fase da vida política ameaçava tornar-se um grande problema: uma deriva casuística ao sabor das oportunidades tácticas que garantiriam a estabilidade governativa. Em qualquer caso, os dois governos do PS sobreviveram durante seis anos com o PS com maioria relativa na Assembleia, através de negociações com outros partidos para a sua manutenção como partido de governo. A verdade é que se manteve e nas recentes eleições viu premiada a sua resistência através de uma maioria absoluta que garantirá um governo estável durante 4 anos e seis meses. Ocasião, também esta, para fazer o que se torna necessário fazer, sobretudo quando a oposição está muito fragilizada quer à direita quer à esquerda, seguramente por falta de bússolas e de lideranças que lhes definam eficazes linhas de rumo. Na verdade, o PS ocupa uma posição privilegiada na geometria política do sistema de partidos português e isso deverá motivá-lo para reconstituir uma personalidade política capaz de interpretar e metabolizar do ponto de vista da sua identidade político-ideal, organizacional e programática não só as novas fracturas sociais, civilizacionais e culturais que emergem, mas também a nova cidadania que parece estar cada vez mais assente no cidadão prosumer, portador de múltiplas pertenças e utilizador de novos instrumentos de informação e de directa intervenção no espaço público.
Com efeito, na linha do diagnóstico que tenho vindo a fazer, torna-se necessário delinear uma visão estruturada do mundo em linha com os tempos complexos que estamos a viver e que possa servir de cartografia cognitiva a quantos queiram inspirar-se politicamente no PS e partilhar o seu destino político com ele. Uma visão destas deve poder aspirar a ser hegemónica na sociedade, se for séria, justa, informada, bem estruturada e bem protagonizada. António Costa, a seu tempo, lançou o debate, provocando primárias abertas para candidatos a PM. O PS, graças à opção do então Secretário-Geral, António José Seguro, abriu-se à sociedade na escolha da liderança, num processo mais interessante do que as estranhas “primárias” que já tinham ocorrido nas autárquicas de 2013 e que, por isso, deveria ser alargado às principais lideranças (SG, Distritais e Concelhias) e aos candidatos à representação política em nome do PS. É, no meu entendimento, caminho obrigatório a percorrer juntamente com outras iniciativas que já referi e que abrem espaço a uma nova relação com a cidadania. Mas a verdade é que as primárias e outros processos de aperfeiçoamento da selecção da classe dirigente nunca mais foram assumidos. O tempo dirá que não basta propor causas fracturantes para fazer do PS um partido avançado e em linha com os tempos, que a intrusão de uma orientação tendente a impor o politicamente correcto é contrária não só à própria natureza de um partido livre, mas também promotora de afastamento de uma parte consistente da cidadania, e que a grande bandeira do PS, o Estado Social, deverá merecer uma reflexão profunda aliada a uma outra sobre a eficácia da máquina do Estado. Como também não bastará abrir de novo a alianças com a sua esquerda para resolver um problema que é de reconstituição da sua identidade política alinhada com as profundas mutações que se estão a verificar e com a transformação da identidade da cidadania. São, ainda, questões como a do Estado Social e do seu eficaz funcionamento, a da emergência do indivíduo como protagonista de segunda geração (prosumer político, através das TICs), a das novas constituencies (a dos credores internacionais, por exemplo, referida por W. Streeck), que se somam à da velha cidadania, a da dívida pública e do seu autofinanciamento, mediante a promoção das condições de poupança interna, entre outras que podem projectar o PS no caminho do futuro (veja-se a entrevista de Zygmunt Bauman em L’Espresso, de 18.02.16, pp. 72-75, esp. p. 75).
A formação de um governo com apoio parlamentar de toda a esquerda foi, sem dúvida, um passo em frente, porque rompeu com o garrote do chamado “arco da governação” e com o domínio incontestado do TINA (There Is No Alternative). E a minha convicção profunda é que este passo tornava urgente e imprescindível proceder a esta redefinição rigorosa de identidade em todas as dimensões que tenho vindo a referir. Seguiram-se duas eleições e, como já disse, na última conseguiu a sua segunda maioria absoluta, mas a verdade é que um trabalho de reflexão global sobre a reconfiguração do partido capaz de interpretar e de interiorizar as tendências profundas que se estão a sedimentar na nova sociedade digital e em rede que emergiu continua por fazer. A pandemia polarizou a atenção e a catastrófica situação que estamos a viver com a guerra na Ucrânia tornam difícil a disponibilidade para fazer o trabalho que tem de ser feito vistos os efeitos que ambos os acontecimentos produziram e estão a produzir sobre a vida e sobre a economia nacional. Mas também é verdade que são os períodos de crise os melhores momentos para aprofundar as relações cognitivas com a realidade, até porque estas relações são fundamentais para gerir o presente e para antecipar o futuro. A palavra crise, em chinês, significa, sim, risco, mas também significa oportunidade. Aprendi isto com o meu amigo Giovanni Valentini, grande jornalista italiano. Mas também na língua grega encontramos um enquadramento deste tipo: a palavra crise (um substantivo) vem do verbo krínô e alude à acção de separar, dividir, decidir, julgar, condenar. Poder-se-ia dizer que, no sentido etimológico, há uma ideia de ruptura, de separação, de decisão com reais efeitos, mas também de intervenção da vontade, da razão e da consciência (podendo implicar juízos de valor, como veremos). E é na decisão que separa, com intervenção da razão, da consciência e da vontade, ou seja, na intervenção do elemento subjectivo, que assentará a ideia de crise, muito ligada à ideia de mudança profunda. Este elemento subjectivo da crise é sublinhado por Habermas em Legitimationsprobleme im Spaetkapitalismus (Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973, 9-12). A crise pode, pois, ajudar à mudança, motivando um esforço analítico sobre uma realidade em mutação e procurando responder-lhe. Um exemplo: viu-se com a pandemia a importância do Estado Social, não só para intervir directamente na resposta sanitária, através do SNS, mas também para minimizar os seus efeitos económicos sobre a cidadania. Mas, além disso, este não só é um tempo de crise profunda, pelas razões que todos conhecemos, mas é também um tempo de profundas mudanças de natureza estrutural que devem ser politicamente metabolizadas depois de terem sido criticamente reconhecidas e desenhadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A MUDANÇA é estrutural e a crise é profunda. Os pilares financeiros ruíram como castelos de papel e continuam a produzir efeitos financeiros nefastos: Grupo Espírito Santo, BPN, BPP, Banif. O sistema financeiro em geral está ou esteve em sérias dificuldades e a crise destas instituições já deixou um rasto de destruição financeira de cerca de 22 mil milhões de euros. A própria CGD teve uma recapitalização de vários milhares de milhões de euros. O poder judicial parece insinuar-se como poder invasivo, “bigbrotherizando”, com escutas e fugas de informação, a sociedade. Nenhum líder político em pleno juízo fala hoje ao telefone com plena liberdade. O lawfare parece ter vindo para ficar (veja-se Santos, 2020b). O poder financeiro internacional e as agências de rating dominam as economias nacionais e as dívidas públicas. Em período de crise se alguém tem sempre muito a ganhar esse alguém chama-se especulador. E estas agências são controladas por eles. Warren Buffett, por exemplo. No centro do processo de manipulação financeira tem estado sempre o famoso e omnipresente Goldman Sachs, que saiu reforçado com a presidência de Donald Trump e não sei se com Durão Barroso. O poder mediático continua forte e intenso, não obstante a forte concorrência das redes sociais, e assume-se cada vez mais como poder forte da sociedade civil, especialmente protegido pelo ordenamento jurídico e pelo lugar ocupado no processo de conquista do consenso. De resto, a rede, se abre um horizonte muito interessante à cidadania, para a informação e a intervenção no espaço público, também abre o seu espaço à restauração de relações de força no espaço digital pelas grandes organizações ou empresas, que procuram colonizá-lo. As próprias plataformas que integram este “espaço intermédio” exploram a riqueza do espaço digital para fins de marketing e de uso comercial e até político (veja-se o caso da Cambdrige Analytica) dos perfis dos utilizadores (sobre este assunto veja-se Zuboff, 2020). É o preço a pagar pela imensa riqueza que nos chega através dela. Avançamos para uma problemática sociedade transparente, na imagem e no som, com todos os riscos e ilusões inerentes. As diferenças civilizacionais convertem-se em choque. A política corre o risco de estar capturada, não pela vontade geral, que parece ter perdido de ter âncoras ideais, mas pelo nacionalismo, pela ortodoxia e pelo horror à diferença. Os populismos soberanistas continuam robustos, como se viu em França e como se vê em Itália, na Hungria, na Polónia, na Rússia, estando também em clara ascensão em Espanha, em Portugal e na Alemanha. Emergem cada vez mais, à esquerda, tendências identitárias que tendem a capturá-la, rompendo com a ideia de universalismo que nos foi legada pelos iluministas e pelos liberais que inauguraram a modernidade. Em Portugal, continuamos a assistir à migração da classe política para o espaço público mediatizado, sobretudo a televisão, na tentativa de o colonizar, sem se dar conta de que, assim, é ela própria a ficar colonizada pelo establishment mediático e pelas suas idiossincrasias, onde pontifica a idiossincrasia tablóide, parecendo esquecer a nova realidade do espaço público digital e deliberativo, expressão intensa e difusa da nova cidadania que emerge. Reentra, assim, o velho problema da captura da captura da política por um poder forte de natureza não electiva e decisivo para a obtenção do consenso, o poder mediático. E num tempo em que a política já não se faz com modelos orgânicos próprios dos velhos sistemas de partidos e em que o monopólio da representação social pelos media acabou este desvio ainda se torna mais delicado. Na verdade, apesar de as possibilidades de auto-organização, de automobilização e de acesso e intervenção dos cidadãos no espaço público deliberativo estarem a alterar a política, os sistemas de partidos clássicos continuam a actuar como se nada esteja a acontecer, fixando a sua atenção quase exclusivamente nas velhas plataformas e sobretudo naquela que é a sua lógica de funcionamento, a lógica da mass communication. Mas, como se sabe, estão a emergir novas formações políticas, partidos ou movimentos que estão a demonstrar ser capazes de sintonizar melhor com a nova cidadania. O recente caso das presidenciais francesas é um exemplo significativo. Por outro lado, plataformas digitais há que já possuem capacidades equivalentes ou mesmo maiores de mobilização da cidadania do que as formações tradicionais. Para uma certa rigidez dos partidos muito contribui também a lógica endogâmica sempre neles radicada e a tendência a permitir que uma boa parte dos protagonistas políticos se perpetuem nas posições de poder, acabando por ficar descolados da realidade efectiva, da sociedade civil.
Perante isto, o que é que o PS, se quiser ser inovador, propõe? António Costa federou bem as sensibilidades. E deu um corajoso passo em frente na plena integração para efeitos governativos, directos ou indirectos, das forças que integravam a instituição parlamentar, apesar de no fim do processo ter reconduzido o PS ao habitual registo de autonomia total em caminhada solitária, com um resultado eleitoral excelente. Sem dúvida. Mas talvez seja altura de promover uma ideia inovadora que mobilize e responda a este quadro tão complexo que acabo de delinear. Sócrates avançou com as “Novas Fronteiras” e lá dentro tinha um programa que ficou conhecido como “Plano Tecnológico”. Ideia-chave, aplicada na economia e ancorada num sistema científico nacional bem impulsionado pelo ministro Mariano Gago. Os programas de governo e as agendas para uma década são, sem dúvida, fundamentais. Mas também há que propor uma nova visão de fundo sobre o País que mobilize as pessoas, apontando para elas, centrada no futuro. Faz falta uma batalha cívica que combata a ideologia que hoje domina os telejornais e que promove a depressão nacional: a ideologia da desgraça, do crime e do sexo ou as infindáveis e irrelevantes histórias do chamado “interesse humano”. No essencial, se faz falta um combate contra a chamada Lei da Espoleta, também falta o tão esquecido combate pela hegemonia cultural, civilizacional e ético-política que dê origem a uma sólida coesão da cidadania, libertando-a da perigosa cavalgada institucional e legal dos identitários e do “politicamente correcto”. Por isso, a atenção deveria concentrar-se nas grandes questões que se põem hoje às nossas sociedades:
- a perigosa utopia da “sociedade transparente”, mais própria das ditaduras do que das democracias, mas também a crescente tendência para o policiamento da linguagem pela esquerda identitária;
- a atracção fatal pela democracia directa ou pela eufemística democracia participativa, em vez da promoção do aperfeiçoamento dos processos de deliberação pública na democracia representativa;
- a crise do paradigma “organizacional” e “representativo” e da velha e exclusiva intermediação;
- o emergente “poder diluído” e a nova lógica que ele traduz;
- as transmutações do capital financeiro e o poder dos fundos de pensões e seus efeitos sobre a globalização e sobre as dívidas soberanas;
- a crise do velho Estado Social perante a emergência de uma nova responsabilidade individual em condições de se autotutelar;
- a aliança perversa entre justiça e media como perigoso exercício de poder em condições de condicionar o sistema representativo para além das fronteiras em que exercem as suas funções – o lawfare;
- o choque civilizacional e a lógica terrorista que daí resulta;
- a democracia supranacional a braços com o regresso do velho nacionalismo ou soberanismo;
- o justo reequilíbrio entre representação política e poder diluído, entre intermediação e desintermediação;
- a atrofia burocrática da sociedade e a necessidade de proteger a cidadania dos oligopólios demasiado presentes nas nossas sociedades;
- as exigências de uma nova “democracia deliberativa” e de uma cidadania de novo tipo, mais complexa, exigente e de múltiplas pertenças;
- a adopção de uma ética pública que resulte de uma convergência virtuosa entre ética da convicção e ética de responsabilidade.
- o novo perfil da política, na era da globalização, das TICs e, em geral, da rede. *
- uma política capaz de metabolizar as mudanças a que se referem os pontos atrás referidos e que funcione como bússola para a acção.
Em suma, trata-se de um grande desafio para os partidos socialistas e sociais-democratas, perante a gigantesca mudança a que estamos a assistir, agora animada por uma crise internacional profunda. Um desafio que implicará superar o velho modelo social-democrata, que persiste e resiste. Avançar para uma nova fase, tal como aconteceu anteriormente: do maximalismo de inspiração marxista a “Bad Godesberg”, da “Terceira Via” a uma nova “democracia digital e em rede” e a uma “democracia de cidadãos”, superadora da fase orgânica da política e propulsora de uma nova política deliberativa. Mas esta será uma fase mais complexa e exigente do que todas as que aconteceram até aqui: põe em causa o clássico modelo orgânico da política e de certo modo extravasa as fronteiras do velho modelo formal do sistema representativo. E implica um confronto com a lógica dos novos poderes, com a emergente transparência neocomunitária e com a nova centralidade de um cidadão individualmente responsável e membro da nova “network and digital society”, o prosumer. Alguns falam de democracia deliberativa e de política deliberativa. E com razão porque esta é uma via a explorar, a clarificar e a desenvolver. Eu próprio já tive ocasião de desenvolver o conceito em dois ensaios, atrás referidos, um, na Revista Portuguesa de Filosofia , “Crise da Representação ou Mudança de Paradigma? Democracia, deliberação e decisão” (Santos, 2017a) e, o outro, “Conectividade – Uma Chave Para a Política do Futuro” (Santos, 2018b), publicado por UCM/Fundação Santander Universidades, em Madrid.
Como se compreenderá, a política precisa de uma filosofia que a inspire para não se desvitalizar e se transformar numa prática casuística prisioneira da ditadura do presente e da mera ideia de interesse. O ser humano move-se, certamente, por interesses, até por interesses familiares, mas também se move por ideais.
REFERÊNCIAS
BIORCIO, Roberto & NATALE, Paolo (2013), Politica a 5 Stelle: Idee, Storia e Strategie del Movimento di Grillo. Milano: Feltrinelli.
CAMPBELL, Alastair (2008). Os Anos Blair. Lisboa: Bertrand.
CASTELLS, Manuel (2007), “Communication, power and counter- power in the network society”. International Journal of Communication, n.o 1, pp. 238-266.
CASTELLS, Manuel (2012), La Politica in Ritardo Nell ’Era di Internet. Online: <https://www.reset.it/caffe-europa/la-politica-in-ritardo-nellera-di-internet> (referência de 04-10-2018).
CERI, Paolo & VELTRI, Francesca (2017), Il Movimento Nella Rete. Storia e Struttura del Movimento 5 Stelle. Torino: Rosenberg & Sellier.
HABERMAS, J. (2001). “Cittadinanza e Identità Nazionale”, im MicroMega, 5/1991, pp. 123-146.
JAMESON, Fredric (1989), Il Post Moderno o la Logica Culturale del Tardo Capitalismo. Milano: Garzanti.
JONES, Tudor (1997), “«Taking genesis out of the Bible»: Hugh Gaitskell, clause IV and labour’s socialist myth”. Contemporary British History, vol. 11, n.o 2, pp. 1-23.
KLEIN, Naomi (2001), No Logo. Milano: Baldini & Castoldi.
MANIN, B. (1995). Principes du Gouvernement Représentatif (Paris: Flammarion)
MEYROWITZ, J. (1985). No Sense of Place. New York, Oxford University Press.
RODOTÀ, Stefano (2014), Il Mondo Nella Rete. Quali i Diritti, Quali i Vincoli. Roma: Laterza/La Repubblica.
ROSAS, João Cardoso (2013), “(In)justiça na crise”. In: SANTOS, João de Almeida
(org.), (2013) À Esquerda da Crise. Lisboa: Vega, pp. 77-88.
SANTOS, João de Almeida (1999). Os Intelectuais e o Poder. Lisboa: Fenda.
SANTOS, João de Almeida (2010). “Medios y poder: cambios y perspectivas en las relaciones entre política, medios y comunicación”. In: Jesús Timoteo Álvarez (ed.), Muchas Voces, Un Mercado. La Industria de la Comunicación en Iberoamérica. Perspectivas. Madrid: Editorial Universitas, pp. 257-274.
SANTOS, João de Almeida (2013), “Cosmopolis”. Un Nuevo Paradigma Para el Siglo XXI. Online: <https://joaodealmeidasantos. com/2013/11/05/cosmopolis-un-nuevo-paradigma-para-el-siglo-xxi-2/> (referência de 04-10-2018).
SANTOS, João de Almeida (2017a), “Crise da representação ou mudança de paradigma? Democracia, deliberação e decisão”. Revista Portuguesa de Filosofia, vol. 73, n.o 1, pp. 15-48.
SANTOS, João de Almeida (2017b), “Mudança de paradigma: a emergência da rede na política. Os casos italiano e chinês”. ResPublica, n.o 17, pp. 51-78.
SANTOS, João de Almeida (2018), “Conectividade. Uma chave para a política do futuro”. In: Mercedes Valiente, Jesús Timoteo Álvarez & Víctor V. Fernández (eds.), El Juego Real de la Singularidad Humana. Predicción de Comportamientos y Toma de Decisiones en el Cerebro Coral: La Perspectiva de la Neuroco municación. Madrid: UCM-Fundación Santander Universidades, pp. 73-88.
SANTOS, João de Almeida (2020). “A política, o digital e a democracia deliberativa”. In Caponez, C, Ferreira, G. B., e Rodríguez-Díaz, R. (2020). Estudos do Agendamento. Covilhã: Labcom-UBI, pp. 137-167.
SANTOS, João de Almeida (2020a). “Lawfare”. In joaodealmeidasantos.com, secção Artigos-Ensaios (Novembro) (referêcia de 04-2022).
SANTOS, João de Almeida (s.d.), O Nacional-Populismo já tem um Ideólogo – Steve Bannon. Online: <https://joaodealmeidasantos.com/artigos/> (referência de 04-10-2018).
STREECK, Wolfgang (2013). Gekaufte Zeit. Die Vortragte Krise des Democratischen Kapitalismus. Berlin: Suhrkamp (ed. port. 2013: Tempo Comprado. A Crise Adiada do Capitalismo Demo crático. Coimbra: Actual Editora).
ZUBOFF, S. (2020). A Era do Capitalismo da Vigilância. Lisboa: Relógio d’Água.
* Capítulo I do livro Política e Democracia na Era Digital, Lisboa, Parsifal, 2020, de João de Almeida Santos (Org.). Este capítulo foi reescrito, actualizado à data de hoje (27.04.2022) e bastante desenvolvido como proposta de revisão da doutrina dos partidos socialistas e sociais-democratas.
O MINISTRO
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 04-2022
VI, COM INTERESSE, que o jornal “Público” (de 14.04.2022) dedicou uma enorme atenção ao novo Ministro das Finanças, Fernando Medina, não só nos artigos e no número de páginas sobre o Orçamento de Estado, mas até do ponto de vista iconográfico, nas várias e expressivas fotografias que dedicou à figura do Ministro. Compreende-se, dada a importância que o OE tem nas vidas dos cidadãos e a centralidade das finanças na acção governativa. Por isso, como cidadão atento, fui ler o dossier e a entrevista do novo Ministro. Não sendo economista nem fiscalista, não vou escrever sobre o Orçamento, mas também não vou dizer que ele é um simples benuron inadequado para tratar a doença (!) do empobrecimento ou a avançar umas generalidades ex-cathedra como o antigo Presidente da República e Primeiro-Ministro Cavaco Silva sobre a administração pública, a justiça, o sistema fiscal e o mercado de trabalho, pois tudo o que diz quase poderia ser reduzido a três ideias: eficiência do Estado, redução da carga fiscal, coragem política. Eficiência do Estado, por exemplo, para evitar cenas como a dos seus amigos do BPN, que já custou aos contribuintes 6,3 mil milhões de euros. Grandes propostas, de qualquer modo. Que não precisavam de ser avançadas por alguém que esteve nos mais altos cargos do poder durante vinte anos, tendo tido a oportunidade de praticar as ideias que defende, deixando agora aos outros a avaliação (não eleitoral) do seu desempenho. Até porque as praticou em quase metade do tempo de existência da nossa democracia, não lhe sendo legítimo falar como se nunca tivesse sido mais do que um simples professor de economia. Mas nisto até lhe dou razão, excluindo a questão da coragem. Limito-me, pois, a dizer que a carga fiscal é demasiado pesada para os que pagam impostos, em especial a classe média, que é sempre quem paga as favas, nos impostos directos e nos indirectos, e que a máquina do Estado (toda ela) deveria ser mais eficaz. Mas não vou pedir ao senhor Ministro que, de rompante, proponha ao senhor Primeiro-Ministro que avance de imediato para um significativo alívio fiscal, o que seria possível através de uma nova, rigorosa e exigente política redistributiva e de uma política de eficiência da máquina do Estado, em particular nas áreas do Estado Social. Não, vou referir-me simplesmente a três coisas curiosas que encontrei na entrevista do senhor Ministro e que gostaria de comentar, porque também é assim que se conhece a identidade dos decisores políticos – uma analítica da linguagem utilizada na entrevista (naturalmente com as necessárias ressalvas por se tratar de linguagem oral, sempre menos precisa e menos controlável).
UMA POLÍTICA PARA “PÚBLICOS”?
E A PRIMEIRA foi esta: “As pessoas não estão todas sujeitas à mesma pressão sobre os preços. As respostas que damos são respostas sólidas relativamente a públicos mais vulneráveis” (itálico meu). Públicos, senhor Ministro? Na verdade, este conceito aplica-se ao espectáculo, às artes do palco. Lapsus linguae de quem, no fundo, entende a política como espectáculo? Não ficou famoso o livro do Guy Débord “La Société du Spectacle” (1967)? Mas não creio, embora haja visões que a assumem mais ou menos assim, designadamente as que acentuam o carácter de elite da política, as que têm uma concepção instrumental da relação do poder com a cidadania e a dos que se entregam, no exercício político, totalmente nas mãos dos marketeers, agora do mais sofisticado marketing 4.0 ou 5.0, do senhor Philip Kotler. Até há uma tradição teórica que vai neste sentido, no sentido da teoria das elites. Por exemplo, a que se filia em Vilfredo Pareto ou em Gaetano Mosca. Esta tradição acentua a diferença entre saber, de um lado, e comportamento, do outro; elites, de um lado, e massas, do outro. Mas mais. Já entrou no discurso da teoria política o conceito de democracia do público (mas não “dos públicos”, note-se), que “afinou” a clássica democracia representativa democracia, substituindo o conceito de cidadania precisamente pelo conceito de público. Veja-se, por exemplo, a obra de Alain Minc, “L’Ivresse Démocratique” (Paris, Gallimard, 1995), mas sobretudo Bernard Manin, em Principes du Gouvernement Représentatif (Paris, Flammarion, 1995). A democracia dos mass media e, sobretudo, da televisão, que alguns designaram por “televisual democracy”, e que Fernando Medina certamente conhecerá bem por ser um dos seus protagonistas há muito. Mas não creio que seja isto, porque se trata de um ilustre militante do PS com ambições de liderança, isto é, de quem não pode adoptar estes conceitos por serem pouco compatíveis com uma visão de esquerda da política, da cidadania e da democracia. Cidadania é uma coisa, público é outra e “públicos” ainda outra (targets, na linguagem do marketing). Mesmo que se seja devedor de atenção ao “Público”, permita-se-me a graçola. Fico, pois, mais convencido de que tenha sido um simples “lapsus linguae”. Que, hélas, freudianamente até pode revelar algo que não tem um valor somente facial, porque pode ser profundo. E, se assim fosse (mas não creio), haveria que aprofundar as razões do “lapsus” para as resolver, politicamente, entenda-se. Lembro o que o socialista, com pergaminhos intelectuais, Norberto Bobbio disse: “a televisão é naturaliter de direita”. Portanto, deixo-lhe aqui uma modesta e amigável sugestão: não diga “públicos” nem público. Diga cidadania.
UMA GOLEADA, PARA COMEÇAR?
A SEGUNDA foi esta: “A mim, já me estão a pedir que marque 5-0 nos primeiros cinco (minutos)…”. 5-0, senhor Ministro? Mas quem é que está a pedir-lhe uma goleada destas? Algum Mourinho da política ou da economia? Ou foram os mesmos jornalistas do “Público” que lhe concederam essa excelente galeria de retratos numa só edição e que, embalados, o incentivaram a partir em quinta, não se sabendo bem para onde? Mas, ainda assim, como diria o António José Teixeira, goleada contra quem? De certeza que não será contra o já depauperado contribuinte. Tenho a certeza de que não. Mas a verdade é que uma goleada assim nem ao Ronaldo parece ser legítimo pedir. Autoconvencimento? Também não acredito. Se fosse, logo haveria quem dissesse que a modéstia parece não ser o valor que Fernando Medina mais aprecia. E o Ministro sabe perfeitamente o que isso significa, ou seja, que “a vaidade mata”. Quanto a mim, é mesmo justo que se lhe peça alguma coisa, mesmo os do jornal do senhor Manuel Carvalho, que faça bem o seu trabalho e de acordo com o que for melhor para o País, colocando, naturalmente, a ênfase nos princípios do centro-esquerda, particularmente no valores da igualdade, da cidadania activa e do desenvolvimento. O voto foi no PS, não foi na direita. Mas, sinceramente, uma goleada destas parece-me demais. O Capitão anterior metia uns golos discretamente e foi por isso que conseguiu um défice de 2.8, em tempo de pandemia. Goleada, não sei se foi, mas lá que foram contas certas, lá isso foram. Talvez tenha sido devido à excessiva carga fiscal, com os mesmos de sempre a pagar por tudo e por todos. Não sei. Mas o resultado foi bom, sobretudo atendendo às circunstâncias. Mesmo assim, o que se vê, agora que já não joga na equipa, é ser vilipendiado logo no dia seguinte (15.04), com manchetes de letras gordas (“João Leão vai gerir projecto financiado pelo Orçamento que ajudou a preparar”), pelo mesmo jornal que um dia antes levara o seu sucessor ao Olimpo, e com iconografia celestial. Dá mesmo que pensar, até porque, hoje mesmo (20.04), dando conta da resposta do ISCTE, que contesta com firmeza as acusações, volta a fazer manchete (e quase duas páginas). Sobretudo porque o homem saiu tranquilamente, com aviso prévio e de forma discreta. Será que, agora, no ISCTE, que alguns safados (como aquele careca que escreve na última página do “Público”) até já acham que é a Madrassa do PS, com imensos sacerdotes e sacerdotisas a ensinarem os fiéis, vai entrincheirar-se e começar a mandar bazucadas para o Terreiro do Paço? Não acredito. A haver bazucadas elas poderão vir de outros sacerdotes ou sacerdotisas. Acho eu, que não conheço bem esses meandros.
A POLÍTICA E O OPTIMISMO
A TERCEIRA foi esta: “Há sempre os pessimistas que vêem em cada dado negativo a pior coisa que pode acontecer, e há os optimistas. Dentro desta há aquela categoria única que é a do nosso Primeiro-Ministro” (itálico meu). “Categoria única”, isso mesmo. A do PM, que, sozinho, no entendimento do novo Ministro, parece esgotar toda uma categoria. Será a categoria dos optimistas irritantes, aquela a que se referia, glosando ironicamente o PR? Bom, está bem, mas não era necessário dizer categoria única, porque certamente haverá muitos outros optimistas irritantes. Uma categoria entre tantas outras de optimistas (ou de pessimistas). Dizer categoria única pode parecer (e dizem por aí que, em política, o que parece é) que uma só pessoa esgota toda a espécie de optimistas irritantes e até pode levar a que o apelidem de louvaminhas. Sobretudo porque, tendo perdido a Câmara de Lisboa para um personagem mais que cinzento, pouco depois foi catapultado a Ministro das Finanças, pelo mesmo “optimista irritante” a que se refere. Um gesto optimista de António Costa? Irritante, mais uma vez? Para quem? Talvez para alguns socialistas que ainda não digeriram a derrota de Lisboa. Também neste caso se confirmou o diagnóstico do PR?
O ÍNDICE DE CORAGEM POLÍTICA
TUDO ISTO me deixa um pouco inquieto, até porque desejo que tudo corra bem neste longo mandato de quatro anos e seis meses. A verdade é que a contenção do anterior Ministro lhe ficou bem, apesar de o jornal da SONAE no dia 15 de Abril o ter levado ao pelourinho. Alguém se deve ter sentido incomodado com a gestão anterior das finanças ou, então, ficou incomodado com as novas funções do ex-Ministro. E certamente não terá sido o director Manuel Carvalho. Afinal, o homem regressou ao lugar onde já trabalhava como professor antes de ser Ministro (desde 2008, ao que parece), voltou para uma instituição pública (não para uma empresa privada), tendo sido nomeado vice-reitor, de onde decorrerão certamente funções por inerência, talvez mesmo aquela de que já o acusam (mas, sendo inerência, nem sequer será desempenhada por ele, mas por outro vice-Reitor). Conflito de interesses? Não, claramente. Mas, se fôssemos por aí, os Ministros das Finanças poucos sítios encontrariam para trabalhar porque as finanças estão (infelizmente) por todo o lado. Sobretudo na esfera pública, que é onde ele trabalha. Eu já tinha simpatia pela discrição dele (e, já agora, vistos os resultados, pelo seu trabalho), mas, neste momento, atacado despudoradamente pelo jornal do senhor provedor Barata-Feyo, não sei acicatado por quem, ainda tenho mais. E nem sequer o conheço pessoalmente. Mas, para terminar a conversa, que já vai longa, e, agora sim, a propósito da costumeira reentrada em cena de Cavaco Silva, fica-me uma “pulga atrás da orelha”: o seu elogio ao novo Ministro das Finanças, pondo a sua coragem política num patamar bastante superior (5-6/10) à do próprio Primeiro-Ministro (0-2/10). O protegido mais corajoso do que o protector? #Jas@04-2022.

O REGRESSO DA BARBÁRIE
E os Apóstolos do Pensamento Crítico
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 04-2022
“Somente a pura violência é muda, e por este motivo a violência, por si só, jamais pode ter grandeza” – Hannah Arendt (A Condição Humana, Lisboa, Relógio d’Agua, 2001, 41)
IMPRESSIONADO ou mesmo chocado com tanta argumentação desviante e tantos sobressaltos de liberdade de pensamento que se lêem a propósito da guerra, decidi propor uma reflexão de fundo sobre o actual conflito entre a Rússia e a Ucrânia, indo ao essencial. E começo por dizer o que, para mim, é o essencial neste conflito: o seu valor altamente simbólico porquanto representa um autêntico choque civilizacional, a barbárie contra o direito internacional, o direito à livre autodeterminação dos povos, a democracia, a liberdade, os direitos humanos. É esta, usando um conceito do “Sobre a Contradição”, de Mao Tse Tung, a contradição principal, nesta guerra absurda.
O REGRESSO DO IUS GLADII
É POR ISSO que a derrota da Rússia se torna decisiva para a própria comunidade internacional, para que a barbárie não consiga impor-se como estado de facto nas relações internacionais, onde só a força passaria a contar. Um autêntico regresso ao ius gladii, ao “direito de espada” (feudal) nas relações internacionais, uma lógica equivalente à situação anterior ao contrato social, que inaugura o Estado moderno e a regulação institucional do uso da força. Neste caso, a regulação internacional do uso da força, em particular o estipulado pelo art. 51 da Carta das Nações Unidas. A Ucrânia representa, neste conflito, o direito e a humanidade ofendidos pelo arbítrio de um ditador assente na doutrina da força e do envenenamento ou da prisão dos adversários, no direito do mais forte. E, não, a Ucrânia não é, como alguns sustentam, um mero “peão de brega” daquele que seria o autêntico confronto, Rússia versus Estados Unidos, por interposto país terceiro. Não, isso seria música celestial para os ouvidos de Putin e equivaleria ao reconhecimento de uma centralidade que a Rússia já não possui, após a queda do Muro de Berlim, em 1989. É um país importante, sem dúvida, e não só por ser uma potência nuclear, pela vastíssima extensão do seu território ou pelo número de habitantes que possui. É importante também pelos recursos naturais de que dispõe, capazes de condicionar fortemente, como se vê, a economia europeia, apesar de o seu PIB ser metade do de um estado federal dos Estados Unidos, a Califórnia (em 2020, por exemplo).
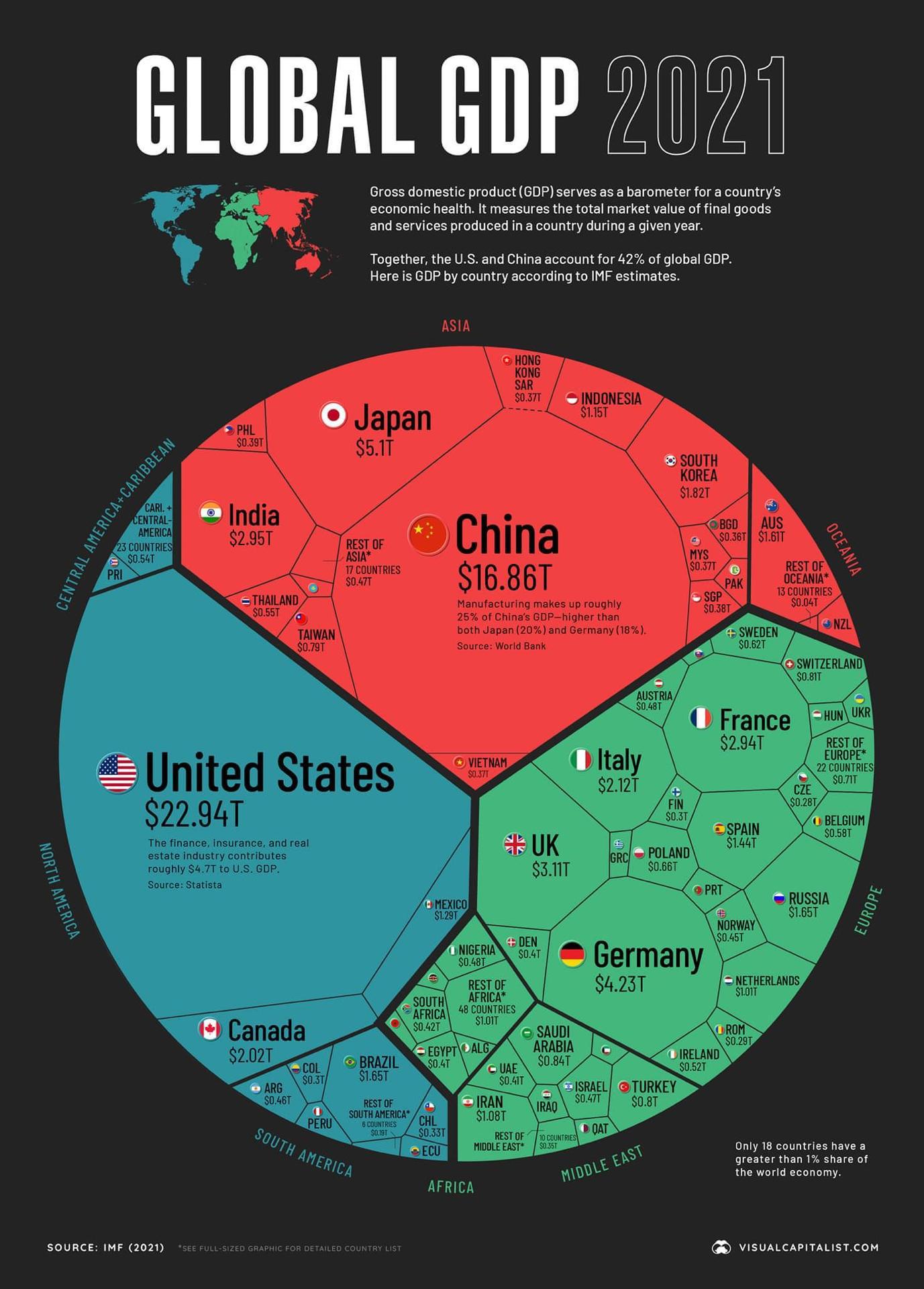
Mas entre a vontade de poder imperial do suserano Putin e a realidade vai uma enorme diferença. Poder-se-ia mesmo falar (em termos de poder militar convencional) de “tigre de papel”, não fosse o poder nuclear de que dispõe. Algo que já ficou bem evidente na dificuldade que está a ter em concretizar o seu programado Blitzkrieg contra a Ucrânia, considerado por alguns como uma espécie de preemptive war, contra um perigo (a adesão da Ucrânia à NATO) que, afinal, não era iminente, não se tratando, portanto, de legítima defesa (de uma potência nuclear, note-se, e que ainda por cima é um dos cinco membros do Conselho de Segurança, o órgão que zela precisamente pela paz e pela segurança), condição que, de resto, o Art. 51 da Carta das Nações Unidas só prevê para casos de ataque efectivo. Para preemptive war confesso que me parece demais. A verdade é que, e sem considerar que a NATO é uma organização puramente defensiva, que nem sequer estava a preparar a entrada da Ucrânia e que, de facto, nada havia que se parecesse com legítima defesa ou sequer com perigo remoto para uma preventive war (de resto, ilegal), nunca a Rússia teve um tempo e um ambiente de segurança como o que se verificou no pós-Guerra Fria. E, todavia, garantida financeiramente pelas gigantescas rendas dos enormes recursos naturais de que dispõe (por exemplo, o gás e o petróleo) nunca se preocupou em promover um forte desenvolvimento económico interno, investindo na economia em vez de investir no armamento, como a seu tempo queria Gorbatchov, com a Perestroika e as iniciativas para uma distensão militar com o ocidente, que permitiria libertar recursos para a economia. Mas o que sobrou, afinal, com Putin, foi uma concepção imperial de política e a sua redução à lógica do amigo-inimigo, tão cristalinamente teorizada por Carl Schmitt, subalternizando os aspectos do crescimento e do desenvolvimento e mostrando-se incapaz de responder ao mais sofisticado desafio do soft power, esse, sim, em condições de promover uma boa política de reconstrução das zonas de influência. Não, a Ucrânia não é um tertium, teatro de guerra para outros protagonistas, porque não existe confronto entre as forças militares dos dois “impérios” e, também, e mais importante, porque a Ucrânia não é, de facto, satélite secundário dos USA, da Europa ou da Rússia: é um país com quase 45 milhões de habitantes e com um enorme território de mais de 600 mil Km2, o maior exportador mundial de trigo e rico em matérias primas. E também não vale a pena começar, com ar compungido e alguma gravitas, exibida por empedernidos que já não conseguem tirar os antolhos ideológicos, a dissecar os problemas políticos internos da Ucrânia para justificar de forma enviesada e manhosa a invasão ou ainda a cantar a coragem de pensar numa Europa que teria cortado as asas ao pensamento, impondo o “pensamento único” – não, não, isso só serve para desculpar o indesculpável, uma invasão ilegítima, ilegal e brutal de um país livre que assumira o modelo civilizacional e político da Europa ocidental como seu destino e que aspira a libertar-se do sufoco de um país que, além da submissão incondicional, pouco ou nada lhe pode oferecer em matéria de crescimento, de desenvolvimento e de liberdade. Um importante país que a Rússia de Putin quer subjugar, roubando-lhe, pela força, importantes territórios ou mesmo impondo-lhe um regime fantoche ao serviço dos seus interesses e do seu sonho imperial. Esta guerra não tem, pois, fundamento, à luz das normas que regulam as relações internacionais e nem sequer pode ser explicada por uma suposta estratégia superior de confronto entre duas potências imperiais, pela simples razão de que a Ucrânia tem legítimo direito a definir em liberdade o seu futuro civilizacional e o seu bem-estar sem qualquer tipo de tutela e muito menos sem a tutela de quem tem pouco ou nada a oferecer no futuro, a não ser pura e simples submissão ao diktat de um suserano detentor de ius gladii, à boa maneira feudal. Não, esta guerra não se explica por grandiosas teorias de geoestratégia só ao alcance dos pensadores de primeira água, de sábios que se alimentam de grandiosas teorias pouco adequadas à realidade.
SOFT POWER E ÁREAS DE INFLUÊNCIA
A RÚSSIA tem todo o direito de querer estabelecer zonas de influência, sem dúvida, o que não pode é, à falta de soft power, fazê-lo à força, quebrando todas as normas do direito internacional. Na verdade, a Rússia de Putin quer construir áreas de influência através da força e sem exibir realmente capacidade para atrair genuinamente os países vizinhos que se encontram nessas áreas territoriais, por mais ensaios que Putin escreva e publique no site do Kremlin a teorizar as afinidades históricas entre os respectivos povos, para, logo a seguir, se contradizer na prática, desencadeando injustificadas, mortíferas e destruidoras agressões. Para isso teria de se desenvolver, teria de propor uma visão do mundo atraente (por exemplo, como a utopia que animava a União Soviética) e praticar uma política de boa vizinhança e não uma política de ameaça e de roubo territorial. Derrotado o sonho imperial da União Soviética e incapaz de se reerguer de acordo com aquelas que são as práticas comuns e internacionalmente seguidas pelos países desenvolvidos, a Rússia de Putin acaba por enveredar por um caminho historicamente ultrapassado, injusto e inaceitável à luz dos progressos civilizacionais que a humanidade já conseguiu, colocando-se numa posição em que parece só saber articular uma política de força e de ameaça, talvez a única que o antigo agente dos serviços secretos consiga, et pour cause, pensar e executar. Ora, não é assim que se constroem as zonas de influência, precisamente porque os países que potencialmente as iriam integrar acabam por definir outros horizontes mais sedutores e mais de acordo com as suas próprias expectativas de futuro. Isto acontece com os países tal como acontece regularmente com as pessoas singulares. Nada de extraordinário e perigoso.
CAIXA DE PANDORA
É ESTE MUNDO da força e da violência que deve ser derrotado numa guerra que se espera seja somente convencional, já que na outra não haveria vencedores. Continuo, pois, perplexo, com a argumentação dos apóstolos da complexidade e do pensamento crítico sobretudo quando começam a fazer comparações, ainda por cima inexactas, a propósito do número de vítimas nos conflitos em curso desde 2014, na Ucrânia. Ou seja, a basear a sua argumentação em conflitos internos que foram instigados precisamente pela vizinhança russa, de modo a garantir, por interpostos agentes, uma permanente interferência no seu destino. Uma contabilidade negra e funesta que, qual caixa de Pandora, acabaria por considerar insignificante a tragédia ucraniana se comparada com a destruição da Europa e as dezenas de milhões de mortos na segunda guerra mundial. Estas corajosas e desapaixonadas análises dos apóstolos da complexidade chegam a demonstrar uma profunda insensibilidade ou mesmo crueldade perante as imagens a que todos estamos diariamente a assistir, não sendo, de qualquer modo, legítimo duvidar da seriedade de tantos e tão diversificados jornalistas no teatro de guerra, onde correm perigo de vida, como já aconteceu, relativamente à veracidade das imagens e das informações que nos chegam ou considerar toda a Europa como um lugar de pensamento único e de implacável censura do pensamento livre (sobre este assunto aconselho o excelente artigo de João Cerqueira, “Pela Paz Contra a Criminalização do Pensamento – uma ajudinha”, no Sol, 09.04.2022, p. 38).
LUTAR PELA DECÊNCIA
NÃO PARECE ser muito difícil compreender o essencial do que está em causa: uma fractura profunda entre a barbárie e a decência civilizacional, sem qualquer “mas” pelo meio. A convergência entre a brutalidade da guerra em si e a brutalidade do modo como ela foi decidida e executada deveria ser suficiente para convencer essas almas teoreticamente assépticas, embrulhadas no manto diáfano do pensamento crítico e analítico, a tomarem posição a favor da civilização contra a barbárie sem deixarem também de ser capazes de se emocionar e se indignar com a morte de milhares de pessoas indefesas e com o degredo induzido de milhões de seres humanos que se vêem obrigados a abandonar a sua terra e os seus lares. Mas não, encerrados nas suas “Torres de Montaigne” (que me perdoe Montaigne), trocam a vida por palavras, ainda que essas palavras sejam erradas, cruéis e, ainda por cima, almofadadas com lamúrias quando alguém os critica e discorda radicalmente das suas rebuscadas e manhosas explicações, do seu celestial pensamento analítico. Não, o conflito trava-se mesmo entre a Rússia e a Ucrânia e são ucranianos os que morrem para se defender de um arbitrário e indecente invasor estrangeiro, membro (e com direito de veto) do órgão que é suposto garantir a paz, se necessário através da força. E se outros países os ajudam não é para atacarem a Rússia ou vencerem num imaginário confronto com ela, mas sim para ajudarem os ucranianos a defender-se da morte e da destruição que lhes está a entrar ruidosa, prepotente e insistentemente pela casa dentro. E, que seja claro, a defesa destas populações é simplesmente a defesa da decência e a construção de um muro que impeça os invasores de tentarem entrar também pela nossa casa dentro. A casa da civilização ocidental, do direito internacional, da justiça, da liberdade e dos direitos humanos. E da decência. #Jas@04-2022

“
A DOUTRINA PRESIDENCIAL
Sobre o Presidencialismo do Primeiro-Ministro
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 04-2022
A QUESTÃO mais ampla que se deverá colocar, a propósito do discurso do Presidente na tomada de posse do novo governo, é esta: a política democrática esgota-se nos procedimentos formais de funcionamento da democracia previstos no sistema representativo? Claro que não. A política é mais vasta do que o conjunto de regras que caracterizam o sistema representativo. Mesmo nas visões processualistas da democracia. Por exemplo, já existia sistema representativo no protoliberalismo, mas ainda não se podia falar de democracia, porque não existia o sufrágio universal. O sufrágio universal era, pois, um valor político não contemplado pelas regras constitucionais, embora o seu alcance já estivesse inscrito no art. 1 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, preâmbulo da constituição francesa de 1791: “Tous le hommes naissent e demeurent libres et égaux em droits”. Ou a diferença entre legalidade e legitimidade, sendo a dimensão da legitimidade mais vasta e profunda do que a da legalidade, não se reduzindo também, no meu entendimento, a uma mera prestação do sistema mediante procedimentos (Legitimitaet durch Verfahren) instituídos para produzirem decisões vinculativas, como quer Niklas Luhmann (ver Bobbio, em Stato, governo, società, Torino, Einaudi, 1980, 84). Ou ainda a diferença entre deliberação pública e decisão. Na verdade, aquela pode não coincidir com esta, sendo também mais vasta. Mas a verdade é que todas elas são dimensões da política democrática, uma práxis que, na verdade, afunda as suas raízes na sociedade civil ou naquilo que a filosofia alemã designa por Lebenswelt, “mundo-da-vida”, e que não pode ser comprimido no processualismo puro e duro.
OS MECANISMOS CLÁSSICOS DO SISTEMA REPRESENTATIVO
A QUESTÃO EM ANÁLISE, enunciada no título deste Artigo, põe-se a propósito de uma prestação do sistema, o procedimento que define o modo de escolha dos representantes no Parlamento. Na verdade, as eleições visam exclusivamente a escolha de quem vai deliberar em nome da cidadania (não o que será objecto de deliberação), mas não decide sobre quem vai decidir, ou seja, os governos, formados, depois, a partir do princípio da maioria (sobre este assunto veja-se Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democracia, IV, 21). Deliberação e decisão não são, de facto, a mesma coisa. Vota-se para o Parlamento e não para o governo. Não por acaso ao governo se chama também executivo, a instituição que decide e executa e que, ao contrário do Parlamento, tem uma composição homogénea, como exige a boa execução. Mas também é verdade que a existência de uma maioria parlamentar garante a existência de um governo legítimo (ou seja, neste caso o governo é o resultado de uma prestação do sistema, através do accionamento do princípio da maioria). É assim que funciona o sistema.
Ora a recente posição (e a sua fundamentação) do PR na tomada de posse do XXIII governo constitucional relativamente à possibilidade de o PM empossado vir a rumar, antes do fim da legislatura, em 2024, a Bruxelas para o cargo de Presidente da União Europeia merece uma atenta reflexão precisamente nos termos em que iniciei este artigo. Não se trata de saber se vai ou não vai (isso depende de uma decisão do próprio no momento adequado e até pode estar sujeita a razões imponderáveis), mas de saber quais as consequências políticas de um seu eventual abandono da chefia do governo. Ou seja: o PR deveria, nesse caso, aceitar um novo nome para PM, indicado pela maioria parlamentar, não dissolvendo o Parlamento? Poder, poderia, como, de resto, aconteceu com Santana Lopes. E até estaria mais de acordo com os procedimentos e a filosofia do sistema representativo. Mas a fundamentação que o PR fez da sua já anunciada decisão tem sentido e inscreve-se numa leitura política, digamos, metaprocedimental: legal, porque se enquadra nas suas competências, mas também legítima, pelas razões que passo a expor.
ALGUNS FACTORES A PONDERAR
EM PRIMEIRO LUGAR, o que foi proposto ao eleitor foi, de facto, que escolhesse entre dois candidatos a PM, elegendo para isso uma maioria de deputados. A eleição dos deputados foi apresentada e até mesmo assumida como meio para um fim superior: a formação de um governo com um PM já eleitoralmente pré-designado. Poder-se-ia até supor que a formação das listas para candidatos a deputados foi feita mais para garantir equilíbrios partidários e exigências internas e institucionais de liderança do que para conquistar consenso eleitoral ou responder às exigências do órgão legislativo e do próprio país. Para isso estariam lá o líder e o governo. Esta proposta, como é evidente, não altera a natureza do sistema representativo do ponto de vista formal, que é a que acima indiquei, mas altera o contexto ambiental em que é exercido o voto e a própria finalidade do voto em três aspectos centrais: a) a personalização extrema do voto nos candidatos a PM (pré-designação eleitoral), conjugada complementarmente b) com um boletim de voto somente com a sigla dos partidos, uma espécie de envelope fechado com a lista dos deputados do respectivo círculo eleitoral dentro; e ainda c) a identidade entre o candidato a PM e a liderança da formação política que aspira à maioria parlamentar (de governo), de onde resulta autoridade política e pessoal do candidato sobre a sua própria maioria parlamentar. Acresce que uma parte muito significativa – talvez mesmo excessiva – dos candidatos é decidida, directa ou indirectamente, pelo líder-candidato. E, mais, note-se que em casos, como o inglês, por exemplo, em que o PM até possuía o poder (sob forma de proposta à Rainha) de dissolução da Câmara dos Comuns e de convocação de eleições legislativas antecipadas (mas o Fixed-term Parliaments Act 2011 viria a alterar profundamente a situação, condicionando fortemente a antecipação de eleições) esta lógica de inversão dos poderes intensificava-se ainda mais. Neste sentido, pode tranquilamente falar-se de presidencialismo do PM ab ovo. Ou de supremacia insofismável do “Gabinete” sobre o legislativo. Ainda a este propósito, e precisamente sobre a centralidade política da figura do PM, são muito elucidativas as reflexões de Schumpeter na obra acima referida (em IV, 21, II, 1-3).
EVOLUÇÂO DO SISTEMA REPRESENTATIVO
O QUE SE VERIFICA, pois, realmente é uma alteração, não do sistema, mas da configuração do processo eleitoral, particularmente tendo em conta um sistema eleitoral que, ao contrário de outros, propõe listas de candidatos fechadas e cobertas por uma sigla partidária (no próprio boletim de voto). Como se sabe, num sistema maioritário com círculos uninominais ou até num sistema proporcional com preferências isso não acontece, pois os candidatos são sujeitos a escrutínio directo (sendo escolhidos ou rejeitados nominalmente). Ora, isso acontecendo, a responsabilidade do voto recai sobretudo na liderança, expressa no rosto que dá concreto corpo à sigla partidária, enquanto autêntico agente fiduciário do eleitor, garante da bondade das escolhas programáticas, da sua execução e dos valores partilhados. No caso português, e tomando em consideração a longa presença de António Costa como PM, ainda se reforça mais a personalização extrema do voto, em 2022, e a assunção, pelos eleitores, como seu agente fiduciário com provas dadas (ao longo de seis anos). A expressão presidencialismo do PM faz, pois, deste modo, ainda mais sentido, logo a partir da génese do processo, ganhando forte pregnância política a concreta figura do líder e candidato a PM. E, assim sendo, nessa eventualidade (mas não passa disso), faria sentido, sim, convocar eleições antecipadas.
O CASO DA POLÍTICA DELIBERATIVA
ORA AQUI TEMOS um caso em que entramos numa dimensão metaprocedimental da política democrática (formal), com o reconhecimento de que estamos perante uma evolução do sistema representativo para uma nova configuração relativamente ao modelo tradicional, aquele que tornou possível, em 2015, a formação do executivo chefiado por António Costa. A esta evolução corresponde também a democracia deliberativa, sobretudo enquanto a deliberação pública não tiver uma extensão decisional obrigatória relevante (através de normas expressas) e se confinar simplesmente à livre metabolização política das dinâmicas que ocorrem no espaço público deliberativo para que não se venha a verificar uma perda substantiva de legitimidade, numa época em que a legitimidade de mandato (também procedimentalmente prevista e formalmente em vigor) deu origem à legitimidade de exercício ou, como eu prefiro, a uma legitimidade flutuante, aquela que tem de ser renovada permanentemente perante a opinião pública. A legitimidade não é, portanto, somente uma prestação do sistema mediante regras. É mais do que isso. A legitimidade flutuante exprime bem a forma como a legitimidade do poder deve ser hoje encarada devido ao crescimento do espaço intermédio de comunicação, dando lugar a um fortíssimo redimensionamento da chamada legitimidade de mandato, reduzida hoje a mera função operativa do sistema. Também aqui o modelo previsto no clássico sistema representativo sofreu uma evolução substantiva precisamente devido ao crescimento do espaço intermédio entre a cidadania e o poder, espaço que pode ser designado, sim, como espaço público deliberativo. Também aqui a política extravasa o processualismo democrático. Se no século XVIII a informação acerca do que se passava no Parlamento era punida por lei, hoje acontece exactamente o contrário, não sendo admissível uma política de ocultamento (muito menos legalmente assumida) das decisões do poder político perante a opinião pública. O que não pode deixar de ter consequências no exercício da política democrática. De resto, há já inúmeros sinais, certamente ainda insuficientes e tímidos, que exprimem a exigência de deliberação pública no sistema democrático – em todos os processos que exigem obrigatoriedade de consulta pública para posterior decisão pelos detentores formais do poder decisional.
FINALMENTE, UMA CLARIFICAÇÃO COM SUPORTE PRESIDENCIAL
TODOS ESTES FACTORES vieram alterar o funcionamento do sistema representativo em aspectos essenciais que a política deve metabolizar se não quiser descolar gravemente da cidadania, fechando-se no casulo legal e no casulo partidocrático, perdendo legitimidade e, a longo andar, provocando aquilo que venho designando como discrasia da representação e anemia democrática, o que, como sabemos, tem vindo a provocar a fragmentação dos sistemas de partidos e o renascimento dos populismos.
Defendi esta mesma posição, creio que no Diário Económico, onde colaborava regularmente, em Julho de 2004, discordando da decisão do Presidente Sampaio, quando Durão Barroso rumou à Presidência da União Europeia e Santana Lopes foi indigitado PM. Ora as condições de exercício político evoluíram ainda mais neste sentido, designadamente porque a esfera do espaço intermédio se alargou e intensificou com o universo digital, exigindo do poder político maior atenção ainda ao espaço público deliberativo e, por essa via, ao significado político e às implicações do que vai propondo à cidadania.
Sendo algo atípica a assunção presidencial de uma intenção que António Costa nunca chegou a manifestar e que só o tempo poderá esclarecer, todavia, esta prévia clarificação, acompanhada de uma compreensível justificação, pode ter não só um sólido valor preventivo (conhecidas que ficam as consequências políticas de uma eventual decisão do PM neste sentido), mas também um valor de tipo “jurisprudencial” por a justificação invocada estar em linha com a própria evolução da democracia representativa, como julgo ter demonstrado. #Jas@04-2022
QUATRO REFLEXÕES
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 03-2022
O NOVO GOVERNO
Toma posse hoje o 23.º governo constitucional, liderado por António Costa e ancorado numa maioria absoluta do PS, com 120 deputados em 230. Se contarmos os próximos quatro anos, o PS, em 2026, terá sido governo, neste século, 19 anos contra 7 do PSD, tendo conseguido duas maiorias absolutas, em 2005 e em 2022. António Costa será PM durante 10 anos (se em Novembro de 2024 não for substituir Charles Michel na Presidência da UE), tempo equivalente ao dos governos de Cavaco Silva.
- Este governo ficará marcado por ser um governo paritário ao nível de ministros: tantos homens como mulheres (9+9). Infelizmente, ao nível dos Secretários de Estado não chega a um terço o número de mulheres (12 em 38). Há que reconhecer, todavia, que é um enorme avanço.
- Mas ficará também marcado por um terço dos Ministros, e em funções muito relevantes, ser constituído por aqueles que hoje parece serem os possíveis candidatos à liderança do PS, quando António Costa sair: Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Duarte Cordeiro. Seis em dezoito (contando o PM).
- O que não deixa de ter consequências. Todos eles se empenharão, como é natural e se espera, em ter boas performances não só pela responsabilidade dos cargos e pelo desejo de representar bem o PS na gestão do País, mas também porque uma boa prestação ministerial aumentará o capital político de cada um para efeitos de uma candidatura futura..
- Uma coisa é certa: todos foram promovidos, à excepção de Pedro Nuno Santos, que manteve as funções que já tinha. Mesmo Mariana Vieira da Silva, continuando como ministra da Presidência, foi promovida formalmente a número dois do executivo.
- Mas há dois riscos nesta fórmula: a) o de os ministros se preocuparem mais com o seu capital político do que com as funções institucionais que desempenham, sendo certo que se trata, de facto, de coisas diferentes; e, b), o de, por consequência, se deixarem tentar, a partir das posições institucionais que ocupam, pela arregimentação dos militantes do PS para efeitos da futura competição interna, até porque há um ministro que parece já ter um peso orgânico maior do que os outros, Pedro Nuno Santos, havendo, pois, a tentação de, deste modo, compensar o seu peso.
- Pode, pois, haver, na política governativa e em pastas muito importantes, pecado de excesso de política partidária e defeito de política institucional. Não digo nem desejo que vá acontecer, mas em tese é possível.
- Por seu lado, o PM parece ter as suas simpatias orientadas mais num sentido do que no outro, sendo também provável que a coroação de um designado possa ser uma tentação. A promoção governativa de todos estes protagonistas parece significar uma autêntica colocação em pole position de todos os possíveis candidatos por parte do líder. Até porque Pedro Nuno Santos já ocupava, por mérito próprio, essa posição, parecendo exibir maior autonomia (viu-se, por exemplo, nas eleições presidenciais) e peso político próprio do que os outros possíveis candidatos. Um reposicionamento de todos os eventuais candidatos, a cargo do actual líder.
- Seja como for, o que é desejável é que este venha a ser um bom governo, não só nestas seis pastas, mas também nas outras. Pela minha parte, aqui deixo o meu augúrio de bom trabalho.
QUE VIVA A COMPLEXIDADE,
MAS TAMBÉM A COMPAIXÃO
Continua a saga dos que acham que a imprensa ocidental é como a de Putin, que as posições dos dois lados são equivalentes, que há que respeitar a complexidade dos eventos históricos, que é necessário afastar a emoção perante o que as televisões nos mostram, que é preciso confirmar que sejam verdadeiras as imagens televisivas de destruição e não pura propaganda induzida pela Ucrânia. Propaganda, jornalismo de parte (advocacy) e tendência censória para com os que não estiverem em linha com a maioria – são estes os termos que alguns aplicam à generalidade dos media ocidentais. Propaganda: se for pela democracia representativa e pelo seu valor universal, então está certo porque isso será bom para a cidadania e para o próprio jornalismo; se for jornalismo “advocacy” pela liberdade, pelo direito à autodeterminação dos povos e contra as invasões que desrespeitam o direito internacional, também está bem porque está em linha com a grandes cartas de princípios internacionais; já em relação à censura não se vê lá muito bem quem é que censura quem, uma vez que os que mantêm uma seráfica equidistância podem publicar livremente o que quiserem, sendo, todavia, minoritários e estando também eles sujeitos às críticas dos pares, ou seja, dos que frequentam os mesmos interfaces que eles. Finalmente, em relação à complexidade: apesar de morrerem milhares de pessoas e de um país estar a ser destruído à “bazucada”, resultado de uma guerra injusta e ilegítima, ninguém contesta que os teóricos da complexidade procurem explicações históricas para o que aconteceu e que o façam de forma muito sofisticada, com os seus próprios quadros conceptuais. Eventualmente até com uma “epistemologia do Sul”. Até se agradece isso. Mas também se lhes pede que se pronunciem, em nome de valores universalmente partilháveis, sobre esta guerra sem a relativizar, porque os morticínios e a destruição são mal absoluto e porque relativizar é banalizar esse mal absoluto, para usar os termos da Hannah Arendt no livro Eichmann in Jesusalem. A Report on the Banality of Evil (New York, Viking Press, 1963). Este mal absoluto gera profunda emoção que, ao contrário do que afirma um dos apóstolos da complexidade, nas páginas do DN, não ultrapassa “os limites da decência” porque representa simplesmente compaixão e humanidade.
A GUERRA DIGITAL
A guerra está a acontecer em duas frentes fundamentais: a frente, arcaica e trágica, territorial e a frente global, de efeitos quer imediatos quer diferidos. A guerra de destruição de vidas e de infraestruturas e a guerra económica e comunicacional, a nível global. Aqui parece ter-se aberto uma nova frente: a guerra entre as grandes plataformas digitais, Big Tech, e a Rússia de Putin, admitindo-se que a Internet possa deixar de ser universal porque a Rússia sairia e criaria uma sua Internet interna. O que se tem visto são fortes pressões e acções do Kremlin sobre as plataformas (incluindo os respectivos escritórios em Moscovo), exigindo-lhes a aplicação de medidas de censura, até com ameaças. Algumas cedem, mas outras não, manifestando até posições de simpatia pela Ucrânia, como, por exemplo, o Facebook, que, entretanto, foi bloqueado, assim como o Instagram e o Twitter. Jessica Brandt e Justin Sherman, em “Foreign Policy” (“Wil Russia will chase out Big Tech?”), põem mesmo uma hipótese de ruptura: “The Russian government is already pushing for a domestic internet, and isolating and blocking Western tech platforms may move the country toward greater internet fragmentation—at least, at the content layer. That will damage the principle of a free, open, and global internet”. Será isto mesmo possível? Faz sentido uma internet circunscrita a um só país? E qual a seria reacção dos cidadãos russos quando se vissem mesmo privados definitivamente das redes sociais tal como as conhecem? Não acredito que a história ande para trás e que as fronteiras do mundo (até no plano digital) comecem a fechar-se às mãos dos ditadores, regressando a Vestefália. As grandes plataformas têm aqui uma boa oportunidade de demonstrar que estão do lado da liberdade e prontas para ajudar a cidadania contra os ditadores. Uma oportunidade que as poderá resgatar dos fortíssimos ataques que têm vindo a sofrer pelo establishment mediático tradicional e por certos meios académicos e políticos. Veja-se, por todos, o livro de Shoshana Zuboff sobre o Capitalismo da Vigilância, sucedâneo de No Logo, a Bíblia dos movimentos anti-globalização, de Naomi Klein, ou o documentário da Netflix sobre as redes sociais. A China controla a internet, com alguma dificuldade (veja-se o meu ensaio sobre o assunto, “Mudança de Paradigma: a emergência da Rede na Política. Os casos Italiano e Chinês”, em ResPublica/17, 2017, pp. 51-78), mas nunca foi tão longe. Pelo contrário, recorreu à Cisco Systems, para construir o seu sistema informacional de controlo. Este, se a guerra não terminar em breve, será um importante dossier a seguir com a maior atenção. Veremos.
A ESPECULAÇÃO E OS PREÇOS
Os efeitos da guerra estão a sentir-se fortemente, acrescentando-se ao que já sofremos com a COVID19. A especulação é amiga das crises e isso já está a acontecer com os preços, em todas as frentes do consumo, sobretudo devido ao aumento brutal do preço dos combustíveis, mas também à escassez de matérias-primas, que já era forte com a crise da pandemia. Segundo a DECO, só num mês (de 23 de Fev. a 23 de Março) os preços, num cabaz de produtos alimentares essenciais, aumentaram quase 8 euros, passando de 183,64 para 191,58 euros (4,32%). Sobre os combustíveis nem vale a pena falar. De novo se torna necessário revitalizar o papel do Estado e da União Europeia para fazer face à crise e proteger a economia e as famílias. A frente fiscal deveria desempenhar neste contexto uma função essencial, conhecendo-se a boa prestação do Estado em matéria de défice orçamental em 2021 (2,8% do PIB). Esta situação relança, pois, o papel do Estado em todas as frentes, pondo, de novo, em crise os que dizem que o Estado deve somente ser supletivo, mas também alimenta aqueles que acham que o Estado é tudo e que a sociedade civil não passa de um sub-rogado dele. Um mal nunca vem só e se é verdade que as crises são momentos propícios a uma reflexão mais densa sobre a história, também é verdade que elas aguçam a emoção e perturbam a serenidade analítica. O que, todavia, elas não devem pôr em crise é o apego aos valores universais já consignados nas grandes cartas universais de princípios, mas também a compaixão e a solidariedade com os que injustamente sofrem a violência dos mais fortes. #Jas@03-2022

O Erro de Putin (III)
A GUERRA, A INFORMAÇÃO E O PROVEDOR
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 03-2022
FUI LER O ARTIGO do provedor do “Público”, José Barata-Feio, “Guerra na Ucrânia: a boa e a má propaganda” (19.03.2022, pág. 19), alertado pelo comentário crítico de José Magalhães no seu Facebook, e achei oportuno propor uma reflexão sobre a informação acerca da guerra, a que o Kremlin chama eufemisticamente “operação militar especial”, punindo severamente quem se atrever a designá-la por aquilo que ela realmente é: GUERRA. E começo por concordar com o senhor jornalista-provedor quando considera que estamos perante um excesso informativo. Sim, o excesso é hoje a medida da informação televisiva portuguesa. Foi assim com a COVID19 e é assim com tudo o que é negativo, com tudo o que cheira a desgraça ou a horror. É assim com os maiores telejornais do mundo. Tabloidismo desbagrado, é o que temos. Com certeza. Mas o meu ponto não é este.
A INDIGNAÇÃO DO PROVEDOR
É, SIM, A POSIÇÃO de fundo do colunista-provedor, que está bem resumida logo no lead do artigo, que passo a citar: “As opiniões públicas ocidentais recebem uma informação tão dirigida quanto a que é despejada sobre os russos”. O senhor jornalista-provedor não faz a coisa por menos. Aqui está o que ele realmente pensa. E nem vale a pena dizer-lhe que este excesso informativo tem vindo a crescer desmesuradamente e que, por exemplo, “as guerras na ex-Jugoslávia” hoje teriam certamente uma cobertura muito maior do que na altura tiveram. Ou dizer-lhe que nunca, como hoje (excepção feita para a questão dos mísseis de Cuba, em 1962), o risco de uma guerra nuclear esteve tão perto. E também não vale a pena comentar a sua qualificação da “aberrante e ‘putinesca’ decisão do Conselho Europeu”. Ou mesmo o que o título logo parece insinuar: que a informação na EU é, também ela, propaganda. Não, não vale mesmo a pena. O que vale a pena é comentar a sua posição de fundo acerca da guerra, de resto partilhada por alguns, e que está bem expressa no lead do seu artigo, que citei. O que o senhor jornalista-provedor acha é que os meios de comunicação ocidentais estão a fazer uma informação de parte, informação “advocacy”, o que ele considera inacreditável, por inadmissível: “A guerra na Ucrânia é objecto de uma cobertura noticiosa unilateral, uma one side view sem paralelo na história da imprensa moderna”. E, não satisfeito, ainda pergunta: “mas qual é o lado da imprensa e dos jornalistas independentes na cobertura de uma guerra? E qual é a sua função? A de informar tão completamente possível ou a de, na prática, divulgar apenas as posições de um dos lados?”. Um dos lados, note-se. Mas há realmente duas posições equivalentes? Também a Ucrânia já bombardeou a Rússia? E, finalmente, para que a sua consciência fique serena e tranquila, conclui que “Em relação ao PÚBLICO, o provedor não recebeu qualquer reparo dos leitores à cobertura que está a ser feita da invasão da Ucrânia”. Aplausos para o jornal, para ele e para a SONAE. Tivesse lido o artigo, precisamente na página ao lado da sua, de Bárbara Reis, e teria constatado que, afinal, há queixas, apesar de também haver boas respostas, como a da referida jornalista. Resposta a ele próprio, jornalista-provedor, ao mostrar muito bem o que está em causa nesta vertigem informativa. Mas vamos ao assunto.
ALGUMAS PERGUNTAS
PARA COMEÇAR, aqui vai o que eu gostaria de perguntar ao senhor jornalista-provedor:
- As forças russas invasoras deixariam circular os jornalistas para informarem com objectividade e imparcialidade no campo de batalha, como acontece do lado da Ucrânia? Creio que não. Bastaria, para confirmar esta convicção, constatar o facto de a palavra “guerra” estar proibida na Rússia e o seu uso estar sujeito a pesadas penas, apesar de se tratar de uma invasão em larga escala de um imenso país como a Ucrânia, com dezenas de milhares de soldados, outras tantas armas e milhares vítimas russas, entre as quais, ao que se sabe, muitos e importantes generais mortos em combate. Acha que deixariam?
- As normas dos códigos éticos (imparcialidade e neutralidade, neste caso) mantêm-se em situação de guerra e quando o país invasor transgrediu o direito internacional, o direito da guerra, a doutrina da ONU, tendo o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) condenado a invasão e ordenado o retiro das tropas russas, a assembleia da ONU condenado também, e por uma esmagadora maioria de países (141 dos 193 países que a compõem, e apenas 5 contra e 35 abstenções), e estando a ser investigados os crimes de guerra entretanto cometidos pelos russos, designadamente em Mariupol? Nada disto conta para o senhor jornalista-provedor?
- O senhor jornalista-provedor distingue entre adversários e inimigos, sendo a lógica amigo-inimigo uma lógica de guerra e implicando o aniquilamento do inimigo? Um jornalista que assista a um assassinato deve relatar o que vê, mantendo-se equidistante, ou deve, podendo fazê-lo, impedir ou contribuir para evitar o assassinato de um inocente?
- O senhor jornalista-provedor acha mesmo que a Europa é governada por uma série de Putins e que toda a imprensa ocidental é igual aos meios de comunicação russos controlados pelo Kremlin? Acha mesmo? Acha que os “putinescos” governantes da União Europeia aplicam, através dos seus “putinescos” tribunais, penas de 15 anos de prisão aos jornalistas que ousem utilizar a expressão “operação militar especial” em vez de guerra, quando se referirem à GUERRA entre a Rússia e a Ucrânia? Há mesmo na União um génio maligno que comanda a informação europeia, transformando-a em propaganda e tratando os jornalistas como meros paus-mandados? Mesmo aqueles que já deram a vida para informar?
- Acha ele que as normas russas que punem com penas de prisão por 15 anos só foram decretadas por terem sido encerrados dois meios russos de comunicação (o Sputnik e Russia Today) na União? Acha mesmo?
Defendo, em condições de normalidade, o cumprimento rigoroso de quanto estabelecido pelos códigos éticos, o que, de resto, é cada vez mais raro, mas admito que, no caso de uma guerra, e ainda por cima injusta, ilegal e assimétrica, estes códigos não sejam escrupulosamente seguidos, por força de quanto acima referido. A este propósito, há uns anos escrevi um artigo sobre o New York Times e a sua posição sobre as eleições presidenciais americanas, disputadas entre Donald Trump e Hilary Clinton. Retomo, a propósito do assunto deste artigo, o essencial do que escrevi na altura.
O NEW YORK TIMES E A INFORMAÇÃO
O NEW YORK TIMES, num Editorial de 24.09.2016, tomou posição sobre a competição presidencial americana: “Hillary Clinton for President”. O que dizia, no essencial, o Editorial? Dizia que aquele não era “um ano de eleições normal” e que, por isso, tomava posição para “persuadir aqueles de vós que estão a hesitar em votar na Senhora Clinton”. Em condições normais, o jornal cotejaria as posições de ambos os candidatos, mas, nas condições de então, isso seria um exercício “vazio”. E fez uma longa exposição sobre as suas qualidades pessoais, competências, posições políticas, desempenho nos cargos que ocupou, como Senadora e como Secretária de Estado de Barack Obama, mas também como Primeira Dama. Uma clara defesa da sua candidatura: “challenges this country faces, and Mrs. Clinton’s capacity to rise to them”. Considerava, além do mais, o candidato Donald Trump como o pior candidato proposto por um partido na moderna história americana.
Sejamos claros. Que a Fox News tivesse uma posição radical em defesa de um candidato republicano não admirava. Esse canal é conhecido por fazer um jornalismo “advocacy”, militante, ao serviço permanente do partido republicano. E que o seu antigo patrão, Roger Ailes, era um famoso e agressivo Spin Doctor dos republicanos, conselheiro de sucesso de vários Presidentes, também se sabe. Mas que o NYT o tivesse feito desta forma perentória e deste modo levantava uma velha questão de fundo, ou seja, a questão da função de cidadania dos media. E porquê? Porque no seu código ético encontramos palavras como “fairness”, “integrity”, “truth”, “accuracy”, “impartiality”, ou seja, as mesmas que encontramos em outros códigos éticos e que procuram preservar precisamente essa função, através da imparcialidade, da objectividade e da neutralidade no exercício da informação. Diz, com efeito o NYT: “The goal of The New York Times is to cover the news as impartially as possible”. Como se explica, então, esta tomada de posição?
OS CÓDIGOS ÉTICOS DO JORNALISMO
O QUE SÃO OS CÓDIGOS ÉTICOS e para que servem? São conjuntos de princípios que integram um quadro normativo de referência que deve guiar, tanto quanto possível, os meios de comunicação no processo informativo. Estes princípios enquadram a função de cidadania dos media porque garantem o fim último da informação: dotar os cidadãos de informação objectiva acerca da realidade para que eles possam fazer racionalmente as suas opções, seja na política, na cultura, na economia ou na vida quotidiana. Na verdade, os meios de informação existem para servir a cidadania, fornecendo-lhe boa e relevante informação, de forma neutra, imparcial, independente e objectiva. E para isso até são especialmente protegidos pela constituição americana, logo na primeira Emenda, de 1791, ou pela francesa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, nos art.s 10 e 11. De resto, destes códigos éticos já se fala desde 1690, data do famoso e primeiro código Harris. E, portanto, transgredi-los corresponde a desviar-se da sua função essencial.
Dir-se-á, então, que o jornalismo “advocacy”, ou militante, é ilegítimo? No essencial, sim, porque não cumpre a sua função originária: dar toda a informação isenta ao cidadão para que ele, sim, possa fazer, autónoma e responsavelmente, as suas opções, com as suas próprias razões ou fundamentos. Uma prática diferente corresponde simplesmente a engano e a manipulação – a spinning: informação com efeito. A não ser que seja dito expressamente que esse é um jornalismo “advocacy” e que esse meio de comunicação luta por uma causa muito concreta, sendo, portanto, um seu instrumento. Os jornais partidários são um exemplo e são legítimos, sim, mas como instrumentos assumidos de um partido político. Já a imprensa em geral não, não pode nem deve seguir este caminho.
LEGÍTIMA DEFESA
É AQUI QUE BATE O PONTO. Por que razão o NYT tomou posição, contrariando os seus próprios princípios e, em geral, os princípios dos códigos éticos? A minha resposta é a seguinte: em condições normais, como é dito no Editorial, não o faria, nos termos em que o fez, apesar de, como sabemos, ter um longo historial de apoio a Presidentes: de Lincoln a Kennedy ou a Obama. Só que se em 2016 o fez de modo perentório foi porque, no seu entendimento, se tratava de uma situação não normal, vistos, por um lado, os enormes problemas com que os Estados Unidos se confrontavam (problemas no Médio Oriente, relações da Rússia com a Europa oriental, guerra, terrorismo, pressões da globalização, graves problemas internos) e, por outro, a excepcionalidade negativa do candidato republicano. Sabemos que esta é uma prática comum na imprensa dos Estados Unidos (e não só), mas isto não invalida que esta prática contrarie os princípios de códigos éticos que foram livremente adoptados. E, ainda por cima, em matéria tão relevante e sensível como a da política. Não esqueçamos que o primeiro código ético surge precisamente nos Estados Unidos (conhecido como código Harris, como já referi) e que aquele que é considerado como o primeiro código formal é de 1910, o do Kansas, também nos USA.
O NYT sabia muito bem que estava a violar regras muito importantes do seu próprio código ético e do jornalismo em geral, e em particular as do próprio modelo liberal que tende, afinal, para a progressiva afirmação da neutralidade política, para usar o conceito de Daniel Hallin e Paolo Mancini, em “Comparing Media Systems”, de 2004 (veja-se o capítulo 7; existe tradução portuguesa). E disse-o de forma clara, argumentada e frontal. Mas fê-lo nestes termos, julgo eu, numa lógica de legítima defesa, pelas razões apontadas e pelo perigo que Trump representaria para os Estados Unidos e para a política internacional. Não ouso dizer, como então fez o conservador liberal Andrew Roberts, nas páginas do DN, que dos líderes históricos o mais próximo “de Trump é Mussolini”. Mas parece ser consensual que ele exibia posições que acrescentariam conflito e tensão aos conflitos e tensões já existentes. Tensões que, afinal, viriam a ter nas eleições seguintes desenvolvimentos gravíssimos no interior dos próprios USA, com o assalto violento ao Capitólio por parte dos seus apoiantes para impedir a confirmação da vitória de Biden. Matéria que está em investigação e em julgamento e que torna mais compreensível a posição do NYT. De qualquer modo, a posição de legítima defesa assumida por este jornal pode ser explicável, sobretudo porque as sondagens davam resultados que punham os dois candidatos em pé de igualdade e quando as campanhas sujas voltavam a entrar em cena de forma violenta. Como se sabe, o resultado foi favorável a Trump, levando-o à Presidência (e, ao que se sabe, Putin e a Cambridge Analytica, dos senhores Robert Mercer e Steve Bannon, tiveram activo papel no processo).
Esta posição do NYT, em tempo de normalidade democrática – mas, pelos vistos, para o jornal não o era, o que é, de qualquer modo, discutível -, não me parece estar de acordo com aquilo que é pedido à imprensa nem com os princípios do seu próprio código ético. Mas a justificação, que não foi dada explicitamente nestes termos e que, por isso, se torna mais problemática, poderia ser argumentada como o é o exercício da legítima defesa, regulado por lei, ou seja, poder ser accionada quando a vida está posta em perigo e não há possibilidade de recorrer à autoridade pública, a que detém o monopólio do uso legítimo e legal da força. No essencial, o que me parece é que esta transposição para o sensível mundo da informação em certos casos é legítima. E, por isso mesmo, numa situação como a que se está a viver na Europa e com a invasão da Ucrânia nos termos que já referi e com a avaliação que já foi feita pelas instâncias internacionais, é compreensível que este paralelismo possa ser invocado pelo establishment mediático europeu em defesa da Ucrânia, de si própria e da paz mundial. E, no entanto, tanto quanto julgo saber, nem sequer foi invocado qualquer argumento legitimador ou planeada qualquer estratégia informativa quer pelo poder político quer pelos próprios media, não podendo de modo algum a informação ocidental ser qualificada como propaganda, como parece sugerir o título do artigo. O perigo é também para a Europa, a invasão é ilegal e ilegítima, foi condenada pelas instâncias internacionais e vive-se um tempo, não de normalidade, mas, sim, de guerra. Legítima defesa, informação em legítima defesa, expondo as atrocidades do invasor, situação em que o direito internacional, as normas da ONU e as resoluções do TIJ nada contam nem valem, e a que se pode ainda acrescentar crimes de guerra, talvez tudo isto possa justificar um posicionamento activo do establishment mediático europeu para que seja reposta a legalidade, a normalidade e a paz. Se até no plano do Estado de Direito é prevista excepcionalidade para o uso privado de força letal desde que em legítima defesa por que razão não deveria ser permitido fazer o mesmo no caso da informação em situação de guerra ou de grave ameaça à segurança? E até tomando em consideração que a imprensa é livre e em qualquer caso não recebe instruções do poder político, encontrando-se nela posições que directa ou indirectamente justificam a invasão de Putin. Vêem-se nas televisões e não se conhece qualquer tipo de proibição. Exemplos? O do famoso espião Alexandre Guerreiro ou o desse acelerador discursivo que dá pelo nome de Raquel Varela. Ou ainda o do seráfico apóstolo da complexidade, Viriato Marques, que, no DN, se rasga as vestes ao ver que alguém, ultrapassando, diz, “os limites da decência”, ainda se possa emocionar perante a onda brutal de destruição e morte que se vê na Ucrânia, sendo incapaz de, como ele, se distanciar, em nome da epistemologia da complexidade. O que eu pergunto é o seguinte: tratamento igual para condições absolutamente desiguais? Não só seria injusto como também errado.
FINALMENTE, QUE TAMBÉM OS MEDIA
NOS DEFENDAM DA GUERRA,
SEM MENTIR
BEM SEI que o modelo de jornalismo e de informação que respeita a sua função de cidadania está constantemente, e em tempos de normalidade democrática, a ser atropelado e sujeito a um spinning cada vez mais intenso e sofisticado, dando lugar a uma política que alguns já designam por política pós-factual e a uma verdade que já surge designada como pós-verdade. Mas também é verdade que a rede está a irromper com uma tal força no espaço público que pode também vir a servir de forte antídoto a este desvio, obrigando a uma efectiva correcção de rota no percurso informativo em suporte tradicional. O que, todavia, no meu entendimento, não nos deverá impedir de continuar a desenvolver, na frente mediática, um forte combate pela aplicação séria desses mesmos códigos éticos de que os próprios meios de comunicação livremente se dotaram. Para que a excepção não se venha a tornar regra e os media transformem a sua função de cidadania em puro exercício de poder sobre a consciência dos cidadãos. Sem dúvida. Mas também é verdade que em tempos de guerra a lógica das relações internacionais muda e, ao mudar, tem implicações no modo de funcionamento dos próprios subsistemas nacionais e nas próprias práticas informativas, mesmo não estando sujeitas ao diktat político, como acontece nas ditaduras. Não o reconhecer pode ter como consequência favorecer o jogo do inimigo, que deixou de ser, como em tempos de normalidade, um mero adversário. A dialéctica da aniquilação requer uma dialéctica diferente. A da legítima defesa. E, portanto, também esta pode ser, mas sempre num quadro de liberdade informativa, uma importante função de cidadania dos media, atendendo ao papel decisivo da informação em tempo de guerra.
Mas, mesmo assim, e para, finalmente, tirar dúvidas, vou ali perguntar ao Evgueny Mouravitch – que foi obrigado, certamente por causa do “putinesco” Conselho Europeu, a deixar a Rússia depois de trinta e cinco anos como correspondente – o que acha de tudo isto.
Tudo para dizer que me parece angelical ou mesmo sonsa e manhosa a livre posição do senhor jornalista-provedor, alinhando com os mesmos manhosos (e não são poucos, sendo, todavia, livres de a tomar, mas também sujeitos à livre crítica) que atribuem todos os males da humanidade aos USA, à NATO e à União Europeia, numa palavra, ao imperialismo. Mas o que eu acho é que quem confunde o tempo de Guerra com o tempo de Paz ou é insensível e distraído ou, então, também ele é, afinal, paladino de uma parte. Da pior parte, neste caso, ou seja, do invasor. #Jas@03-2022
NOTA
Não conheço o senhor jornalista-provedor, nada me move pessoalmente contra ele e não lhe conheço, certamente por falta minha, actividade que me mereça especial atenção. Este artigo procura somente reflectir criticamente sobre um ponto de vista que, como se sabe, alguns têm livremente – sublinho – vindo a defender, em nome do bom jornalismo (julgo eu).
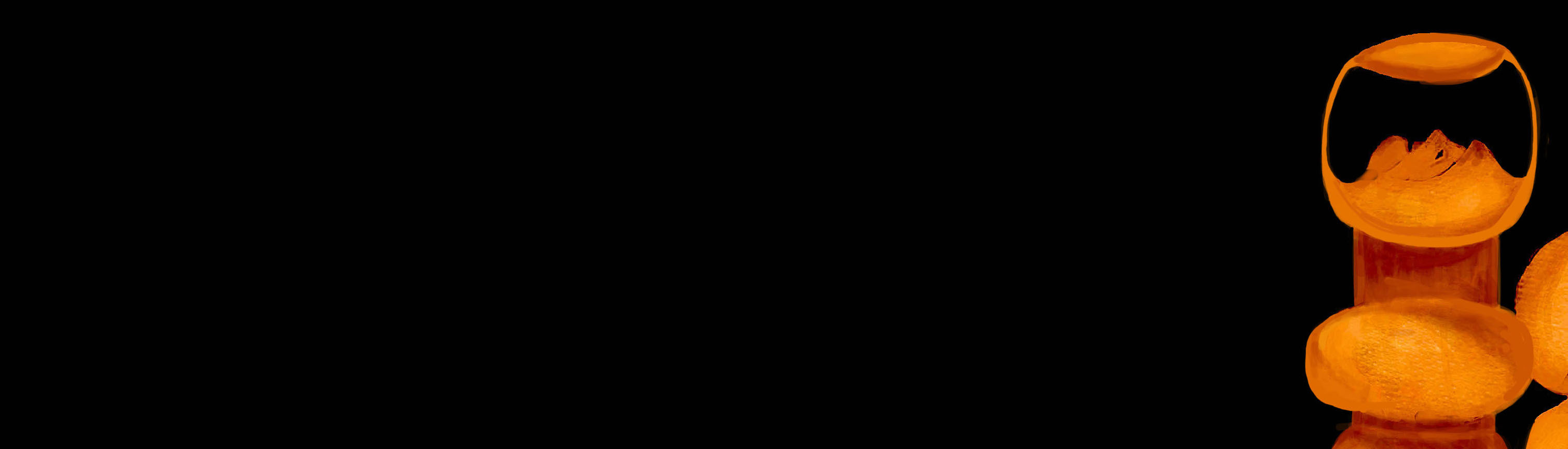
“S/Título”. Detalhe
O ERRO DE PUTIN (II)
Por João de Almeida Santos
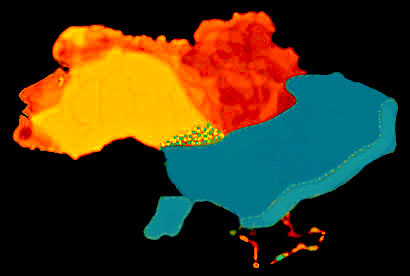
“S/Título”. Jas. 03-2022
TENHO ACOMPANHADO com atenção e sem preconceitos ideológicos o intenso debate sobre a invasão da Ucrânia e gostaria de começar pondo um pouco de ordem na discussão, resumindo em três posições o essencial da argumentação. Há os que consideram, sem grandes argumentações, mas indo ao essencial, a invasão um acto bárbaro, ilegítimo e ilegal do senhor Putin, em nome da Rússia e de uma sua visão imperial ou czarística; há os que timidamente a condenam, com tantos “mas” que acabam por justificar a invasão; e há – poucos, pouquíssimos – os que atribuem explicitamente aos USA e à NATO, mas também a Zelensky, as culpas do que aconteceu por não terem atendido às razões de Putin sobre o direito à própria segurança da Rússia e às razões analiticamente expostas por Putin e oportunamente divulgadas pelo site do Kremlin. Compreendo todas as posições, a favor ou contra, desde que fundamentadas, mas não respeito aquelas que revelam uma manhosa hipocrisia e que, em expressivo amor à liberdade de imprensa, já se estão a queixar da censura que as democracias representativas ocidentais estão a impor à livre expressão das ideias sobre o assunto, mesmo que sejam as daqueles que destroem a liberdade dos outros à bomba, procurando legitimar as suas acções com propaganda junto opinião pública e não permitindo reciprocidade de tratamento no seu território. A superioridade moral da democracia, dizem, deve manifestar-se em relação à liberdade mesmo quando ameaçam destruí-la à bomba. Outra versão do postulado moral que diz que deves dar a outra face a quem já te esbofeteou. Talvez seja correcto, moralmente correcto, mas confesso que tanta rectidão moral me põe de pé atrás, receoso que tudo isto não passe de pura hipocrisia e de uma visão angelical do mundo e da vida, proclamada sobretudo por aqueles que a vivem em duplicidade, ou seja, como ortodoxos que não praticam o que proclamam.
AS PALAVRAS E OS FACTOS
HÁ, POIS, PARA TODOS OS GOSTOS. “The Economist”, de 12-18 de Março de 2022, num artigo com o sugestivo título “The Stalinisation of Russia”, centra, a partir do título, as grandes questões que estão em causa neste conflito, mas remete, logo a partir do título, o essencial para a figura deste “dictator at home – a 21st-century Stalin, resorting as never before to lies, violence and paranoia”, que não dispõe, todavia, como Stalin, de uma ideologia forte que o legitime, mas tão-só de um serôdio nacionalismo imperial e de uma frágil narrativa justificacionista, bem expressa no ensaio que publicou em Julho de 2021, para preparar a legitimação da invasão e a tentativa de anexação da Ucrânia. Ensaio que, aliás, foi desmentido nos próprios termos, como veremos, pela posterior intervenção e pela violência que se lhe seguiu.
No meu entendimento, o ponto é de uma simplicidade extrema: a Rússia invade a Ucrânia sem causa, sem que tenha havido qualquer acto de agressão ou de ameaça por parte da Ucrânia, o que não é absolutamente permitido pela carta da ONU, pelo direito internacional e pelas convenções que regulam a guerra. Bem pelo contrário, este país nem sequer reagiu com reciprocidade ao gigante russo (como poderia?) depois deste ter ilegalmente anexado um seu território (a Crimeia) e promovido e avalizado a declaração de independência de dois seus territórios (Donetsk e Lugansk), repetindo o que já fizera, em 2008, ao reconhecer a declaração de independência da Ossétia e da Abecásia, dois territórios da Geórgia, e ao invadir este país. Não há argumentação que possa justificar estas posições da Rússia, como, pelo contrário, fazem alguns empedernidos da extrema-esquerda anti-imperialista, atribuindo a causa destas violações ao imperialismo norte-americano e à NATO. A hipocrisia das posições que assumem é absolutamente confrangedora e até mesmo cruel.
A POLÍTICA EXTERNA DOS USA
E OS SEUS INIMIGOS
É CLARO QUE OS USA têm sido desastrosos na sua política externa, sendo o caso do Iraque o mais extraordinário e condenado de todos. A invasão, justificada com o falso pretexto das armas de destruição maciça, em cuja farsa o senhor Durão Barroso (juntamente com Blair e Aznar) e o actual tudólogo da TVI, Paulo Portas, seu ministro de Estado e da Defesa, participaram activamente, viria dar origem à enorme balbúrdia e destruição que se viveu e vive no Médio Oriente. Mas poderíamos acrescentar, condenando, as gravíssimas interferências na América Latina (por exemplo, na carnificina do execrável Pinochet, no Chile), o desastre do Vietname e do Afeganistão ou as injunções de drones em imensos países, à revelia do direito internacional. Sem dúvida. E até poderíamos também criticar a política de deslocalização económica dos seus potentados económicos para aquilo a que Naomi Klein chama as EPZ (Export Processing Zones), zonas de exploração/produção com enquadramento de tipo militar, tão bem retratada no seu excelente livro “No Logo” (veja-se aqui o meu artigo sobre esta obra: https://joaodealmeidasantos.com/2013/10/10/no-logo/). E ainda a sua rejeição, mas sem intervenção militar, dos mísseis soviéticos em Cuba, em 1962, sublinhando a simetria de posições de ontem e de hoje e o imprudente alargamento da NATO para junto das fronteiras da Rússia, contrariando o que, ao tempo, terá sido prometido a Gorbatchov. Poder-se-ia mesmo argumentar, dizendo que o que os USA não admitiram junto das suas fronteiras também outros têm o direito de não o admitir junto das suas. Certamente. E, por fim, o belicismo latente, sobretudo dos republicanos, que alimenta a poderosa indústria de armamento americana. Sim, tudo isto é verdade e até poderíamos ver nos USA só coisas negativas, o que também acabaria por ser muito injusto, bastando lembrar que se trata de uma democracia ou o seu papel nas duas guerras mundiais em defesa da Europa. Ou a fantástica (ainda que um pouco interesseira, mas compreensível) ajuda de 14 mil milhões de dólares para a reconstrução europeia no segundo pós-guerra (o Plano Marshall). Criticar fortemente o que é criticável, sim, mas também elogiar o que há de positivo. Mas justificar ou legitimar esta bárbara intervenção com base em argumentos deste tipo ou de um anti-imperialismo primário é que me parece absurdo, pura e simples cegueira ideológica e gravíssima falta de humanidade, perante o que está a acontecer e que podemos testemunhar todos os dias nas reportagens televisivas e nas redes sociais. Não, não há razões que possam justificar ou legitimar a invasão e a chacina e impressionam-me os que, veladamente, directa ou indirectamente, a justificam, ainda que saibam que esta invasão vai alimentar os que estão sempre à espreita para reiniciarem o rearmamento, em nome da paz, sim, mas sobretudo movidos pelo desejo de lucro com a expansão das indústrias de armamento. E ainda me impressiona mais que haja, à esquerda, quem diga que o assunto só devia ser discutido entre os Estados Unidos (a NATO) e a Rússia, resolvendo-se do mesmo modo com que foi resolvida a questão dos mísseis de Cuba (que nem sequer foi igual, pois se tratou de mísseis soviéticos instalados e a instalar em território cubano e não tendo havido invasão daquele país pelo exército americano). Tudo muito de esquerda, para pacificar as consciências. Quanto a mim, há “mas” a mais na argumentação sobre a guerra.
O ENSAIO DE VLADIMIR PUTIN
PARA TIRAR DÚVIDAS fui ler o Ensaio de Putin, “On The Historical Unity of Russians and Ukranians”, publicado pelo Kremlin, em 12.07.2021: (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU_aqN9sD2AhWck_0HHWe3BE0QFnoECAwQAQ&url=http%3A%2F%2Fen.kremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F66181&usg=AOvVaw3WaxcrPeh5rqNjLD55C1Ys
É o mínimo que pode fazer quem se quiser adentrar na análise da invasão, procurando a fundamentação para o que – sem aparente explicação – viria a acontecer meses depois. Não havendo ideologia de suporte, como havia na URSS, foi necessário construir uma narrativa, que foi assumida oficialmente pelo Kremlin, ao publicar o texto também na versão em inglês, ou seja, para que pudesse ser lido por todos e não só pelos russos. E, depois da leitura, o que é que se pode concluir? Simplesmente que Putin considera ambos os países uma só nação com as mesmas raízes (incluída a Bielorrússia) no Rus de Kiev, que a verdadeira soberania da Ucrânia só será possível em parceria com a Rússia, que este país nunca foi e nunca será anti-ucraniano (como se está a ver) e, finalmente, que compete aos cidadãos ucranianos decidirem o que a Ucrânia virá a ser no futuro (como se está também a ver). Cito, para que não haja dúvidas: “I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia” (…) “Russia has never been and will never be ‘anti-Ukraine’. And what Ukraine will be – it is up to its citizens to decide”. Belas palavras que a realidade já desmentiu.
Todo o Ensaio está virado para estas ideias, desde a longa viagem histórica sobre a constituição da Rússia e da Ucrânia até àquilo que ele define como o virar de costas deste país a este mundo comum, que “se desenvolveu como um único sistema económico durante décadas e séculos”, e a opção de se virar para o ocidente, com a cumplicidade deste, e de perseguir a comunidade e a língua russas, promovendo activamente uma mentalidade anti-russa. Tudo isto pelo poder que se instalou em 2014. Putin é claro na acusação: a) negaram o passado(excepto as fronteiras); b) mitificaram e reescreveram a história; c) deitaram borda fora tudo o que os unia à Rússia; e e) passaram a considerar o período em que a Ucrânia fazia parte do Império Russo e da União Soviética como uma ocupação.
Putin declara, assim, que a Rússia e a Ucrânia se inscrevem naturalmente num universo histórico, civilizacional, espiritual, religioso, cultural e linguístico comum que considera gravemente ameaçado pela opção ocidental da Ucrânia, chegando mesmo a deixar uma ameaça velada, que, afinal, em poucos meses, viria a concretizar-se com o bombardeamento russo de todas as cidades do país – “I would like to say that this way they will destroy their own country” -, assumindo, e citando Anatoly Sobchak, que “as repúblicas que foram fundadoras da União e que denunciaram o Tratado de União de 1922, devem regressar às fronteiras que tinham antes de se juntarem à União Soviética”. Nem mais. Note-se que a Crimeia foi cedida em 1954 por Krustchev (“in gross violation of legal norms that were in force at the time”), um líder (tal como Breshnev) cuja “party biography was most closely associated with Ukraina”, chegando mesmo a afirmar que “one fact is crystal clear: Russia was robbed, indeed”, que a moderna Ucrânia “is entirely the produc of the Soviet era” e que “was shaped – for a significant part – on lands of historical Russia”. Mais claro do que isto seria impossível. Estamos em Julho de 2021.
O ensaio, aliás, começa logo com grande clareza ao afirmar que o recente muro entre a Rússia e a Ucrânia (entenda-se depois de 2104), promovido pelas forças que querem dividir para reinar, acicatando um país contra o outro, representa um enorme e comum “infortúnio e tragédia”, sublinhando que ambos os países partilham o mesmo espaço histórico e espiritual e lembrando as palavras, fixadas para a posteridade, de Oleg, o Profeta, sobre Kiev: “Let it be the mother of all Russian cities”. A origem, o solo ou o lar que determinam para sempre a mesma pertença comum. E pergunta: quem pode dividir uma herança comum entre a Rússia e a Ucrânia se Svevchenko escreveu poesia em ucraniano e prosa em russo e se um “patriota russo” como Gogol, que nasceu na Ucrânia (Poltavshchyna), escreveu os seus romances em russo? Ninguém.
No seu entendimento são milhões os ucranianos que rejeitam o projecto anti-russo dos actuais dirigentes ucranianos (que, segundo ele, consideram que “the ‘right’ patriot of Ukraine is only the one who hates Russia”), apesar de ele próprio, confessa candidamente, sempre ter insistido na necessidade de diálogo, tudo fazendo para “parar o fraticídio” (referindo-se a Odessa, ao Donbass, à Crimeia e aos herdeiros e seguidores do nacionalista Stepan Bandera). “Russia has done everything to stop fratricide”. Preto no branco.
UMA NARRATIVA LEGITIMADORA
Já temos que chegue. Em Julho do ano passado já Putin argumentava, com uma candura espantosa, que aquele mundo é um mundo fraterno e comum ao da Rússia, que os seus destinos são inseparáveis, apesar de o ocidente tentar dividi-los… para reinar. E dizia-o com fundamentação histórica tão minuciosa (o ensaio tem cerca de 20 páginas) e tão em profundidade que nem a União Soviétiva, de que foi fiel servidor como agente dos seus serviços secretos, fugiu às suas críticas, acusando-a de ter roubado a Rússia e apontando implicitamente o dedo, além de a Lenine, o responsável pela decisão (em nome do direito universal de autodeterminação dos povos) de dar autonomia e direito de secessão às repúblicas socialistas soviéticas, também a filo-ucranianos como os dois Secretários-Gerais Nikita Krustchev e Leonid Breshnev, que, sublinhou, governaram a URSS durante trinta anos. Em palavras simples: Putin quer corrigir os “erros” da União Soviética, em nome da sua visão pessoal da história da Rússia. Nada menos.
São claros o desenho e a posição de Putin. A queixa é muito mais ampla do que a questão da segurança, que está também clara e criticamente formulada, pois centra-se na economia, na cultura, na língua, na tradição e nos laços históricos profundos que unem os dois povos, sentindo a traição ocidental dos ucranianos como se de uma perda de parte do próprio corpo se tratasse e, por isso, vendo-se obrigado a reagir, em defesa de milhões de ucranianos e, pasme-se, da própria soberania da Ucrânia.
O TRÁGICO ERRO
NUMA ÉPOCA DE GLOBALIZAÇÃO e de interdependência global das economias, de leis económicas que já ultrapassam a subjectividade dos próprios Estados, Putin decide, em nome do passado, das afinidades históricas, espirituais e civilizacionais entre os povos russo e ucraniano usar as armas, a força e a violência para impor a sua generosa e sentida ideia a dezenas de milhões de pessoas, sem compreender que isso não se pode obter pela força e pela violência, mas sim pelo afecto, pelas boas relações, pela cooperação, pelos interesses recíprocos e pelos argumentos. Sem compreender que as famílias, em nome de um tronco comum, não devem superar as divergências de interesse e de visão do mundo através da violência e da aniquilação de parte da própria comunidade familiar. Sobretudo no mundo de hoje, conhecendo o que aconteceu nas duas guerras mundiais, mais de 60 milhões de mortos, e do que aconteceria se o conflito ganhasse uma dimensão nuclear. Não serei tão assertivo como o articulista do New York Times Thomas L. Friedman quando diz, no artigo “Putin só tem duas opções. As duas implicam perder” (NYT, 09.03.2022), que “as únicas opções que lhe restam na Ucrânia são como perder: rápido e pouco e somente humilhado ou tarde e muito e bastante humilhado”, mas acompanho integralmente “The Economist”, no artigo acima citado, quando diz que “Mr Putin is committing war crimes against the fellow Slavs he eulogised in his writings”, como, de resto, vimos acima. E também é verdade que ao atacar a Ucrânia Putin “has committed a catastrophic error”. Erro que pagará caro politicamente e pessoalmente, podendo vir a ser levado ao Tribunal Penal Internacional por gravíssimos crimes de guerra. “Putin is isolated and morally dead”, acrescenta o artigo (não assinado), e este isolamento, devido ao carácter unipessoal do regime e às dificuldades não previstas por que está a passar, pode criar uma tal instabilidade interna que o levem, por receio de um golpe, a ter de lutar para se manter no poder. Palavras de “The Economist”, sendo também certo que as dificuldades na guerra só produzirão efeitos internos se houver movimentações no seio do próprio poder russo, desde que cresça nas elites a convicção de que o problema criado só se poderá resolver com o seu afastamento do poder. É preciso não esquecer que se trata de um regime de um homem só que, em tempos de globalização, se alimenta de um serôdio nacionalismo imperial concretizado com instrumentos que verdadeiramente já não são do século XXI.
Fora do tempo e incapaz de reconhecer as dinâmicas que estes tempos estão a gerar, Putin também intervém de forma errada para conseguir os seus objectivos, porque conseguiu os efeitos contrários ao que desejava, e que candidamente expressou no Ensaio, provocando uma indesejável fractura radical com o povo ucraniano, unindo a União Europeia e dando um substancial pretexto à NATO para se revitalizar e se rearmar em consistente unidade interna. E a tudo isto ainda acresce, como também afirma “The Economist”, que a Rússia, mesmo em caso de vitória no conflito, não dispõe de recursos e de condições para manter uma ocupação deste país, que só poderia ser militar. A comunidade de afinidades de origem, históricas, espirituais, linguísticas, económicas, e em grande parte também a transversalidade familiar que existe entre russos e ucranianos, acabou por ser anulada por aquele instrumento que representa exactamente o seu contrário – a violência. Putin, com a invasão, negou quanto afirmara no famoso Ensaio doutrinário sobre as afinidades entre a Rússia e a Ucrânia, publicado, não por acaso, no site do Kremlin, ou seja, assumido institucionalmente. Um erro histórico, por desfasamento no tempo, mas também um erro de concepção, por contradição entre fins e meios para os alcançar. Esperemos que a estes erros não acrescente um outro que, esse sim, seria fatal para todos nós. E se isso se mostrasse como realmente plausível, então o que se espera que aconteça é que os próprios russos impeçam, com as suas próprias mãos, o suicídio, deles e da humanidade. Para quem tivesse dúvidas sobre a perigosidade dos regimes unipessoais está a ficar cada vez mais claro que o perigo de suicídio colectivo é o maior de todos eles.
O EROS E O THÁNATOS
Sim, tudo isto me parece acertado, mas também considero que devemos pensar muito seriamente sobre o que Robert Reich diz no seu recente artigo (de 12.03.2022) em substack.com : https://robertreich.substack.com/p/the-six-things-putin-and-trump-convinced?s=r.
O que ele diz no essencial está contido no próprio título do artigo: “Putin and Trump have convinced me I was wrong about the twenty-first century”. Errado em considerar que, em tempos de globalização, o nacionalismo tinha desaparecido; que os Estados (ele usa a expressão “Nations”) já não controlam o que os seus cidadãos sabem e conhecem; que o valor do território passou a ser inferior à capacidade tecnológica e à inovação; que os maiores poderes nucleares já não arriscariam uma guerra de uns contra os outros porque o resultado seria a mútua destruição; que nunca mais a civilização ficaria refém de um só louco com poder de destruição; que em conflitos os avanços tecnológicos minimizariam as baixas entre civis; e que, finalmente, a democracia seria inevitável.
Ambos os líderes mostraram, no seu próprio entendimento, que Reich estava errado porque aquilo que ele julgava superado, afinal não estava. Esta guerra mostra que o mais inverosímil é possível e que, não se confirmando que a história ande de facto para trás, também confirma que a natureza humana não muda e que há pulsões profundas que sobrevivem à própria história (o amor e o ódio, por exemplo), encontrando sempre vias de imposição que hoje até podem ser fatais para a Humanidade. Muitas vezes, a pulsão de morte, aquilo que Freud, usando a palavra grega, designava por thánatos, a pulsão que se opõe ao eros, a pulsão da vida, vence (no suicídio ou na promoção da guerra, por exemplo). E, por isso, nada na vida deve ser dado como adquirido, não devendo a cidadania adormecer na “sociedade do contentamento”, para usar o título de um livro de Galbraith, porque acontecem, de facto, regressões, com novas faces, mas regressões, havendo sempre quem queira fazer história olhando mais para trás do que para a frente e mais para a violência do que para o consenso. Sempre houve quem vivesse mais da nostalgia do passado, mesmo, ou sobretudo, quando ele se revelou difícil ou mesmo trágico, do que do compromisso com o futuro. Um mecanismo estranho, mas real. E, todavia, no meu entendimento, nem tudo aquilo em que Reich considera que estava errado foi apagado, pura e simplesmente, pela subida ao palco da história destes dois personagens. Os países democráticos têm suficiente poder para confrontar Putin e derrotá-lo (no plano da guerra convencional vê-se agora que há muito de propagandístico no seu poder militar); os cidadãos têm de facto muito mais acesso à informação do que tinham, sendo a sua neutralização quase impossível; a ideia democrática é hegemónica (embora não como facto, mas como ideia), a globalização e o poder da ciência e da tecnologia impuseram-se sobre a lógica territorial e sobre as fronteiras; o poder dissuasivo do nuclear mantém-se (apesar da incógnita do poderio nuclear de um homem só); o nacionalismo identitário e agressivo só ressurge com força histórica quando existe uma ameaça violenta ao território ou como instrumento de dominação política; a violência da guerra (convencional) pode ser, de facto, limitada em termos de baixas civis, a não ser quando tudo falha (e é o que parece estar a acontecer com a Rússia invasora, como aconteceu na Síria). Ou seja, Reich só estaria enganado se tomasse as suas convicções analíticas por absolutos, que nunca a história admite e que ele próprio sabe não serem possíveis. O que Reich faz é sintetizar, e muito bem, as reais conquistas que se consolidaram no século XXI. Mas o que ele pretende dizer realmente, se bem entendo, e para além da natural retórica discursiva, é que nada é historicamente irreversível e que o progresso exige uma constante dinâmica que se imponha sobre as tendências regressivasque se mantêm latentes e adormecidas (como a ideologia de que falava Louis Althusser, em Idéologie e appareils idéologiques d’État, creio, quando a definia como eterna), impedindo que despertem nos momentos de maior fragilidade e de crise.
Esta sua radicalização dicotómica o que nos diz é que não devemos absolutamente dormir em cima dos progressos históricos porque eles estão sujeitos à lei do tempo e à vontade dos homens. A história, de facto, não se move com a mesma lógica e regularidade da natureza porque nela a subjectividade individual ou colectiva desempenha um papel extremamente importante. Basta pensar em Putin e no seu regime (subjectivo) de um homem só ou de um só homem. Nisto não acompanho as reflexões de Tolstoi na “Guerra e Paz”, a propósito da campanha russa de Napoleão, sobre o papel da singularidade na história. Se assim for, e até parece que é (os exemplos históricos existem e são recentes, por exemplo o caso de Hitler e da Alemanha nazi ou o caso de Stalin), talvez aqui o amor que possa ter à própria família, aos seus filhos ou à sua jovem companheira, o leve a refrear os seus instintos de destruição. Esperemos, sim, que o eros se imponha ao thánatos, se evite o pior e que uma nova ordem mundial possa ser desenhada com a ideia de paz no seu centro. #Jas@03-2022.

O ESTADO ENRIQUECE, A MIDDLE CLASS EMPOBRECE Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 03-2022
BEM SEI que é preciso pagar impostos. E também defendo o Estado Social e a necessidade de o financiar. Mas não pode ser sempre a somar em todas as frentes, no IRS, no IVA, nas taxas e nas taxinhas, nas portagens, nos radares (as multas, com a técnica sniper, ascenderam, em 2021, a 159 milhões) e sei lá que mais, provocando aquilo que uns designam como fadiga fiscal e outros como saque fiscal. Sejam quais forem os governos (provenientes da alternância, claro). E muitos até acham que os recursos do Estado jorram espontaneamente de uma fonte milagrosa.
Mas antes de prosseguir, devo informar que este artigo foi escrito antes de o PM ter anunciado, ontem, que, a partir da próxima Sexta-Feira, o governo passará a anular semanalmente a subida do IVA sobre os combustíveis mediante uma equivalente redução no ISP, conseguindo deste modo estabilizar, na sua componente fiscal, o preço. É uma medida sobre os aumentos futuros, quando os combustíveis já chegaram a preços incomportáveis. Mantém-se o preço, mas compensam-se os aumentos futuros em IVA através da redução do ISP. Mas, sendo uma medida positiva, ela é temporária e não resolve o essencial, mantendo-se a carga fiscal elevadíssima e a indexação estrutural do valor do imposto (IVA) ao preço por litro (agora, a partir de Sexta-Feira, temporariamente suspensa). Ou seja, as novas medidas não invalidam a argumentação que a seguir apresento. Minimizam conjunturalmente o impacto dos aumentos, digo, dos aumentos futuros dos combustíveis, o que é positivo, mas nada mudam do ponto de vista estrutural. Esta medida tinha de ser tomada e confirma a justeza de quanto defendo neste artigo, ou seja, a insustentabilidade fiscal do preço dos combustíveis, que vem crescendo e que, entretanto, acelerou imenso.
ESTADO RICO "MIDDLE CLASS" POBRE
SE NÃO ERRO, a parcela dos impostos sobre os combustíveis corresponde a mais, a muito mais de metade do preço por litro, a que se junta ainda o pesado imposto automóvel e as omnipresentes portagens (que cada vez mais me fazem lembrar as taxas pagas para transitar entre os estados feudais, a privatização de uma parte importante do território). Ou seja, em cada 100 euros que gasto, 50/60 euros vão directamente para o Estado. E se tomarmos como referência a média dos preços da gasolina e do gasóleo desta semana, ou seja, cerca de 2 euros, o Estado encaixa bem mais de um euro por litro. São números aproximados, mas que dão uma ideia muito concreta do que realmente se passa. Ou seja, quanto mais caros forem os combustíveis mais o Estado arrecada, sendo-lhe de todo conveniente, do ponto de vista exclusivamente financeiro, que os preços aumentem. Não bastava já a brutalidade do IRS, agora, o IVA e o imposto sobre os combustíveis acabam a obra. Junte-se-lhe também o aumento do gás (agora com uma bonificação para os consumidores com tarifa social de electricidade, 10 euros por garrafa, o que é positivo) e o ramalhete ainda se compõe com maior exuberância. Tudo encarece, a classe média empobrece e o Estado enriquece. Depois, também haveria que reflectir sobre quem usa estes recursos, que visão tem do ser humano, da sociedade e das funções do Estado, fazendo um escrutínio efectivo dos candidatos a funções públicas/políticas relevantes, em vez de só se olhar para os envelopes fechados com sigla partidária que são propostos aos eleitores por quem manda. Saber quem é o candidato e se tem algo mais a dizer e a fazer do que simplesmente prosseguir uma tradição administrativa consolidada, somando novas exigências às que já existem. Faz falta uma sociologia analítica e crítica das classes dirigentes em Portugal que não seja só a que o poder judicial nos vai oferecendo através do pelourinho electrónico. E até temo que haja demasiados aprendizes de feiticeiro por aí, nos corredores do poder.
No caso em apreço, o que se poderia dizer é que o que é bom para o Estado é mau para os cidadãos, invertendo-se, deste modo, a razão de ser deste mesmo Estado. E foi precisamente por reconhecer isto que o governo, chegados aqui, decidiu avançar com as medidas ontem anunciadas. Medidas temporárias. As contas certas, dir-se-ia, não podem ser só do lado da receita. A verdade é que se o preço sobe os impostos também sobem. Isso é certo. Mas é algo paradoxal – que o Estado ganhe imenso quando o cidadão perde muito e fique parado a ver o imposto passar, não anunciando medidas estruturais, havendo hoje uma maioria absoluta no Parlamento. É claro que muitos dizem que só um país rico se pode dar ao luxo de ter um Estado pobre. Por exemplo, isto lê-se num Grundsatzprogramm do SPD (se não erro, no de 1989, o do Congresso de Berlim). Mas, que diabo, também não é preciso exagerar, assistindo-se a uma inflexível rigidez fiscal mesmo quando os combustíveis sobem a níveis absolutamente incomportáveis, com consequências sobre os preços de todos os outros produtos. E sobre a economia em geral. Dir-se-á que o Estado vai aplicar 140 milhões para minimizar os custos, decretando medidas como o famoso Autovoucher (agora também reforçado) ou outras medidas anunciadas por esse ilustre barítono de voz grave e gutural que dá pelo nome de Matos Fernandes. Mezinhas temporárias que escondem o essencial: não querem mesmo baixar os impostos (mesmo que digam que é porque não há Parlamento em funções). Mas poder-se-ia dizer também que este valor de 140 milhões depressa será recuperado pelo valor actual dos impostos sobre os combustíveis (ou simplesmente através das multas) e também, e por isso mesmo, dos outros produtos sujeitos a IVA. Serei pouco perspicaz, sobretudo nestas matérias, mas até admito que, baixando os impostos, depois, para os subir de novo, o custo político seria maior. Seria mesmo, pergunto? Portanto, em matéria de impostos será sempre a somar, como tem vindo a acontecer? Uma bela tradição portuguesa. Com bigodes. Mas até quando a middle class aguentará tudo isto, suportará este estado de coisas, este saque fiscal? Repararam que já há 20 deputados no parlamento que defendem a flat tax? E que amanhã serão mais? E que o PSD ou entra por aqui (não digo exactamente com a flat tax, mas com a redução de impostos) ou corre o risco de ver drasticamente reduzida a sua dimensão política? E para tal não bastam artigos de Luís Montenegro ou declarações avulsas sobre o assunto do líder que, ao que parece, está de saída. Este partido deve assumir a sua componente liberal-democrática se quiser sobreviver como grande partido que é, aspirando a representar efectivamente o largo espectro do centro-direita.
AH, MAS TEMOS O ESTADO SOCIAL
DIR-SE-Á que, depois, o Estado redistribui estes recursos financeiros expropriados com justiça social. Muito bem, embora até haja quem não saiba o que é isso da justiça social, como o pai dos neoliberais, Friedrich von Hayek. Eu acho que sei o que é a justiça social, que defendo, e até sei o que é a justiça comutativa, dos liberais. E talvez seja mesmo verdade que um país pobre como o nosso precise de um Estado rico para redistribuir, mesmo que isso seja feito sobretudo à custa de uma middle class em progressivo empobrecimento (o salário bruto médio mensal parece que foi de 1314 euros, em 2020). A valsa dos pobres, onde já se inclui a classe média baixa. Veja-se, por exemplo, a questão da habitação. O preço das casas já não lhe é acessível – sendo também o preço do arrendamento exorbitante -, não tendo o poder político até agora demonstrado capacidade para promover um mercado de arrendamento efectivo, o único modo de baixar a procura e, logo, o preço, promovendo ao mesmo tempo condições para o aumento da mobilidade no emprego. É só um exemplo. Vistos os preços exorbitantes praticados, um jovem da classe média (baixa) não tem recursos para arrendar ou para comprar casa, a não ser que se endivide junto da banca para toda a vida (por 30 ou 40 anos). A alternativa é viver em casa dos pais. Entretanto, os caridosos apóstolos da solidariedade social (e há muitos em posições de poder) chegam-se logo à frente dizendo enfaticamente que deve ser o Estado, em geral, e as autarquias, em particular, a terem casas para arrendar a preços sociais. O direito à habitação é ou não um direito constitucionalmente previsto? É, sim, e, por isso, que viva o Estado Papá que dá o que nem os papás da classe média já conseguem dar aos filhos, visto que também estes o não conseguem com tão baixos salários. Ou seja, outra vez os impostos caritativos. Outra vez a middle class a financiar a vida dos oprimidos do sistema: educação, saúde, segurança social, habitação. Uma ideologia, esta, a da solidariedade forçada e sem limites (através do Estado), que está fortemente radicada no nosso país, e sobretudo na nossa política, à direita e à esquerda. Uma ideologia com peso excessivo, no meu entender. A verdade é que as três principais funções do Estado Social (Educação, Saúde e Acção e Segurança Social) já quase equivalem, com uma despesa de cerca de 36 mil milhões (35.758 mil milhões), ou seja, com quase 79% do total dos impostos arrecadados, ao bolo geral que o Estado encaixa com os impostos, cerca de 45,5 mil milhões. Muito bem, mais uma vez. Só que, depois, começamos a interrogar a famosa redistribuição geral: total para a banca, segundo o Tribunal de Contas, entre 2008 e 2020: 22 mil milhões, quase 11% do PIB deste último ano. Se lhes juntarmos o valor da TAP chegamos a 25 mil milhões. Mais de metade do bolo fiscal. Em média, cerca de 1,9 mil milhões por ano. Gostava mesmo de saber (e não sei mesmo) quanto deste valor regressou aos cofres do Estado, criando, então, folga para desonerar fiscalmente os cidadãos e/ou reduzir a dívida pública. Nada, se se tratar de desonerar fiscalmente a cidadania. Isto para começar. Depois vem o Estado Social propriamente dito, o tal que exige um Estado rico. Muito bem, pela terceira vez. Mas mesmo aqui acho eu que seria necessário fazer um debate aprofundado sobre os seus limites, o funcionamento, as suas prestações, a sua eficiência, a qualidade dos seus serviços, os desperdícios. Até se poderia começar por esse mundo infindável (e excessivo) dos Municípios cuja receita corresponde a cerca de 8,6 mil milhões de euros (2019). Entretanto, quanto do valor global do orçamento vai para os salários do sector público e qual o crescimento do emprego aqui? Defendo o Estado Social, sim, não tenho qualquer dúvida, porque ele permite construir uma sociedade melhor em todos os seus aspectos, mas não como banco de caridade social ou criador directo de emprego financiado pelo Estado, para onde se atiram milhões e milhões para baixar o desemprego e para empregar clientelas. Desde 2015, segundo o Gabinete da Ministra da Administração Pública, o emprego público cresceu mais de 11,3%, o que equivale a cerca de 83 mil empregos, correspondendo a cerca de 125 milhões de euros, calculando um salário médio de cerca de 1500 euros (1460 €, em 2017, e 1560 €, em 2021). Um salário médio que contrasta com os 913 euros do sector privado (em 2017) e que corresponde a 35 horas semanais, o que também contrasta com as 40 horas semanais no sector privado. Uma diferença que não se compreende e que é injusta, criando dois tipos de cidadãos. Mais uma vez o Estado Papá a proteger os seus, deixando em ferida o princípio constitucional da igualdade. Até aqui (no salário e no tempo de trabalho) encontramos uma diferença injustificável relativamente ao sector privado. Mais uma vez o Estado a bater forte no coração da classe política. A pergunta sobre o Estado Social poderá ser: em vez da ladainha habitual não seria melhor perguntar se não pode haver ganhos de eficiência e controlo na gestão de sectores tão importantes e delicados como estes? De resto, a importantíssima questão da eficiência da máquina do Estado (excepto, claro, a da máquina fiscal) talvez seja um dos mais esquecidos problemas pela nossa classe dirigente, habituada que está a atirar legislação e dinheiro para cima de tudo o que mexe.
O MEU PONTO É ESTE
NÃO IMPORTA, porque, hoje, o meu ponto é este, com as reservas que já fiz relativas às medidas temporárias decretadas: por que fatalidade será o Estado o principal beneficiário do brutal, permanente e progressivo aumento do preço dos combustíveis? Que ganhe, sim, na justa medida das necessidades de redistribuição, compreendo. São necessários recursos financeiros para as funções do Estado e não só para as funções do Estado Social (para a segurança, a defesa, a diplomacia, a justiça). Sem dúvida. Mas que enriqueça à custa do tipo que tem de encher o depósito semana sim, semana não ou de quem tem de se aquecer no inverno, usando para isso o gás ou o gasóleo, é que não me parece muito justo e até mesmo racional. Como não me parece compreensível tanta rigidez na manutenção deste nível elevadíssimo de impostos. Bem sei que, pelos vistos, neste sector as entradas ainda não atingiram os níveis de 2019, certamente por causa da pandemia, mas o que não se pode é inverter o sentido da existência do Estado. A sociedade civil a alimentar a pança de quem nasceu para a servir, ou seja, o Estado e os seus filhos e enteados, cerca de 14% da população activa. Bem sei que a esquerda sempre achou que o Estado é a chave milagrosa para a solução de todos os problemas e que a pandemia veio reforçar essa ideia. Sei bem de onde vem essa repugnância ideológica pela visão liberal e até pelo melhor liberalismo, o que vai de Stuart Mill a Dewey, a Bobbio e, em geral, ao socialismo liberal. E também sei que as burocracias têm, todas elas, a sua “lei de ferro”, que lhes permite manterem-se no poder, reproduzir-se, engordar e expandir-se à custa dos recursos orçamentais dos respectivos organismos – a máquina torna-se fim de si mesma. Como diz Robert Michels, na sua famosa obra sobre os partidos políticos: “Há uma lei social imutável, segundo a qual, em qualquer órgão composto por um conjunto de indivíduos por intermédio de um acordo de divisão de trabalho, logo que este se consolida, se gera um interesse específico desse órgão que é interesse do órgão em si próprio e para si próprio” (Lisboa, Antígona, 2001, pág. 418). Uma rápida viagem pelo interior dos partidos permitiria compreender isto que diz Michels. Só que o Estado nasceu para servir a sociedade civil e não para o contrário. O endeusamento do Estado atrofia a razão da sua própria existência, atrofia a sociedade civil, é fonte de injustiça e de poder desmesurado das administrações do Estado e da burocracia em geral. E isso tem de ser compreendido pela esquerda estatista. Visão que tem vastos e intrépidos militantes na esquerda e no próprio partido socialista, correspondendo a uma espécie de ideologia espontânea que actua por inércia sobre a consciência política de quem se situa, como eu, neste último espaço político. Mas a verdade é que até um marxista como Antonio Gramsci compreendeu isto. E não foi por o Estado italiano estar, na altura, ocupado pelos fascistas de Mussolini. Entendeu-o no plano teórico. E entendeu bem ao defender que a hegemonia ético-política e cultural se construía na sociedade civil, no plano do privado, dos aparelhos de hegemonia da sociedade civil (e que o estruturalista marxista Louis Althusser traduziria, e mal, por aparelhos ideológicos de Estado). O que já não é aceitável nas sociedades desenvolvidas e com sociedades civis robustas é a inversão de um processo que começou precisamente com a construção do Estado moderno ao serviço da sociedade civil. Para compreender isto basta ler os contratualistas. Todos, o Hobbes, o Locke, o Espinosa, o Rousseau, o Kant. E aos ortodoxos talvez fosse útil lerem o discurso do Benjamin Constant no Real Ateneu de Paris em 1819, “La Liberté des Modernes comparée à celle des Antiques”. Esta rigidez de um Estado que enriquece à custa do agravamento das condições de vida dos cidadãos e em especial da middle class está a tornar-se, de facto, inaceitável, perniciosa e pouco amiga da cidadania.
GARROTE FISCAL ENRIQUECIDO COM GARROTE MORAL E... ARQUITECTÓNICO
E se, ainda por cima, ao garrote fiscal juntarmos esse novíssimo, progressivo e pouco subtil policiamento da linguagem que está cada vez mais a tomar conta das instituições e dos próprios partidos políticos, com o politicamente correcto a infiltrar-se nos centros decisionais do Estado, quase apetece fugir. Ao garrote fiscal junta-se agora um garrote linguístico que – de tantos defensores institucionais que já tem – até já ganhou dimensão normativa e, pasme-se, até mesmo científica, com a hilariante imposição coercitiva e castigadora (“não te financio por crime de assimetria de género”) da paridade de género nos Centros de Investigação de financiamento público. O mundo está mesmo instável e perigoso, sim, mas também está a ficar insuportavelmente caro e, cereja em cima do bolo, ameaçado na própria liberdade de uso da palavra. E não é só na Rússia bélica, na infâmia da invasão da Ucrânia. Também por cá temos imensos e aguerridos vigilantes da moralidade linguística e identitária. O Estado fiscal encontra-se agora enriquecido com a moldura da vigilância moral. Dinheiro e liberdade em questão: uma mistura, de facto, explosiva.
Mas há mais. Acabo de saber que no País Basco e em Valência se prepara legislação (está já em curso) para regular minuciosamente a construção das cozinhas e dos quartos, quer em configuração quer em dimensão. Por exemplo, passa a ser obrigatório construir as cozinhas em open space e os quartos principais sem casa de banho própria (as chamadas suites). A designação deste projecto é a de “casa feminista”. Objectivo? Corrigir por imposição arquitectónica as desigualdades de género. Nem mais. Uma injunção pública directa na vida privada e íntima das famílias, em plena democracia representativa, e no século XXI. Não tardará que a dupla Câncio&Moreira estejam a propor as mesmas medidas para o nosso país.
Apetece mesmo fugir, sim. Não sei bem para onde, mas lá que apetece, apetece. Certamente não para o País Basco ou para Valência. Mas o melhor talvez seja mesmo dar combate, com as armas que cada um tem. E a minha é a escrita. #Jas@03-2022.

“S/Título”. Detalhe
O ERRO DE PUTIN
Por João de Almeida Santos

“S/ Título”. Jas. 03-2022
ACHAVA EU (e era o que muitos achavam, em nome de alguma racionalidade), há dias, que, com tudo isto, o que Putin queria, depois de outras experiências de sucesso (na Geórgia e com a Crimeia), era consolidar a independência das duas Repúblicas, Donetsk e Lugansk (através do reconhecimento e do “apoio” militar). Tinha a esperança de que se ficasse por aí. Afinal, a Ucrânia é um país enorme, com mais de 600.000Kms2, com cerca de 44 milhões de habitantes e com a sua própria história. Variável no tempo, mas com autonomia e identidade próprias. Seria quase impossível ocupá-la, vista a sua dimensão territorial e populacional. Enganei-me. Não se ficou por aí e invadiu-a em várias frentes do seu território, designadamente a partir da Bielorrússia, governada pelo ditador-fantoche Lukashenko (no poder desde 1994), agora confortado com o resultado favorável de um referendo (votaram Sim 65% dos eleitores, tendo participado 78%, segundo informação oficial) que abrirá a possibilidade de albergar armas atómicas de Putin e lhe permitirá manter-se no poder por mais uns bons anos, até 2035, ficando com imunidade para toda a vida. No momento em que escrevo, os ucranianos negoceiam e ainda resistem, tentando impedir a Rússia de tomar Kiev e de instalar lá um governo fantoche. Na Rússia há condicionamento das redes sociais e, naturalmente, de todo o sistema informativo. Mesmo assim, são muitas as manifestações russas e mundiais contra a guerra. Entretanto, ameaçou a Finlândia e a Suécia. A resposta da NATO foi convidar estes dois países como observadores para a reunião que, entretanto, se realizou. Mas não contente com isso manda pôr em alerta o sistema de defesa nuclear. E marca negociações com a Ucrânia para a fronteira com a Bielorrússia. Aguardemos, pois, mas talvez para constatar que se tratou de uma farsa para mostrar (até para consumo interno) uma boa vontade que realmente parece não existir – estão a ver como os ucranianos (com a pistola apontada à cabeça) são intransigentes? Ou então que a farsa se transforme em verdade como saída para uma Rússia em reais e inesperadas dificuldades…
GUERRA ECONÓMICA
ENTRETANTO, começou a guerra económica, com a Alemanha a interromper o Nord Stream II, o Reino Unido a aprovar sanções a vários bancos russos, a EU a fechar o mercado financeiro da União à Rússia e a sancioná-la com o não acesso de vários bancos ao SWIFT e os USA a bloquearem vários bancos e a programarem o corte ao financiamento da dívida soberana russa. Estas entre outras medidas em curso, designadamente visando directamente os dirigentes e os oligarcas deste país. A generalidade da comunidade mundial condena a invasão (a Venezuela, do inefável ex-motorista Maduro, e Cuba não), mas o Conselho de Segurança não conseguiu aprovar a condenação da invasão porque a Rússia tem poder de veto, tendo-o exercido. Mesmo assim, a China e a Índia abstiveram-se, posição acompanhada pelos pouquíssimos países que se abstêm (entre os quais o Brasil de Bolsonaro) ou aprovam mesmo a invasão (por exemplo, a Síria ou o Irão).
Esta guerra vai (já está a) sobrar para todos nós. Já estava tudo muito difícil por causa da COVID19, mas a situação económica vai deteriorar-se por causa do boomerang provocado pelas sanções.
TOLSTOI E A GUERRA
CHEGADO AQUI, parece-me oportuno citar citar Lev Tolstoi, na “Guerra e Paz” (Lisboa, Inquérito, 1957, II, 407): “E, contudo, que vale a guerra que não exige completo êxito para o que a empreende?” Palavras do príncipe André Bolkonski, sendo a referência a guerra de Napoleão contra a Rússia, que na narrativa estava a decorrer. A questão agora consiste precisamente em saber o que, neste caso, é um “completo êxito” para Putin. Já se sabe que não eram as duas autoproclamadas repúblicas e que há um objectivo mais alto: a própria Ucrânia. Colocar no poder um fantoche de tipo Yanukovytch ou Lukashenko? E domesticá-la a ponto de lá poder instalar, como parece estar a acontecer com a Bielorrússia, outro arsenal atómico, inaugurando uma nova guerra fria? Seguramente este é um dos aspectos a considerar na estratégia de Putin.
O autocrata parece estar, de facto, a reconstituir a União Soviética, inspirado numa visão imperial ou czarística da Rússia. E, ao mesmo tempo, e como consequência, parece de facto também querer reinstalar uma lógica equivalente à da Guerra Fria, não aceitando o alargamento da NATO para os confins do território russo e avançando ele próprio para as fronteiras da União Europeia. A corrida da NATO e da União Europeia para as fronteiras de uma Rússia fragilizada pela queda do Muro de Berlim está a conhecer agora o seu reverso simétrico? Nem todos os erros estão só do lado de lá. A Rússia assediada que se defende, atacando? Também há quem ache (Martin Wolf, por exemplo, no Financial Times) que esta agressão à Ucrânia é precisamente o que melhor justifica o desejo de adesão destes países limítrofes à NATO. Mas a verdade é que não precisamos de uma ordem internacional de novo bipolar nem de uma ordem de natureza imperial, mas sim de uma nova ordem multipolar que decida operar em novos termos, salvaguardando as diferenças, congelando o conflito nuclear e disputando com o soft power ( o conceito de Joseph Nye) o consenso dos povos em nome dos próprios e legítimos interesses. E também não me parece aceitável que alguns procurem normalizar esta agressão argumentando com guerras ilegítimas ou ilegais do passado, como, por exemplo, a do Iraque, de resto, condenada por meio mundo. E não interessa dizer, como alguns, que a lógica das relações internacionais sempre esteve mais do lado do conflito interesseiro e antagonista do que do lado da cooperação. Para os contrariar podemos exibir o modelo da União Europeia, que é virtuoso sobretudo por uma razão: formou-se um espaço multinacional de paz e de cooperação económica e política por vontade das nações, por consentimento, por cooperação, por desejo de paz e de progresso, não pela força. Putin, pelo contrário, quer reconstituir um espaço multinacional pela força e pela submissão à sua vontade dos Estados limítrofes, sem atender aos novos tempos que já estamos a viver. Já se esqueceu da tentativa de Napoleão dominar a Rússia pela via das armas, com o resultado que se conhece, ainda que tenham tido necessidade de incendiar Moscovo. A leitura de “Guerra e Paz”, de Lev Tolstoi, dá-nos um quadro muito interessante do que aconteceu e de como as coisas se passaram.
A GUERRA E A GLOBALIZAÇÃO
SINCERAMENTE, esta estratégia ou, se quisermos, esta visão do mundo de Putin parece-me estar desfasada no tempo e não só porque, entretanto, surgiram outros protagonistas na cena mundial tanto ou mais importantes que a Rússia. Basta referir a China de Xin Jinping. Mas não é só isto. O que ele está também a provocar é uma escalada no rearmamento, que terá como efeito de boomerang um forte reforço militar e de unidade interna da Aliança Atlântica e dos países que a compõem, como por exemplo o enorme investimento militar agora decidido pela Alemanha, fragilizando-se, deste modo, indirectamente, ele próprio (alguém que um dia até pusera a hipótese de a Rússia vir a integrar a NATO) ao assumir-se como perigosa ameaça de uma guerra que, afinal, ninguém poderá vencer. Elevando, pois, uma conflitualidade que, afinal, nunca poderá passar da fase da dissuasão. Por outro lado, o mundo mudou muito em relação àquele em que Putin se formou e actuou, como importante agente dos serviços secretos da URSS, na Guerra Fria. Um dos instrumentos clássicos do poder, o establishment mediático (imprensa, rádio e televisão), já não detém o monopólio da informação porque surgiram as redes sociais e em geral a rede. Ou seja, o poder político nacional tem hoje muita dificuldade em controlar uma informação globalizada, policentrada e multidireccionada, detida pelas grandes plataformas americanas. A própria China quando quis controlar a informação na rede teve de se socorrer da Cisco Systems americana para a concretização do chamado Projecto Escudo Dourado. Ou seja, o que temos hoje é um mundo globalizado que já não obedece a lógicas puramente nacionais, ainda que essas nações possam dispor de armas nucleares. Armas, de resto, impraticáveis porque instrumentos de destruição do próprio globo, onde não haveria vencedores nem vencidos. Também a economia mundial está cada vez mais globalizada e não suporta condicionamentos de natureza nacional. Ela funciona com processos globalizados (por exemplo, o sistema SWIFT, o mercado financeiro internacional que serve as dívidas públicas ou a notação financeira das agências de rating) que podem paralisar qualquer país em pouco tempo. É preciso lembrar que a tentativa de Gorbatchov decorreu de uma gravíssima situação de atraso e de uma economia sem alma, pretendendo ele instalar não só uma abertura política (glasnost), mas também e sobretudo uma profunda reestruturação de toda a política económica, com a perestroika e a promoção de uma economia social de mercado. Tudo o contrário do que tem feito e quer fazer Putin. Ou seja, para ser mais directo, o mundo mental de Putin é o velho mundo e ele age em conformidade, sem se aperceber que esse mundo na verdade já não existe. Quanto a mim este é o grave problema com que ele se irá debater. E não sei se a recusa do aliado Kazakistão em apoiá-lo militarmente na invasão (e de não reconhecer as duas repúblicas referidas) não será já um dos primeiros sinais desta impossibilidade a que ele meteu mãos, alterando os equilíbrios saídos da segunda guerra mundial.
Um outro aspecto que acresce, relativamente a este de carácter mais estrutural, é o das possíveis fracturas internas na oligarquia russa quando os efeitos das sanções mundiais começarem a fazer danos profundos nos seus empórios e nas suas finanças. E já começou com a falência da filial europeia de um grande banco russo e com a gigantesca subida da taxa de juro decretada pelo Banco central. Aí poderá ser o próprio Putin a ficar em cheque e o seu regime unipessoal a colapsar.
O ERRO DE PUTIN
A VERDADE é que a guerra tem hoje características que não tinha. A continuação da política por outros meios pode ser feita – e já está a ser feita – mais eficientemente através da economia e das finanças e de toda a logística de que ela precisa para funcionar. E a economia é global. E a informação também. E a história não se faz caminhando às arrecuas, regressando aos tempos e à lógica de Vestfália.
A questão posta pelo príncipe André Bolkonski, um dos personagens importantes da “Guerra e Paz”, ganha, pois, todo o sentido, porque provavelmente o líder russo nunca conseguirá com esta guerra um “completo êxito” pela simples razão de que o seu objectivo estratégico já não corresponde à real configuração do mundo tal como hoje o conhecemos. A Ucrânia poderá ficar amputada do Donbass e da Crimeia, mas mesmo assim tem um território imenso e uma população de mais de quatro dezenas de milhões de cidadãos que, sobretudo depois deste ataque, nunca tolerarão o domínio russo, estando hoje muito mais dispostos a lutar pela sua independência, como se vê pelos inúmeros cidadãos ucranianos que, em situação de guerra, decidem regressar ao país para combater a invasão. Este facto dá-nos bem conta do que aconteceria de imediato com um governo pró-russo imposto pela força das armas. Carl Bildt, num recente artigo no Project Syndicate (“Putin’s Imperial Delirium”, de 25.02.2022), diz que quando a história deste tempo for escrita Vladimir Putin “will be seen as an witting creator of the Ukrainian nation that he wanted so much to destroy”. E creio mesmo que será assim – o nacionalismo ucraniano tornar-se-á mais forte e mais robusto com esta tentativa putiniana de o destruir. Além do mais, é de ciência certa que estas operações de domínio político já não se fazem hoje com a guerra convencional e muito menos com a ameaça nuclear, que intensifica generalizadamente ânimos de revolta e de amor-próprio, mas sim com a economia, a propaganda, a informação, técnicas de marketing, especialistas em comunicação, alinhamento de bons profissionais da política nacionais e disponíveis, mas também com o apoio de importantes faixas da população autóctone, insatisfeitas com o statu quo. O que ele está a fazer é exactamente o contrário disto, gerando ódio e acabando por unir todos os ucranianos em torno da identidade nacional. E creio mesmo que esta sua irresponsável ameaça nuclear é já uma prova insofismável do seu ditatorial desespero perante a reacção ucraniana e mundial. Veremos.
FINALMENTE, A POLÍTICA E OS SERVIÇOS SECRETOS
SE É CERTO que toda essa louca tentativa de restaurar a Guerra Fria e o bipolarismo estratégico-militar não faz hoje grande sentido – porque será sempre uma ameaça ao planeta – e se a globalização económica e financeira e informativa não favorece as guerras convencionais enquanto meios de domínio político, e sobretudo no espaço europeu, também é verdade que o sucesso democrático e económico de um grande país como a Ucrânia poderia produzir efeitos de contágio sobre esse outro enorme país que é a Rússia, pondo em risco a oligarquia dominante, o sistema ditatorial e unipessoal vigente e a sua farsa democrática. Mas tentar apagá-lo como nação, pela força e com uma farsa ideológica, é como enterrar a cabeça na areia, em vez de olhar de frente o desafio interno e enfrentá-lo com coragem, inteligência e determinação. E em democracia. Na verdade, Putin, em vez de olhar para dentro e para o futuro do próprio país com o objectivo de o desenvolver, olha – como sempre fizeram os ditadores – para fora para se conservar no poder e manter a oligarquia reinante, de que ele próprio faz parte. Só que, ao que parece, nem sequer está a conseguir a tão desejada coesão interna, de tão desastrada e desastrosa ser esta extemporânea iniciativa militar. A verdade é que há manifestações em dezenas de cidades russas e milhares de manifestantes detidos (no dia 24.02, no início da invasão já tinham sido detidos cerca de 1600 cidadãos russos por se manifestarem contra a guerra). Mas a pergunta que sobra é esta: poderá um ex-agente dos serviços secretos da União Soviética, como Putin, olhar para o poder e para a política de outro modo? A sua visão redutora da política até acaba de se virar contra os seus próprios interesses pessoais. Haverá uma ilha de Santa Helena à sua espera? Se houver, esperemos que a viagem seja em breve e que para tal não seja preciso incendiar Kiev. #Jas@03-2022.

“S/Título”. Detalhe
A INFORMAÇÃO TELEVISIVA
Se o mundo já está pouco recomendável ela ainda o torna pior
Por João de Almeida Santos
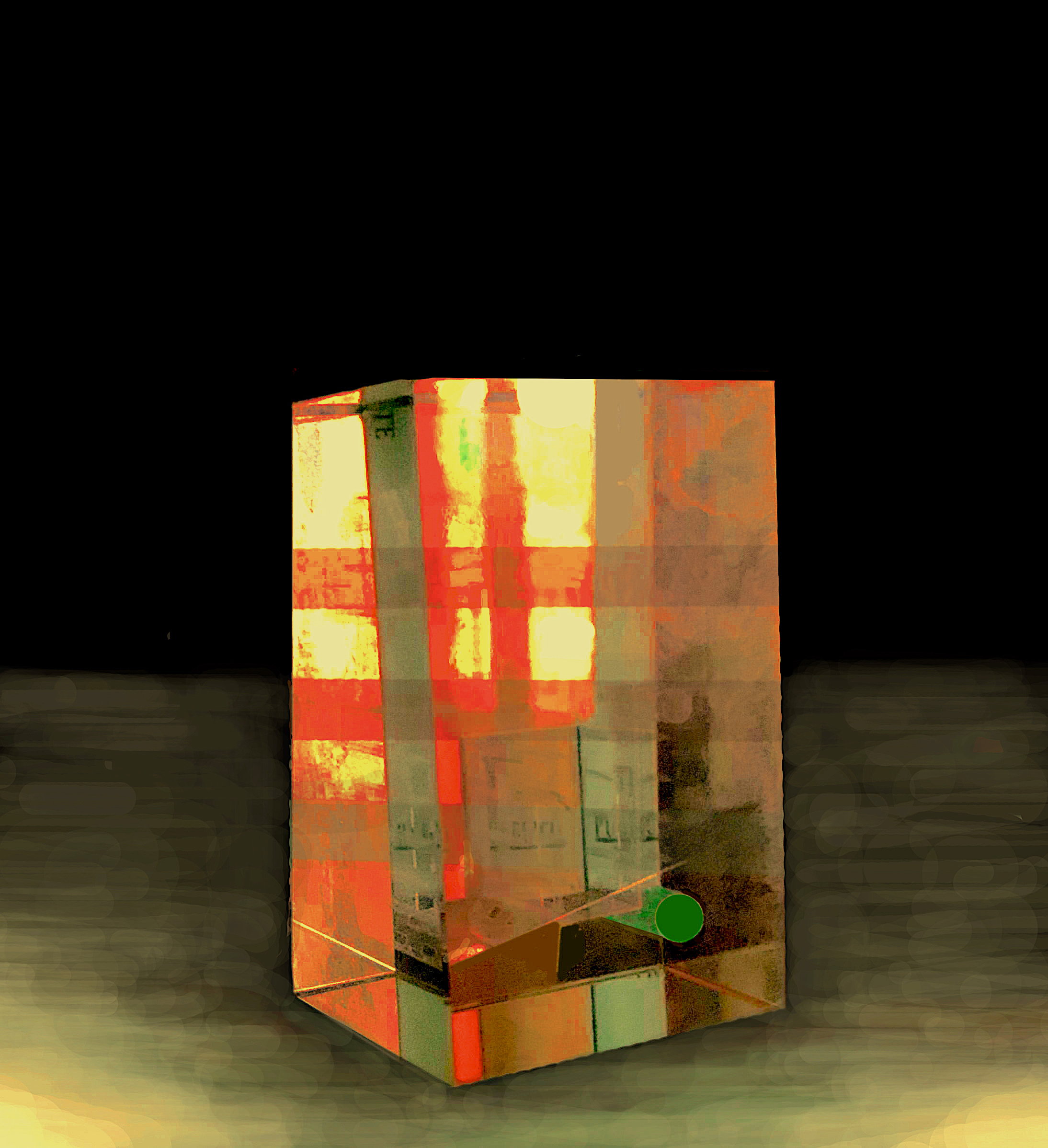
UM JOVEM QUE NÃO PRECISAVA DE PUBLICIDADE
O ASSUNTO do alegado terrorista de 18 anos, natural de uma aldeia de Alcobaça, desapareceu de cena. Milagrosamente, depois de festivais informativos de arromba. Ainda bem, porque a prioridade deverá ser ajudar o jovem e não condená-lo e chicoteá-lo de imediato no pelourinho electrónico. Pelo menos, que seja garantida a velha presunção de inocência e o segredo de justiça, tão maltratados que têm sido (e, pasme-se, pelos próprios agentes da justiça). Bem sei que subiu ao palco um grave conflito global a propósito da ameaça russa de ocupação da Ucrânia. E que entre uma faca e o arsenal militar da Rússia vai bem um suspiro informativo das nossas televisões. Vai, sim. E até a COVID19 continua a dar que falar e a suscitar preocupações, apesar de o inefável bruxo de Fafe a ter dado como terminada. Mas o facto é que o jovem João desapareceu quase misteriosamente do circuito noticioso. Porque o bom senso imperou ou porque outros valores informativos mais altos se impuseram? Mas suspeito que, em qualquer caso, não tenha sido por cuidado em preservar o jovem e a sua família. Se tivesse sido não teriam feito o arraial que fizeram. Se uma tragédia não acontece – e não aconteceu – não deve ser noticiada como se tivesse acontecido. Ou não?
THE SHOW MUST GO ON
O QUE SE PASSOU merece uma reflexão. E começo por dizer que achei muito curiosa, no meio daquele festival informativo, toda aquela preocupação do pivot José Alberto Carvalho sobre saber se a televisão deveria ou não ter noticiado o caso do falhado atentado do jovem de 18 anos. Fiquei quase enternecido com tanta responsabilidade e inquietação moral e noticiosa do jornalista, apesar de me saber a desculpa de mau pagador, a consciência pesada ou mesmo a hipocrisia.
Mas, e sem ponderar os danos que o jovem já sofreu e virá a sofrer depois de todo este espalhafato, o problema é real porque desde os tempos de Gabriel Tarde, o sociólogo francês tão esquecido pela Academia, que se sabe que o fenómeno da imitação é um importantíssimo factor de acção social, de comportamento social. E, todavia, a ilustre magistrada Maria José Morgado, especialista em efeitos dissuasores do tabloidismo em matéria penal, não tem dúvidas sobre o assunto, porque o medo guarda a vinha, diz. Tudo bate certo, portanto, e quanto mais as televisões falarem do assunto mais a vinha fica guardada, garantindo boas colheitas e bom vinho. Oh, se fica bem guardada, a vinha… Prendem-te de imediato (e há sempre, pelo menos, um juiz que, por via das dúvidas, adora prender) e expõem-te publicamente no pelourinho electrónico, marcando-te para toda a vida. E assim salvam a vinha. A verdade é que perante a auctoritas (no sentido romano de virtus) da ilustre figura moral do nosso Estado de Direito o jornalista ficou sereno e quase comovido pela justeza do critério informativo assumido e… fogo à peça. The show must go on.
O ADN DO TELEJORNAL
MAS A VERDADE é que esta questão acaba por ser pura e simplesmente ociosa se posta por um pivot, um anchorman ou uma anchorwoman de um telejornal português. Porquê? Porque a natureza da nossa informação televisiva é, ela própria, já na matriz, no ADN, desbragadamente tablóide. É como se o jornalista se perguntasse se o tabloidismo é moralmente aceitável e informativamente relevante, objectivo e imparcial em qualquer caso. Praticam-no à grande, mas sempre com uma réstia de pudor e até mesmo de candura. O que tem de ser tem muita força, já se vê. O mercado das audiências é implacável e há que sobreviver nesta guerra da informação. Ainda por cima com a libertinagem das redes sociais à solta e em feroz competição com a virtude informativa. Às vezes custa-nos, parte-se-nos o coração… mas tem de ser.
A INFORMAÇÂO, O NEGATIVO E A FAMA
Não restam dúvidas de que o negativo é a marca de água da informação televisiva et pour cause mais uma vez fogo à peça… Querem lá saber do que possa acontecer ao jovem. Lá estarão depois os psicólogos de serviço – também eles amigos dos telejornais – para repararem o mal feito e levá-lo pelo caminho da salvação. Se até a PJ achou que sim, por que razão nós, que temos audiências a conquistar, haveríamos de não o fazer?
As televisões portuguesas têm, sim, o negativo colado à “pele”. É coisa mais do que comprovada. É o estigma do “Correio da Manhã” a fazer escola em versões envergonhadas do seu tabloidismo desbragado, instrumentos de delírio emocional a custo zero e ao serviço das audiências.
Mas é verdade, esta questão da informação televisiva sobre o atentado merece uma reflexão séria à luz do efeito mimético da informação, que mais não seja porque ela abre janelas de oportunidade para que espíritos mais influenciáveis, mas (ou por isso) sedentos de notoriedade, possam seguir ou simular o exemplo do jovem. Como alguém dizia, basta que a uma psicopatologia latente se associem determinados factores exógenos de pressão (radicalismo ideológico ou religioso, vítimas de bullying ou mesmo reiterado insucesso escolar, entre tantos outros factores) para que possa acontecer uma reacção explosiva. E, visto o tremendo sucesso televisivo do caso em apreço, aí vou também eu à procura dos meus cinco minutos de fama, nem que seja antecipando e simulando, nas redes sociais, um acto violento. Lá estará o FBI para alertar a nossa PJ, desencadeando o processo de denúncia da ameaça e de exposição pública no pelourinho electrónico. Quem sabe se, depois, quando for famoso, se abrem outras oportunidades num daqueles programas televisivos que exibem famosos que ficaram famosos por entrarem em programas para famosos. Da informação tablóide ao Big Brother. Toda uma ideologia. Ou o sucesso ao teu alcance.
A IMITAÇÃO O QUE DIZIA GABRIEL TARDE NO SÉCULO XIX?
O QUE DIZIA, em Les Lois de l’Imitation, de 1890, Gabriel Tarde (e note-se que as suas teses foram assumidas cerca de cinquenta anos depois por Elihu Katz e Paul Lazarsfeld, com a teoria do “Two-step flow of communication”, como reconhece o próprio E.K.)? Que a imitação é o princípio constitutivo das comunidades humanas, o “acto social elementar”, a “alma elementar da vida social”. E o que dizem as teorias dos efeitos dos media, que ele antecipou em várias décadas (“Two-step flow of communication”, de Lazarsfeld e Katz, a “Espiral do Silêncio”, de Noelle-Neumann, ou o “Agenda-Setting”, de McCombs), em particular da televisão? Pelo menos uma coisa: que os efeitos dos media são fortes e influenciam o comportamento humano. Disso parece não haver dúvidas.
QUEREM LÁ ELES SABER...
POIS BEM, as nossas televisões e os nossos jornalistas, incluído o seráfico José Alberto Carvalho, estão-se borrifando para tudo isto pois o que interessa são as audiências e a publicidade que daí decorre. Há sempre nos nossos telejornais um momento (cada vez mais longo) que eu classifico como “Relatório de Polícia”, uma aproximação, com aura, à filosofia espontânea do “Correio da Manhã”. Sim, estes pivots mais parecem os intelectuais (in)orgânicos do negativo, os seráficos apóstolos da desgraça, que exibem a todo o momento, mas com ar contristado e com gravitas. Ocasiões não faltam e a ocasião faz o… tablóide. E a informação maciça sobre a desgraça. Se o mundo já está pouco recomendável eles ainda o tornam pior. COVID19, Terrorismo, Guerra, tudo isto é filet mignon para estes artífices do maior telejornal do mundo.
ENFIM
O QUE HÁ A DIZER? Uma coisa muito simples: já que o poder político não quer ser acusado de limitar a sagrada “liberdade de imprensa” (esta, a imprensa, tem sido a outra face daquele), já que a pobre ERC continua a vegetar (com alimentos pagos por nós) como zombie sem alma (passe a dupla redundância), já que os directores de informação e os seráficos pivots não têm vergonha na cara e não mudam os critérios informativos, então que se organize um movimento com uma plataforma (há muitas e importantes plataformas cívicas digitais, por exemplo a poderosa MoveOn.Org, nos USA) para dar combate a esta vergonha da informação televisiva em Portugal. Se a rede e as redes sociais servem para alguma coisa pois que sirvam também para isto. E, já agora, que no combate estejam também incluídos os acólitos da missa televisiva. Tenho dito (muitas vezes).
NOTA SOBRE A CRISE INTERNACIONAL
NÃO SENDO EU ESPECIALISTA em política internacional, parece-me que, com tudo isto, o que Putin queria, depois de outras experiênciad de sucesso (na Geórgia e na Crimeiai), era consolidar a independência das duas Repúblicas, Donetsk e Lugansk (através do reconhecimento e do “apoio” militar). Esperemos que fique por aí. Agora começa a guerra económica com a Alemanha a romper com o Nord Stream II, o Reino Unido a aprovar sanções a 5 bancos russos, a EU a fechar o mercado financeiro da União à Rússia e os USA a bloquearem o Banco de Desenvolvimento Russo e o Banco Militar e a programarem o corte ao financiamento da dívida soberana russa. Esta guerra vai sobrar para todos nós. Apetece-me citar Lev Tolstoy, na “Guerra e Paz” (Lisboa, Inquérito, 1957, II, 407): “E, contudo, que vale a guerra que não exige completo êxito para o que a empreende?” (Palavras de André Bolkonski e a referência é a guerra de Napoleão com a Rússia, que na narrativa estava a decorrer). A questão agora consiste precisamente em saber o que, neste caso, é um “completo êxito” para Putin… #JAS@02-2022.
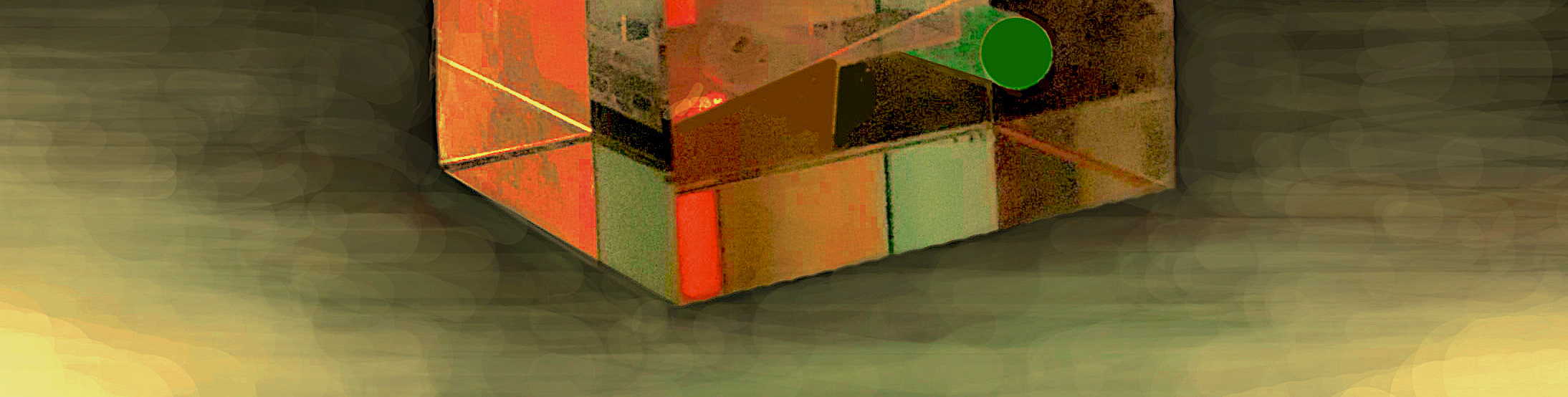
GLOBALIZAÇÃO, CAPITALISMO E DEMOCRACIA
A CRISE E O RISCO
Por João de Almeida Santos
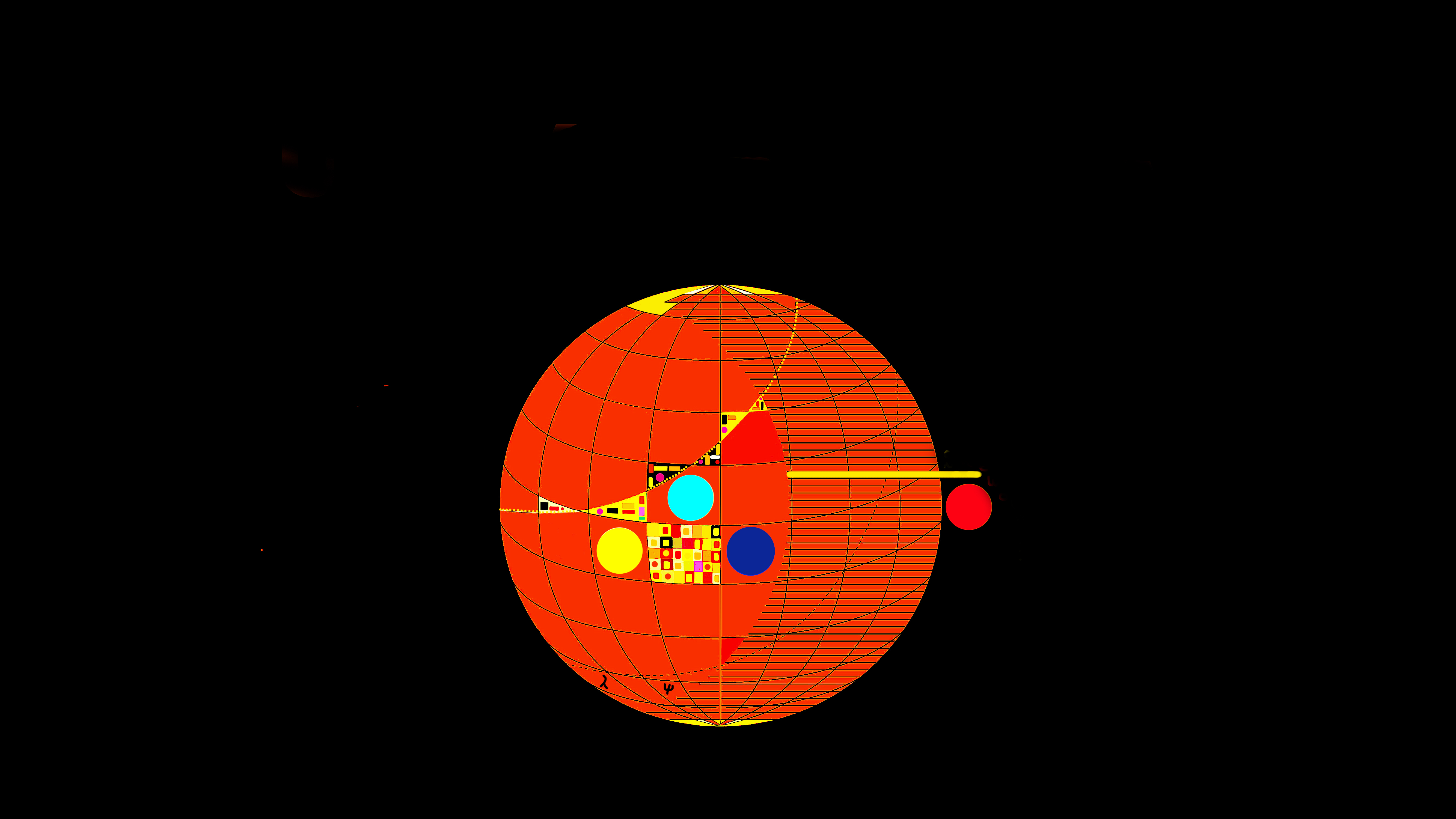
“Globalização”. Jas. 02-2022
NUM MOMENTO CONTURBADO como o que vivemos à escala global com a pandemia e, agora, com a ameaça de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com um ameaçador alarme comunicacional mundial, numa crise que representa um sério risco, por um lado, de perigosa escalada de uma guerra convencional, e por outro, de uma guerra económica e financeira global, atingindo não só a Rússia, mas também a União Europeia, faz todo o sentido reflectir sobre a ideia de globalização. De resto, na verdade, o que acontece é um diferendo entre a NATO e a Rússia de Putin (pode ou não entrar a Ucrânia na NATO?). A Ucrânia, por isso, é simplesmente o lugar onde está a acontecer este diferendo de dimensão global. Ou seja, a crise a que estamos a assistir parte do risco de uma guerra convencional localizada que, depois, se declare como guerra de novo tipo, um ataque económico e financeiro ao país invasor (a Rússia). Que responderá, atacando economicamente a União (através, por exemplo, do corte no fornecimento do gás). Duas guerras de tipo diferente em simultâneo, mas ancoradas num diferendo de dimensão global. Não aconteceu ainda, e esperemos que não aconteça, mas estamos em fase de crise com risco de catástrofe que não se sabe como poderá terminar.
Posto isto, começo por dizer que a ideia de globalização corresponde a um processo e só depois, consequentemente, se torna também um posicionamento cognitivo. É por isso que continua a ser muito importante clarificar o conceito de globalização. Segundo alguns o conceito estará a cair em desuso e com isso talvez a perder clareza conceptual, em parte certamente por ter caído na esfera da linguagem comum, da trivialidade discursiva. O que é verdade. Mas também por algum afunilamento que sofreu ao deslizar progressivamente para a esfera da economia, mais concretamente, confundindo-se com esses mesmos mercados financeiros globais que têm vindo a capturar irremediavelmente a política e a confiscar soberania ao cidadão. Mas esta crise militar veio lembrar-nos que a globalização também acontece no plano da segurança. De qualquer modo, e no plano financeiro, esta tendência até já conheceu uma sofisticada teorização por parte de um reputado académico alemão, Wolfgang Streeck, em Gekaufte Zeit. Die vertragte Krise des democratischen Kapitalismus (Suhrkamp Verlag: Berlin), uma obra de 2013, quando fala da emergência de uma segunda constituency ao lado da constituency da cidadania. Ou seja, da “constituency” dos credores. Credores que na maior parte dos casos são, de facto, players globais. Não partilho da visão de Streeck, um regresso à moeda nacional, mas reconheço pertinência e originalidade à sua sugestiva análise.
Mas antes de entrar directamente no mérito da questão permitam-me que faça um excursus e chame a atenção para a excelente obra de Naomi Klein, No Logo, a bíblia dos movimentos anti-globalização, publicada em 1999. Começo, citando, a este propósito, Ulrich Beck, na sua obra sobre “O que é a Globalização”:
«poder-se-ia dizer que aquilo que, para o movimento dos trabalhadores do século XIX, foi a questão de classe, no limiar do século XXI é, para as empresas que agem numa dimensão transnacional, a questão da globalização. Com a diferença essencial, todavia, de que o movimento dos trabalhadores agia como um contra-poder, enquanto as empresas globais até agora agem sem um contra-poder (transnacional)» (Beck, 1999: 13-14; itálico meu).
Estamos a falar de um mundo novo e de uma realidade que configurou o mercado de trabalho à escala mundial. Mais: um mundo que deslocalizou o processo produtivo de tal modo que também deslocalizou o emprego, fazendo recair o ónus, por um lado, sobre os trabalhadores do chamado primeiro mundo e, por outro, sobre os trabalhadores que vivem a sua situação laboral em regime de tipo militar. Estou a falar das famosas EPZ, referidas abundantemente por Naomi Klein. Ou seja: as pessoas que trabalham nas cerca de 1000 EPZ (Export Processing Zones) são (ou eram, há mais de vinte anos) 27 milhões, em todo o mundo e em cerca de setenta países. Indonésia, China, Sri Lanka, México, Filipinas, Nigéria, Coreia do Sul (conhecida nos anos oitenta como a «capital mundial dos ténis para ginástica»), Hong Kong, Guatemala, etc., etc., para outras tantas marcas multinacionais, Nike, Reebok, Burger King, Disney, Levi’s, Wall-Mart, Champion, General Motors, Shell, McDonald’s, Coca-Cola, Starbucks, Pepsi-Cola, Microsoft. De resto, algumas destas multinacionais têm PIBs superiors aos de muitos Estados. Entre os cem melhores sistemas económicos do mundo 49 são países e 51 são empresas multinacionais (Klein, 2001).
GLOBALIZAÇÃO
VEJAMOS, então, este conceito-chave. Na verdade, a globalização não é propriamente uma doutrina ou uma teoria a partir da qual possamos compreender o mundo, como se se tratasse de uma alavanca cognitiva arquimediana. A globalização é, sim, antes de mais, um processo que está aí e perante o qual temos de nos posicionar, agir material e intelectualmente. A globalização é, antes de mais, a coisa anterior à teoria. Assunto diferente é o que diz respeito à lógica globalitária ou à mundividência globalitária, ou seja, por um lado, à dinâmica que está inscrita nela, por outro, ao modo como, a partir dela, olhamos para a realidade. Estas, sim, surgem como visões que tendem a impor comportamentos e chaves de leitura do mundo contemporâneo. Mas, no essencial, a ideia de globalização tem sido associada sobretudo à dimensão financeira. Esta dimensão, sendo global, está de tal modo no interior dos territórios nacionais que, como disse, já se fala de uma nova constituency (precisamente a nível nacional), a dos credores, ao lado da cidadania. Todos sabem do que falo, sobretudo se a explicitar referindo-me aos famosos mercados financeiros internacionais, essa estranha relação que se transformou num fetiche parecido com aquele que Marx identificava no primeiro livro de Das Kapital com a mercadoria, ou seja, um estranho sujeito relacional, mas também sensitivo, com qualidades e sensações humanas, ou, então, referindo-me aos globalitários fundos de pensões ou ainda às famosas agências de rating, sobretudo às três (Moody’s, Standard&Poors e Fitch) que detêm 96% do mercado de notação financeira e que em 2011 exibiram um volume de negócios de cerca de 46 mil milhões de dólares, sendo detidas sobretudo por especuladores financeiros. Falando de globalização, também todos sabem, pois, do que falo se me referir à rede, às lógicas e aos processos universais induzidos por ela (para o bem e para o mal), sendo certo que, no plano comunicacional, antes do boom das redes sociais já existia uma televisão global, sobretudo a partir da primeira guerra do Golfo, a CNN, havendo até quem considere que foram os portugueses a promover a primeira globalização, no século XV, na época dos descobrimentos. Se bem me recordo era o que dizia Holland Cotter, reputado crítico de arte do NYT, a propósito da exposição Encompassing the Globe, promovida por Portugal nos Estados Unidos, em 2007: “A little-known fact: A version of the Internet was invented in Portugal 500 years ago by a bunch of sailors with names like Pedro, Vasco and Bartolomeu (NYT, 29.06.2007). Ou, então, se me referir aos processos migratórios que, sobretudo a partir da presidência de George W. Bush, alastraram como mancha de óleo sobre os territórios nacionais, designadamente da União Europeia, por via marítima, aérea ou terrestre. Ou ainda se me referir, como já fiz, às famosas EPZ, Export Processing Zones, tão bem retratadas por Naomi Klein, em No Logo.
Uma globalização com estes ingredientes suscita certos requisitos críticos. Ou seja, trata-se, sim, de uma certa globalização. A mesma a que nos referimos quando falamos das lógicas neoliberais. E, já agora, também pode ser uma globalização que num certo momento parecia conhecer um único player com força para se impor hegemonicamente no mundo, o Império, de que falavam Michael Hardt e Antonio Negri, os Estados Unidos da América, sobretudo logo após a fracassada tentativa de Gorbatchov de reformar o sistema soviético e do fim do bipolarismo estratégico, político, económico e ideológico. Mas sendo certo que bem depressa se viu que o jogo internacional se estava a tornar bem mais complexo e que a lógica da guerra convencional já estava ultrapassada em grande medida por outras lógicas, sobretudo pela lógica financeira e pela lógica comunicacional. Como, de resto, já se está a verificar nesta crise, onde a dimensão global, do ponto de vista estratégico, comunicacional e económico-financeiro está a sobrepor-se já ao real conflito armado convencional e localizado.
COSMOPOLITISMO
NA VERDADE, embora a globalização tenha vindo a conhecer uma lógica sobretudo de tipo globalitário, ela também tem desenvolvimentos num sentido bem mais interessante e progressivo, ou seja, em sentido cosmopolítico. E a polémica em torno da globalização não pode também deixar de reconhecer este sentido preciso. O que se passou, verdadeiramente, foi o seguinte: 1. Na modernidade, a lógica comunitária fragmentou-se e deu lugar à lógica societária; 2. esta, por sua vez, expandiu-se e deu lugar a uma lógica cosmopolítica. Ou seja, da comunidade, à sociedade, à cosmopolis. O que, entretanto, aconteceu por via da afirmação e do triunfo do neoliberalismo foi que a lógica cosmopolítica de inspiração iluminista acabou por dar lugar a uma lógica globalitária centrada na financiarização da economia e num mercado financeiro mundial.
Esta expansão – e com estas características – provocou implosões internas e produziu, à maneira hegeliana, um efeito de superação, fragmentando e integrando numa unidade superior. O que acontece é que a extrema expansão do sistema o levou a afastar-se do seu núcleo duro, a lógica comunitária, tornando-se extremamente volátil. Isso implicou que o velho núcleo comunitário se tivesse fragmentado cada vez mais em microcomunidades e que a sua função aglutinadora originária fosse substituída por uma nova função de tipo mais superestrutural e volátil. Na nova cosmopolis, de forma reactiva, tendem, pois, a formar-se microcomunidades resistentes às novas funções globalitárias e superestruturais que acabaram por se impor. Foi esta evolução da cosmopolis que motivou os movimentos antiglobalização de vários matizes e expressões.
O que, com isto, pretendo dizer é que a nova cosmopolis global é favorável ao desenvolvimento de microcomunidades sectoriais, de natureza localista, mas também de natureza ético-política (os movimentos por causas), tendencialmente resistentes às novas funções globalitárias. É que elas pretendem exprimir a estrutura enquanto a nova função é essencialmente de tipo superestrutural. Uma função que inclui, como disse, uma dimensão essencialmente económica, mas sobretudo financeira (globalização), e uma dimensão essencialmente comunicacional (cosmopolita ou globalitária, quando ancorada nos colossos – grupos de media e plataformas digitais – da informação mundial).
A função globalitária possui, pois, duas dimensões: a primeira é identificada com a expansão universal de um concentrado poder económico-financeiro; a segunda, com a lógica da comunicação global. A primeira é dominantemente intensiva (as concentrações mundiais de natureza económico-financeira, incluídas as do sector mediático), a segunda é dominantemente extensiva (a expansão universal e capilar da comunicação). Esta função tende a homogeneizar os conteúdos e a tudo transformar em mercadoria. Incluída a própria informação (como mercadoria). E para isso contribuem decisivamente as grandes concentrações de poder. A globalização, induzida pela lógica globalitária, nasce assim a partir dos vértices dos poderes económico-financeiro e mediático. Para se afirmar democraticamente, ela deveria, pelo contrário, partir das exigências concretas de vida, da base dos sistemas sociais, como parece já estar a acontecer, em parte, com a expansão da Rede, ao serviço do indivíduo singular. De qualquer modo, a rede possui uma virtualidade insurgente que não se verifica nos media tradicionais. Assim não sendo, há que a considerar potencialmente perigosa para as próprias democracias nacionais. Só assim se explica a polémica em torno da globalização. Mesmo no plano da rede e das chamadas tecnologias da libertação aquilo a que também estamos a assistir é a uma excepcional concentração de poder por parte das grandes plataformas, dando lugar àquilo que Shoshana Zuboff chama capitalismo da vigilância e ao seu poder preditivo do comportamento humano vertido, depois, em manipulação comercial e política (como se viu na eleição de Donald Trump) da cidadania mundial.
Esta tendência está a gerar contestações porque surge como uma imposição unilateral, sem base de legitimação e sem eficazes e legítimos controlos políticos, porque sem referentes políticos equivalentes. O conceito de função globalitária serve assim, apropriadamente, para designar a unificação forçada daquilo que se mantém substancialmente diferente. Outra coisa é a cosmopolis, legítima herdeira do iluminismo progressista. A construção progressiva de uma democracia europeia representa certamente esta herança, já que se funda num movimento ascensional que evolui para uma concreta forma de cosmopolitismo, bem radicado em exigências internas dos próprios Estados nacionais. Ela constitui, assim, exemplo virtuoso de um cosmopolitismo politicamente sustentado, bem diferente, pois, da globalização económico-financeira. O verdadeiro cosmopolitismo é incompatível com o «colonialismo» tendencial das funções globalitárias. Mas, felizmente, parece que começa a emergir um novo cosmopolitismo de natureza reticular muito resistente à natureza impositiva da lógica globalitária, porque orgânico ou funcional a uma dinâmica ascendente da livre expressão das expectativas individuais. Isto, apesar de também ele trazer consigo uma correspondente função globalitária, precisamente a das grandes plataformas e da gestão da informação acerca dos perfis dos utilizadores para efeitos de desenvolvimento de estratégias preditivas do comportamento humano com objectivos comerciais e políticos, oportunamente denunciados pela Zuboff e pela Netflix no seu documentário sobre as redes sociais. Duas dimensões presentes na rede, mas onde a componente libertária tem um papel que pode ser decisivo para esse novo cosmopolitismo antiglobalitário e que, por isso, aguarda, também ele, desenvolvimentos virtuosos que contrariem a evolução negativa do controlo mundial da informação pelas plataformas.
A CRISE ADIADA DO CAPITALISMO DEMOCRÁTICO
A CRISE que teve início em 2008 é uma típica crise da globalização: das finanças à economia real, às dívidas soberanas, ao euro, à União Europeia. Insegurança, incerteza, volatilidade, retracção no investimento, desemprego, recessão, instabilidade social e política. Estas palavras traduzem-na bem. A solução passou por uma forte intervenção dos Estados com injecção de dinheiro nas economias, gerando aumentos insustentáveis da dívida pública em muitos países, com as agências de rating a sublinharem a incerteza acerca da capacidade dos países pagarem as suas dívidas. E com o consequente serviço da dívida a atingir níveis incomportáveis pelas brutais subidas de juros que se seguiram às notações das agências, criando-se um problema verdadeiramente novo nos processos críticos.
E é precisamente por estas razões que esta minha incursão no tema da globalização presta atenção às reflexões de Wolfgang Streeck sobre esse modelo que ele designa por “Estado democrático endividado”, (2013: 127-143), ou seja, daquele Estado que se seguiu ao “Estado democrático fiscal” e que passou a apresentar uma dupla e nova constituency: a dos cidadãos e a dos credores, que já enunciei antes. Entro, pois, agora, directamente neste tema, ou seja, na questão da dívida soberana e suas incidências na estrutura nuclear da democracia representativa e no modelo que, nas últimas décadas, lhe está associado, o modelo social europeu, que, como sabemos, se viria a tornar crucial na crise pandémica que ainda estamos a viver. Com este modelo, o do Estado endividado, sem dúvida muito sugestivo e, no meu entendimento, muito eficaz, na medida em que gera automaticamente um link entre economia e política, será possível compreender as principais variáveis envolvidas na crise que classifico como crise da globalização (1). Como diz Streeck, na obra já referida:
“Há muitos motivos para considerar que o surgimento do capital financeiro como um segundo povo – um povo do mercado, que rivaliza com o povo do Estado – constitui uma nova fase da relação entre o capitalismo e a democracia na qual o capital deixou de influenciar a política apenas indiretamente – através do investimento ou não em economias nacionais -, e passou a influenciá-la diretamente – através do financiamento ou não do próprio Estado” (2013: 134; itálico meu).
Quem tem prioridade, nesta equação, o povo do mercado ou o povo do Estado? Os credores internacionais ou os cidadãos? Deve-se evitar a “inquietação” dos mercados ou a dos pensionistas e dos cidadãos/clientes do Estado Social/contribuintes fiscais (2013: 137-138)? É por isso que, para responder com eficácia a este dilema, Streeck afirma que “o melhor Estado endividado é um Estado com uma grande coligação, pelo menos na política financeira e fiscal” (2013: 138-139). É que, deste modo, é possível garantir a confiança dos mercados, na medida em que desaparece a alternativa às políticas restritivas e de austeridade, ficando os eleitores impossibilitados de provocar mudanças políticas. Compreendem? Estão a ver bem por que razão muitos queriam o bloco central, aqui ou na Espanha? A verdade é que esta solução amputaria a democracia de um instrumento essencial: a possibilidade de escolha em alternativa. Confiscaria poder aos cidadãos. Por outro lado, como diz Streeck, “o facto de a governance internacional ter sido encarregada da supervisão e regulação orçamental de governos nacionais ameaça fazer com que o conflito entre o capitalismo e a democracia seja decidido durante muito tempo, se não para sempre, a favor do primeiro, dada a expropriação dos meios políticos de produção dos Estados” (2013: 144). A posição de Streeck é muito clara: o neoliberalismo tem vindo a impor, sobretudo a partir dos fins dos anos ’70, o triunfo da justiça de mercado sobre a justiça social (2), através da confiscação do poder da cidadania pelo poder dos mercados. O modelo de Streeck centra-se em três momentos essenciais na evolução do Estado: o Estado democrático fiscal, que alimentava o orçamento do Estado através dos impostos, deu origem ao Estado democrático endividado, através da dívida pública, que alimentava os orçamentos sobretudo através do endividamento externo, do recurso aos mercados financeiros internacionais (e não tanto do mercado interno); depois, segundo Streeck, passou-se à fase do Estado de Consolidação, que é o ponto em que nos encontramos. O modelo é assim formulado por Streeck:
“O Estado democrático governado pelos seus cidadãos e, enquanto Estado fiscal, alimentado pelos mesmos, transforma-se no Estado democrático endividado mal a sua subsistência deixa de depender exclusivamente das contribuições dos seus cidadãos para passar a depender, em grande parte, também da confiança dos credores. Ao contrário do povo do Estado fiscal, o povo do mercado do Estado endividado está integrado a nível transnacional. A única ligação que existe entre os membros do povo do mercado e os Estados nacionais é a dos contratos: estão ligados como investidores e não como cidadãos. Os seus direitos perante o Estado não são públicos, mas sim privados: não se baseiam numa constituição, mas no direito civil. Em vez de direitos civis difusos, passíveis de ser alargados do ponto de vista político, os membros do povo do mercado possuem direitos perante o Estado cuja aplicação pode ser exigida em tribunais cíveis e terminar através do cumprimento do contrato. Enquanto credores, não podem eleger outro governo em vez daquele que não lhes agrada; mas podem vender os seus títulos de dívida ou não participar nos leilões de novos títulos de dívida. O juro pago por estes títulos, que reflete o risco estimado pelos investidores de não recuperação total ou parcial dos seus investimentos, constitui a ‘opinião pública’ do povo do mercado – e uma vez que esta é expressa de forma quantificada, é muito mais precisa e legível do que a do povo do Estado. O Estado endividado pode esperar lealdade do seu povo, enquanto dever cívico, enquanto no que diz respeito ao povo do mercado tem de procurar conquistar a sua ‘confiança’, pagando devidamente as suas dívidas e provando que poderá e quererá fazê-lo também no futuro” (2013: 130-131).
Este modelo explica a crise através de uma mudança nas relações entre administração fiscal, cidadão, credor, eleições, mercado e Estado. É um modelo sugestivo e parece ter sido extraído directamente da crise de 2008, designadamente inspirando-se nos casos dos países intervencionados: Grécia, Irlanda e Portugal. É um modelo muito sugestivo, mas continua subsidiário do subsistema económico-financeiro. Nisto não se desvia dos modelos tradicionais de explicação da crise, sendo certo que a sua própria solução, a de Streeck, acaba por afunilar na proposta de reposição das moedas nacionais e na reintrodução do mecanismo da desvalorização. Neste sentido, não me revejo nele.
Com efeito, a perspectiva de Streeck, que vê na União monetária e na União política uma tentativa de coroamento do percurso neoliberal iniciado nos anos setenta, além de errada e, diria mesmo, injusta, resume-se, afinal, ao fim do euro (ou à sua conversão em simples moeda-referência) e à reposição das moedas nacionais para que possa ser repristinado o mecanismo de desvalorização, enquanto único meio que, a seu ver, poderá repor a liberdade e a autonomia nacionais, evitando a confiscação da democracia pelo sistema financeiro internacional, ou seja, pelo capitalismo, em face da tentativa totalizante (ou mesmo totalitária) de construção de um mercado mundial autorregulado e autorregulador, uma espécie de “mão invisível” mundial, para fazer jus aos diletos discípulos de Smith e de Hayek.. Como diz o próprio:
“Nas circunstâncias actuais, uma estratégia que aposta numa democracia pós-nacional, na sequência funcionalista do progresso capitalista, não serve senão os interesses dos engenheiros sociais de um capitalismo de mercado global e autorregulador; a crise de 2008 constituiu uma antevisão daquilo que este mercado pode provocar” (Streeck, 2013: 274).
Mas Streeck acaba por citar (favoravelmente) uma interessante resposta de Juergen Habermas relativa ao actual panorama crítico da União no sentido de uma abertura no plano do mercado, mas também de uma evolução política com um nível mais elevado e alargado de integração social:
Uma “dinâmica capitalista (…) que pode ser descrita como uma interação entre uma abertura forçada em termos funcionais e um fecho integrador do ponto de vista social a um nível cada vez mais alto”.
É claro que quem conhece a obra de Habermas sabe que se trata de fazer interagir de forma mais intensa a integração sistémica, no plano económico-financeiro, com a integração social, mas agora num plano pós-nacional (de cidadania e institucional), desencadeando um novo e mais alargado processo de relegitimação e integração social. Esta perspectiva é, no meu entendimento, a única que poderá responder à actual crise europeia. E, na verdade, Habermas, num ensaio publicado emMaio de 2013, na Revista alemã “Blätter für Deutsche und Internationale Politik” (Habermas, 2013), critica exaustivamente a posição de Streeck, acusando-o de querer, contraditoriamente, responder com soluções nacionais a uma crise que está centrada em mercados irreversivelmente globalizados:
“não é o reforço democrático de uma união europeia até agora construída só a metade a dever recolocar num equilíbrio democrático a relação tresloucada entre política e mercado” – diz Habermas, criticamente, referindo-se à posição de Streeck. “Wolfgang Streek não se propõe completar a construção europeia, mas sim desmontá-la” – continua; “quer regressar às fortalezas nacionais dos anos sessenta e setenta, com o objectivo de ‘defender e reparar tanto quanto possível os restos daquelas instituições políticas graças às quais talvez se pudesse modificar e substituir a justiça do mercado com a justiça social’. Esta opção de nostálgico fechamento em concha na soberana impotência de nações já arrasadas é surpreendente se considerarmos as transformações epocais dos Estados nacionais que antes tinham os mercados territoriais ainda sob controlo e que, hoje, pelo contrário, estão reduzidos ao papel de autores enfraquecidos e inseridos, por sua vez, nos mercados globalizados” (Habermas, 2013).
A posição de Habermas é conhecida. E aqui parece haver um grande consenso: é preciso encontrar soluções políticas supranacionais para problemas globais. Romper com o desfasamento entre problemas globais e soluções nacionais. Esta é também a posição do neoconservador Fareed Zakaria, no seu famoso “Capitalist Manifesto: Greed is Good”. E a do francês e ex-colaborador de Pierre Mauroy, Jean Peyrelevade: “a política de que temos necessidade para regular a mundialização deve ser, ela própria, mundializada” – (2008: 104; a obra é de 2005, muito anterior à crise de 2008) (3).
A posição de Habermas, no plano europeu, aponta, de facto, para um reforço da União política europeia, chegando a propor, por um lado, (a) “uma moldura institucional para uma política europeia fiscal, económica e social comum que pudesse criar as condições necessárias para a possível superação dos limites estruturais de uma união monetária imperfeita”; e, por outro, (b) uma “participação paritária do Parlamento e do Conselho na legislação e uma Comissão que responda a ambas as instituições” (Habermas, 2013).
Os cidadãos, neste processo, desempenhariam um importante papel quer enquanto membros dos Estados nacionais quer enquanto membros da União Europeia. Esta posição, está bem de ver, não confina nem a explicação nem a solução da crise em mecanismos meramente sistémicos (de controlo) ou, mais especificamente, a puros mecanismos de carácter financeiro, ainda por cima centrados numa solução política e financeira nacional, como propõe Streeck. Ela não prescinde da política e da integração social, ou seja, na resolução da crise é imprescindível a intervenção da componente subjectiva das sociedades, seja no plano da cidadania seja no plano institucional. Teoricamente, Habermas considera que o conceito de crise engloba necessariamente uma componente subjectiva (4). De resto, sabemos que a crise de ’29 e a subsequente Grande Depressão não foram corrigidas somente com mecanismos sistémicos e financeiros, mas sim com um relançamento da capacidade política de intervenção do Estado, designadamente com o New Deal. Embora saibamos também que, pelo menos na interpretação de Peyrelevade, “os Estados Unidos chegaram mais cedo que nós a um capitalismo amplamente desintermediado”, graças precisamente à crise de 1929. “O desmoronar da Bolsa causou a falência de centenas de bancos que tinham considerado boa ideia investir nela as poupanças que lhes estavam confiadas e, depois, por ricochete, a ruína de milhões de depositantes”. As estruturas de intermediação falharam e, por isso, acabaram por antecipar o nascimento nos Estados Unidos do capitalismo directo, a entrada em cena no mercado financeiro dos detentores individuais de capital, que está na origem do actual modelo financeiro mundial (2008: 36-37).
De qualquer modo – e não obstante a solução proposta por Streeck, aqui criticada, por errada -, temos, portanto, um primeiro modelo explicativo da crise, o do Estado fiscal que se torna Estado endividado e que, assim, altera profundamente a estrutura de suporte do edifício democrático, transferindo soberania do cidadão para o credor e transformando, deste modo, os mandatos de natureza política em mandatos de natureza financeira. Sabemos bem o que é isso por via da entrada da Troika no nosso País onde o programa de governo pós-eleições, em Junho de 2011, ficou consignado em memorando de natureza financeira negociado com os credores. Houve eleições, sim, para os representantes, mas o programa de governo dos partidos candidatos ao executivo (PS e PSD) até poderia ter sido exactamente o mesmo memorando, porque seria esse a ser realmente executado.
Este modelo de análise tem a virtude de conjugar conceptualmente política e economia na óptica da tendência de confiscação daquela por esta, lá onde, como muito bem demonstra Peyrelevade (2008), a emergência dos mercados financeiros globalizados leva à confiscação da soberania de um cidadão doravante politicamente impotente perante a força sistémica dos mercados globais, pelo menos enquanto não dispuser de equivalentes alavancas políticas supranacionais com suficiente força para substituir, num plano mais elevado, aquela que foi a tradicional regulação centrada no poder dos velhos Estados nacionais territoriais. Peyrelevade expõe o problema de forma muito interessante e convincente:
“Assim, o cidadão, cuja existência está ligada ao território nacional, é vítima da sua própria esquizofrenia, dado que as suas escolhas, na qualidade de consumidor ou, se for esse o caso, de acionista, alimentam e reforçam um capitalismo mundializado que implica a diminuição da sua própria soberania. (…) Exemplo puro de dissociação individual, o desejo de enriquecimento que têm leva-os a repudiar a sua própria cidadania” (2008: 118; itálico meu).
GREED IS GOOD
FAREED ZAKARIA tem da crise uma visão optimista. Apesar de tudo, ainda iremos querer, no futuro, mais capitalismo. Mas não centrado no Estado-Nação. Porque a crise não se resolve regressando a uma soberania nacional que já acabou de fazer todo aquele percurso que iniciou com a construção dos Estados nacionais, no início da Modernidade. Na verdade, esta crise é também resultado de uma globalização que não conhece ainda meios (políticos e institucionais) de autorregulação e de governo, tal como ele defende no seu ensaio “A Capitalist Manifesto: Greed is Good” (2009). Diz-nos Zakaria:
“More, the fundamental crisis we face is of globalization itself. We have globalized the economies of nations. Trade, travel and tourism are bringing people together. Technology has created worldwide supply chains, companies and costumers. But our politics remains resolutely national. This tension is at the heart of the many crashes of this era – a mismatch between interconnected economies that are producing global problems but no matching political process that can effect global solutions”.
E esta ideia colhe uma das principais questões que se pode pôr hoje a propósito da própria ideia de crise. O desfasamento entre a dimensão do problema e a dimensão da solução. Ou o desfasamento entre o patamar da crise e o patamar da solução.
Em primeiro lugar, é importante perceber como uma crise que surgiu, tal como já foi referido, nos EUA, em 2008, acaba por ser uma crise que afecta ou implica o Mundo inteiro; em segundo lugar, é muito importante aquilo que Zakaria diz quanto ao facto de, apesar de ser uma crise global, apesar das “empresas e dos clientes” serem do mundo inteiro, a resolução política se manter a um nível nacional ou local; ou, então, como, paradoxalmente, o próprio Streeck acaba por propor como solução aquilo que, na realidade, se configura como o problema. Na verdade, parece ser difícil resolver um problema global, e criado por todos, sem ser de uma forma igualmente forte e institucionalmente concertada, mas sobretudo sem ser através de mecanismos adequados, que só podem ser supranacionais. Um problema global exige uma solução global. Mas Zakaria avança mais na sua reflexão sobre esta crise no seu todo e toca em pontos fundamentais: a instabilidade como condição inerente ao capitalismo e/ou à evolução, logo, como condição inerente à crise; e a moralidade, ou a falta dela, como possível razão de escolhas que agravam a própria crise. Este último aspecto, mas também aquela dimensão subjectiva da crise, de que fala Habermas em Spaetkapitalismus, ficou bem patente na crise de ’29, tanto do lado dos economistas e dos jornalistas (muitos), como do lado dos políticos (que quiseram lavar as mãos deste processo, como se vê claramente na descrição milimétrica que nos oferece Galbraith na obra de 1954) ou do lado dos banqueiros, financeiros e especuladores. Zakaria acaba mesmo o seu ensaio com uma frase elucidativa em contexto de crise, ao dizer que “há muitas coisas para resolver, no sistema internacional, nos governos nacionais e nas próprias empresas, mas a maior mudança tem de ser em cada um de nós”.
Em boa verdade, e sem colocar a questão na ótica de uma ruptura radical do sistema, “do que se trata, de facto, é de uma profunda mudança de paradigma em todas as esferas da sociedade” (Santos, 2013). Ou seja, a crise de 2008 só é compreensível no quadro de uma mudança de paradigmas. Incluído o civilizacional e o cultural. E não só o político, o jurídico, o económico, o tecnológico ou o comunicacional. Uma compreensão de fundo capaz de nos ajudar a fazer face à crise, já que ela está inscrita no nosso próprio processo evolutivo. Capaz, pois, de nos ajudar a sobreviver no interior dela, não a olhando de forma negativa. Bem pelo contrário, olhando para ela de forma positiva. Na verdade, quando se fala em “crise de crescimento” ou em “resultados do sucesso”, como faz Fareed Zakaria no seu ensaio, é disso mesmo que se fala: da crise que nos faz crescer. Outra coisa é a ruptura radical, para a qual aponta a teoria marxista da crise e de que são exemplo a ruptura com o Ancien Regime e, em parte, a Revolução Soviética, a famosa “revolução contra o capital” (de Marx), na expressão de Antonio Gramsci. Só que esta acabaria por ser reabsorvida setenta anos depois, em 1989.
Diz ele, Zakaria (5) (mas sobre o assunto também Galbraith reflecte no seu livro “ The Culture of Contentment”), que os bons tempos levam sempre a uma espécie de auto-satisfação que privilegia o bem-estar e o lucro imediatos. E também que, de facto, se estava num período em que se verificara um enorme crescimento: num longo período de estabilidade política, a economia global cresceu exponencialmente, duplicando entre 1999 e 2008 e tendo, entre 2006 e 2007, 124 países crescido ao ritmo de 4% ao ano, ou mais; a inflação baixou para níveis jamais vistos; as recessões passaram a ser controladas muito mais rapidamente do que outrora; milhões de pessoas foram retiradas da pobreza; deu-se a revolução da informação e da Internet; emergiram novas potências económicas, como a China, gerando novas interdependências financeiras com fortes consequências no crédito ao consumo (designadamente nos USA; veja-se os índices apontados por Peyrelevade, 2008: 74-75).
Tudo isto viria a gerar efeitos em cadeia para os quais não havia mecanismos de gestão e de controlo. Zakaria usa a metáfora do carro sofisticado que já ninguém sabe conduzir. Daqui, o desastre ou, melhor, a crise. Daqui também que ainda não se tenham verificado respostas eficazes para uma crise que acabou por se revelar como, certamente, crise financeira, mas também da democracia, da globalização e mesmo da ética. Auto-satisfação, como resultado do crescimento, que produziu lassidão, sofreguidão e processos especulativos em escala alargada? Certamente. Mas o que está em jogo é provavelmente muito mais do que isto. O que está em jogo são os vários paradigmas que enquadram o nosso funcionamento societário e que, em grande parte, são subsidiários da revolução moderna que se iniciou no século XVIII ou mesmo com o próprio Renascimento e as Revoluções científicas que se lhe seguiram. A questão que se põe a propósito deste ensaio de Zakaria é a de saber se será verdade que “daqui por alguns anos, por estranho que isso possa parecer, nós podemos todos achar que estamos ávidos de (mais) capitalismo, não de menos”. Zakaria está certamente a pensar que, tal como a democracia, o capitalismo é o pior dos sistemas, à excepção de todos os outros. Não acontecerá, pois, na sua óptica, uma derrocada do capitalismo como fora profetizado pela teoria marxista. Como sabemos, o que viria a acontecer seria precisamente o contrário, a derrocada do socialismo de Estado e a sua reabsorção histórica. Mas de que capitalismo estamos a falar, do capitalismo total, financeiro, accionista, daquele que se separou da economia real, passando, depois, a dirigi-la de acordo com as suas próprias performances em matéria de lucro? Daquele “capitalismo sem projecto” (Patrick Artus) que se identifica exclusivamente com o lucro e, se possível, com o lucro imediato, constante e progressivo (Peyrelevade, 2008: 90)? Se, com a globalização, for este o capitalismo que acabará por se impor então o que acontecerá será a sua libertação dos vínculos da política, do Estado, do trabalho e, finalmente, da própria cidadania, que acabará substituída pela soberania dos accionistas, dos credores e dos consumidores de produtos financeiros (veja-se Beck, 1999: 14-15).
CONCLUSÃO - A CRISE E O RISCO
VEJAMOS, agora, associado ao conceito de globalização, o conceito de crise tal como formulado por Ulrich Beck. Verificamos, que, ao referir-se à evolução da primeira modernidade que teve lugar contemporaneamente à revolução industrial, Beck fala de “modernidade reflexiva”, de “segunda modernidade” e de “sociedade de risco”. De algum modo, assume uma certa continuidade na evolução dos tempos, mas define novas características para estes tempos. Trata-se da fase da globalização e da “sociedade de risco”. A ideia de risco tem, por isso, para Beck uma função equivalente à própria ideia de Crise. Ou melhor, substitui-a. E está associada, neste caso, à crise irreversível do Estado-Nação e à globalização (não fala ele precisamente disso num livro de 2007, publicado pela Suhrkamp, ou seja, de Weltrisikogesellschaft?). Risco difere de crise – ou dá-lhe um novo sentido, como creio – e difere também de catástrofe, na medida em que o risco só ainda anuncia a possibilidade de uma catástrofe futura. Que poderá ser evitada. Se o risco for submetido ao crivo da razão crítica. E se para situações de risco não forem invocadas, pelos imobilistas, as eternas normas constitucionais, previstas para situações de normalidade e não de excepção (6). Vejamos, com Ulrich Beck:
“Normalmente, fala-se de ‘crise’, mas aqui, na maior parte das vezes, fala-se de ‘risco’ – qual é a relação entre estes dois conceitos? O conceito de ‘risco da Europa’, que introduzi aqui, inclui o conceito de ‘crise do euro’ (ou ‘crise da Europa’), mas vai essencialmente mais longe em três pontos: primeiro, o conceito de crise encobre a diferença entre o risco (encenado), enquanto futuro presente, e a catástrofe, enquanto presente futuro (sobre o qual não podemos, em última análise, saber nada). O discurso sobre a crise ‘ontologiza’ simultaneamente a diferença entre catástrofe antecipada e actual, aqui no centro das atenções. Segundo, hoje, a utilização do conceito de crise ilude a possibilidade de, no processo de resolução da crise, regressar ao status quo ante. Pelo contrário, o conceito de risco revela a ‘diferença secular’ entre a ameaça global e as possíveis respostas disponíveis no quadro da política dos Estados nacionais. No entanto, com isto afirma-se, simultaneamente – e este é o terceiro ponto – , que o risco, tal como o entendo, não representa uma exceção – como a crise -, mas torna-se uma situação normal e, portanto, o motor de uma transformação maior da sociedade e do ‘político’” (Beck, 2013: 41, nota 24).
Esta passagem é muito elucidativa. Da crise ao risco. A crise representa já um estado de facto, uma excepção, uma negatividade em acto. As crises são isso mesmo. São rupturas não só anunciadas, mas já em acto. Anunciam a morte do velho e o nascimento do novo. Mesmo que nem o velho morra completamente nem o novo se afirme como radicalmente diferente. Não anulam o paradigma dominante em curso. E a verdade é que mesmo hoje, quando nos referimos aos novos tempos, falamos de “pós-modernidade”, de “pós-industrial”, de “segunda modernidade”, de “modernidade reflexiva”. As crises dão lugar a profundas transformações sem anular os respectivos paradigmas. Neste sentido, até pode parecer que só houve verdadeiramente uma Crise com dimensão histórico-ontológica. A que inaugurou a Modernidade e a civilização Industrial, tendo representado as graves crises que lhe sobrevieram simples ajustamentos tectónicos. Intensos, mas ajustamentos. Aquela foi uma Crise com dimensão ontológica, foi uma ruptura de paradigma. Da sociedade rural passou-se à sociedade industrial. Da comunidade passou-se à sociedade. Ela é a Crise por antonomásia e a ela nem sequer se compara a Revolução Soviética porque esta acabaria, setenta anos depois, por ser absorvida e, logo, relativizada.
Ora, o conceito de risco exprime bem a consequência da dinâmica propulsora e decisiva da Crise, agora entendida neste sentido radical. Exprime (ao contrário do conceito de crise) a diferença entre catástrofe possível e risco sofrido; exprime a possibilidade de regresso ao status quo ante; e exprime, também, não uma excepção, mas uma dinâmica permanente que nos põe em situação de vigilância crítica. O risco e a crítica convivem. A ideia de risco aproxima-nos, por isso, dessa ideia avançada, na senda da revolução iluminista, por Koselleck, da íntima conexão entre crítica e crise, neste caso entre risco e crítica. A ideia de excepcionalidade da crise cede, assim, o lugar à normalidade do risco (Beck, 2012: 2013). Risco de crise. Crise antecipada como ameaça permanente. Numa leitura mais profunda da ideia de excepcionalidade da crise poderíamos admitir a inevitabilidade da revolução, de um período de ausência da lei, de anomia, de irrupção dogmática da decisão política, de fim da constitucionalidade da vida colectiva regulada (Agamben, 2010). Com a ideia de normalidade do risco não cabe admitir esse tipo de excepcionalidade, mas tão-só a ideia de vigilância crítica. Vigilância inspirada pela razão crítica. A ideia de risco parece ser, pois, mais funcional à globalização do que a ideia de crise.
Com efeito, os autores em referência, incluído Claus Offe, assumem mais a ideia de risco do que a de crise, admitindo que haverá soluções para pôr fim às crises e evitar o risco, esse sim, de uma catástrofe (7), seja com a queda do euro e da União Europeia, na forma de uma crise sem precedentes, sobretudo pelas suas características e pelo seu impacto mundial, seja na forma de triunfo final do capitalismo accionista, com a definitiva sobreposição do consumidor e accionista ao cidadão, com a dissociação definitiva entre democracia e capitalismo e a transformação daquela em puro simulacro político (8) e com a atrofia e a submissão da economia real ao diktat do capital financeiro, um “capitalismo sem projecto”, porque obcecado exclusivamente pelo lucro.
Algumas das posições de partida são partilhadas por Habermas, designadamente, como vimos, no texto de crítica a Streeck, já referido, Beck, Offe ou Peyrelevade: a) que a globalização não tem regresso possível (ao status quo ante) e que, portanto, não é possível responder aos seus desafios com soluções estranhas à sua própria lógica, ou seja, sem ser através de mecanismos supranacionais; b) que o projecto europeu é essencial para responder a estes riscos, designadamente desenvolvendo mecanismos de integração económico-financeira comunitários (“under the pressure of the crisis, this has now become an urgent emergency measure, hastening us towards the establishment of stronger fiscal and economic powers at the EU level”, diz Claus Offe, 2013: 4); c) que é necessário reintroduzir a política lá onde ela parece estar cada vez mais capturada pelos mercados financeiros internacionais (“o objectivo não é o de suprimir o mercado, mas o de voltar a incluí-lo no campo do político, de o integrar num espaço de cidadania”, que não exclusivamente num espaço de consumo accionista – Peyrelevade, 2008: 120); d) que, a par de uma integração institucional, top down, se proceda a uma integração, down top, europeia, de uma cidadania que transborda largamente o actual quadro institucional, ou melhor, que ainda não se encaixa perfeitamente no quadro institucional da União e que tem necessidade de se reconhecer como efectiva cidadania europeia:
“por um lado”, diz Beck, “temos a casa abstrata das instituições europeias, mas em cujos quartos não vivem pessoas. Do outro lado, estão os indivíduos (jovens) que vivem a Europa, mas não se querem mudar para a casa construída para eles em Bruxelas (…)”; “eles (vários europeus de renome) (…) pensam que a democracia europeia tem de crescer a partir da base, porque compreendem que não existe um “povo europeu”, mas sim uma Europa de indivíduos que ainda têm de se transformar no soberano da democracia europeia” (Beck, 2013: 96 e 102).
Aqui fala-se de risco e de catástrofe; fala-se de regresso ao status quo ante e de triunfo do capitalismo accionista, mas também se fala (Peyrelevade) da ausência de um rosto a combater como adversário, de um capitalismo anónimo e de um crescimento assimétrico (do capital accionista) impossível de manter ao ritmo de crescimento que tem vindo a manter. Fala-se de tudo isto e também se fala de crise do euro, da União e do sistema capitalista mundial. Mas não se vislumbra uma Crise como a que inaugurou a Modernidade. Porque as variáveis são diferentes, porque o substracto ontológico é diferente, porque pela própria natureza da crise os poderes mundiais não precisam de recorrer à lógica antagonista da guerra e da revolução, porque os Estados nacionais já estão naturalmente desapossados do poder, porque do que se trata não é de destruir, mas de construir para prevenir o risco de catástrofe e de desagregação. A crise tem um novo rosto, para o qual também a palavra risco pode servir. Todas as crises contêm uma dimensão de risco, embora nem todas possam anunciar uma possível catástrofe. Uma Crise como a da modernidade talvez não aconteça não só porque uma crise radical destruiria o planeta, mas também porque mudanças profundas e significativas poderão acontecer, sim, mas no interior de um mesmo paradigma, porque, na realidade, do ponto de vista ideal já se avançou tanto que o que se impõe fazer é simplesmente concretizar a melhor tradição ideal e expulsar os desvios de que história já nos deu conta durante o atormentado século XX.
NOTAS
- Isto não significa que partilhe da perspectiva de Streeck, que assume, nesta obra, uma posição completamente diferente da que advogo, ou seja, a necessidade de um aprofundamento político da estrutura institucional da União Europeia e de uma constituição para a União.
- Veja-se, a este propósito, a posição do Prémio Nobel Friedrich von Hayek, e pai dos neoliberais, sobre a desvalorização do próprio conceito de justiça social (Hayek, 1978), que ele próprio afirma nem saber o que é.
- A obra é de 2005, muito anterior à crise actual.
- Sobre o conceito de crise. Olhemos para a origem da palavra crise. A palavra crise vem do grego: krísis (-eôs): 1. separação, discórdia, disputa; 2. Escolha; 3. decisão, êxito, sucesso; decisão: a) decisão judiciária; pôr um processo a alguém, juízo, condenação; b) tribunal, direito, castigo; c) crítica estética. São estes os significados que encontramos num bom dicionário de grego antigo. A palavra (um substantivo) vem do verbo krínô e tem a ver com: separar, dividir, decidir, julgar, condenar. Poder-se-ia dizer que, no sentido etimológico, há uma ideia de rotura, de separação, de decisão com reais efeitos, mas também de intervenção da vontade, da razão e da consciência (podendo implicar juízos de valor, como veremos). E é na decisão que separa, com intervenção da razão, da consciência e da vontade, ou seja, na intervenção do elemento subjectivo, que assentará a ideia de Crise, muito ligada à ideia de revolução. Num importante livro de 1973, Legitimationsprobleme im Spaetkapitalismus (Habermas, 1973), Juergen Habermas analisa o conceito de crise nas suas várias dimensões, desde a dimensão simplesmente médica, onde a crise é provocada por algo que é exterior ao paciente, algo objectivo sobre o qual ele não pode influir, por agentes externos. E, todavia, essa crise não é separável da visão interna de quem a ela está sujeito. Ou seja: com as crises, nós ligamos a ideia de uma potência objectiva que subtrai a um sujeito uma parte da soberania que lhe é normalmente garantida. E, todavia, no seu entendimento, a ideia de crise só é compreensível se incluir a percepção dela por parte dos agentes a ela sujeitos, mesmo que não tenham poder para interferir nela enquanto provocada por agentes externos. Com efeito, segundo Habermas, a ideia de crise na dramaturgia clássica – de Aristóteles a Hegel – já implica a presença de sujeitos, de protagonistas. A crise, na verdade, só se configura como tal quando, de algum modo, os que a ela estão sujeitos têm dela consciência, mesmo que a sofram sem terem capacidade para nela interferir. Esta variável subjectiva torna-se ainda mais decisiva no plano histórico-social. Trata-se aqui da relação entre consciência-vontade e estados de facto. Pode não haver ligação, mas estes elementos têm de estar presentes na Crise e na própria ideia de Crise. Habermas: “Die Krise ist nicht von der Innenansicht dessen zu loesen, der ihr ausgeliefert ist” (Habermas, 1973: 9). “Mit Krisen verbinden wir die Vorstellung einer objektiven Gewalt, die einem Subjekt ein Stueck Souveraenitaet entzieht, die ihm normalerweise zusteht” (1973: 10).
- Sigo aqui a interpretação de Santos (2013: 43-45).
- Sobre a complexidade do estado de excepção e seu enquadramento constitucional veja-se o estimulante ensaio de Giorgio Agamben (2010).
- “Nobody can be sure what will happen if nothing is done, if there is no debt−sharing agreement or if no other variant of “northern” subsidies to stabilize the periphery is implemented”, diz Claus Offe. “The most recent prognoses from the Bertelsmann Foundation” – continua – “indicate catastrophe: a domino effect racing through the whole European Mediterranean region, including France and possibly even Belgium, with devastating economic effects worldwide and particularly across Europe” (Offe, 2013: 5; itálico nosso).
- “A central problem for the euro rescue scheme” – diz Claus Offe – “is that the banking crisis became a state budgetary crisis, which then became the crisis of European integration we have today. This in turn is a crisis of renationalizing our sense of solidarity, a crisis in which the rich countries of Europe impose saving packages upon their poorer neighbours which are supposed to win back the confidence of the finance industries. This flies in the face of past experience, all of which tells us that austerity is a highly toxic cure that can kill the patient in case of overdose, instead of stimulating growth and expanding the tax base. Thus the weakest members of the eurozone (and in the long run, all members) become ever more dependent on the finance industry, which in turn reacts to weak growth by imposing heavier and ever more onerous interest rates − a vicious circle” (Offe, 2013: 7; itálico nosso). E ainda: “If the eurozone were actually to dissolve − in an “orderly” or in a chaotic manner − we would embark upon a gigantic negative−sum game: all sides lose” (Offe, 2013: 7 e 12; itálico meu).
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, G. (2010). Estado de Excepção. Lisboa: Edições 70.
BECK, U. (2013). A Europa Alemã. De Maquiavel a “Merkievel”: as estratégias de poder na crise do Euro. Lisboa: Edições 70.
BECK, U. (1999). Che cos’è la globalizzazione, Roma, Carocci.
BECK, U. (1991). Politik in der Risikogesellschaft. Essays
und Analyse. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
GALBRAITH, J. K. (1954). A crise económica de 1929. Lisboa: Dom Quixote.
GALBRAITH, J. K. (1993). A cultura do contentamento. Mem Martins: Europa-América.
GRAMSCI, A. (1958). Scritti giovanili. Torino: Einaudi.
HABERMAS, J. (2012). Uma Constituição para a Europa. Lisboa: Edições 70.
HABERMAS, J. (2013). “Democrazia o capitalismo? La miseria capitalistica di una società planetaria integrata economicamente e frantumata in Stati nazionali”. In: http://www.resetdoc.org/story/00000022342
HABERMAS, J. (1973). Legitimationsprobleme im Spaetkapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
HAYEK, F. v. (1978). “Liberalismo”. In Enciclopedia del Novecento. Istituto dell’Enciclopedia Italiana. Roma. Vol. III.
KLEIN, N. (2001). No Logo. Milano: Baldini&Castoldi.
KOSELLECK, R. (1988) Critique and Crisis – Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society. Cambridge: The MIT Press.
OFFE, C. (2013). “The Europe in the trap”. http://www.eurozine.com/pdf/2013-02-06-offe-en.pdf
PEYRELEVADE, J. (2008). O capitalismo total. Lisboa: Vega.
SANTOS, J. A. (2001). “Cosmopolis. Categorias para uma nova política”. In Vários (2001: 61-89). Agora em nova edição revista e reescrita, em www.tendencias21.net (blog: comunicacion/es).
SANTOS, J. A. (2013). À esquerda da crise. Lisboa: Vega.
ZAKARIA, Fareed (2009). “Capitalist Manifesto. Greed is good”. In Newsweek, Junho de 2009. www.newsweek.com .
ZUBOFF, S. (2020). A Era do Capitalismo da Vigilância. Lisboa: Relógio d’Água. #Jas@02-2022.
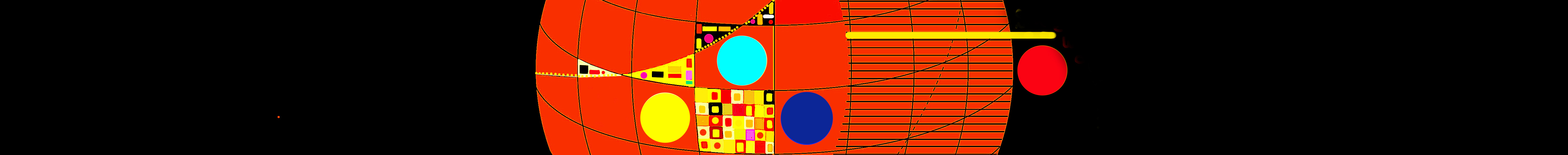
A RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDOS EM PORTUGAL
IDENTIDADE POLÍTICA E CIDADANIA
Por João de Almeida Santos
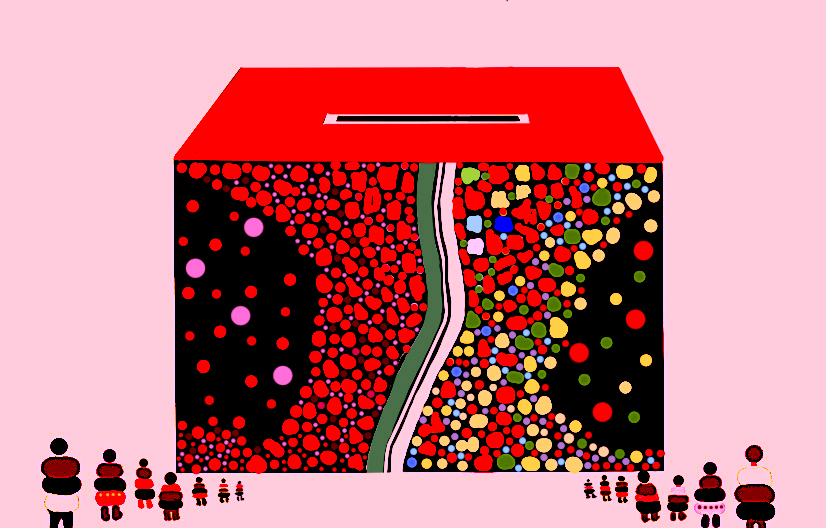
“Democracia”. Jas. 02.2022
OLHANDO COM OBJECTIVIDADE para os dados que resultaram das recentes eleições de 2022, o que se constata é que estamos realmente perante uma recomposição do sistema de partidos, em Portugal, desde as eleições de 2015, com a entrada em cena do PAN. O processo iniciara-se antes, com o aparecimento do Bloco de Esquerda (BE), em 1999, tendo nas eleições desse ano conseguido dois deputados. Vinte e três anos depois, o panorama é muito diferente porque saíram do Parlamento o CDS e o PEV e apareceram (nas eleições de 2019) duas formações políticas de direita com representação parlamentar, o CHEGA (12 deputados e 7, 15%) e a Iniciativa Liberal (IL; 8 deputados e 4,9%), enquanto, à esquerda, o LIVRE consegue (em 2019 e em 2022) um deputado e o PCP e o BE caem drasticamente (respectivamente para 4,39%, com 6 deputados, e 4,46%, com 5 deputados). O PS consegue uma maioria absoluta (41,68% e, provavelmente, 119 ou 120 deputados), com um sistema eleitoral proporcional puro, e o PSD fica reduzido àquilo que é o seu núcleo duro eleitoral (27,80%, com, provavelmente, 77 ou 78 deputados). No momento em que escrevo falta eleger os quatro deputados dos círculos eleitorais do estrangeiro.
FRAGMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PARTIDOS
NA EUROPA, a recomposição dos sistemas de partidos há muito que aconteceu, com uma sua forte fragmentação: Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha, só para citar os maiores países. Esta tendência parece ter vindo para ficar, invertendo aquela que foi a tendência dominante (dois partidos alternativos de poder) que se verificou a seguir à guerra e até aos anos noventa. Várias são as razões que o explicam, mas poderemos dizer que isso aconteceu sobretudo devido a) a uma progressiva crise de representação por parte do establishment político e, ainda, b) à revolução das TICs e da rede, em geral, c) à alteração do modelo de participação baseado no sentimento de pertença orgânica e ideológica, d) ao empoderamento político e comunicacional da cidadania, graças às TICs e à expansão dos meios de comunicação, e, finalmente, e) à globalização de processos e à intensificação de movimentos migratórios que produziram efeitos internos absolutamente disruptivos (veja-se os casos inglês, Brexit, e italiano). Estes factores parece darem a esta tendência uma perdurabilidade inquestionável, fragmentando consistentemente os sistemas de partidos.
O SISTEMA DE PARTIDOS EM PORTUGAL
E PORTUGAL? Também aqui está a acontecer uma fragmentação e uma recomposição? Durante décadas eram quatro as formações políticas com representação parlamentar (exceptuado o período do PRD). Mas, neste século (mais precisamente, a partir de Outubro de 1999), iniciou-se, com o Bloco de Esquerda, um processo que haveria de levar à actual configuração de oito partidos com representação parlamentar, mas ainda com dois partidos com uma fortíssima maioria qualificada (cerca de 85% da representação parlamentar). Dir-se-ia, pois, que esta não é uma fragmentação. E é verdade, numericamente falando. E, todavia, há já no Parlamento uma representação política que, como na tendência europeia, no futuro poderá vir, sim, redistribuir os mandatos de forma menos desigual entre os partidos. Em primeiro lugar, à direita, com a extrema-direita já consistentemente representada e com a tendência liberal em crescimento. Ambas as tendências em dois anos cresceram 18 deputados. O PSD, uma força política “catch-all”, sob a sigla PPD, com uma clara matriz interclassista e de largo espectro na área do centro-direita, em aliança regular com o CDS para a formação de maiorias, domina ainda claramente a direita. Mas este partido, que com Rui Rio assumiu uma configuração exclusivamente social-democrata, deverá provavelmente ter de fazer reset para reiniciar como PPD, assumindo aquelas que eram as três fontes de que falava Pacheco Pereira nos anos noventa, quando era um seu alto dirigente: personalista, liberal-democrática e social-democrata e reformista. E, todavia, verdadeiramente, não se sabe se irá a tempo, definidas que estão as outras tendências de direita, sem que se veja agora que espaço ideológico irá ocupar. Creio mesmo que só lhe restará o espaço neoliberal (ou liberal-democrático, como na altura defendi, em relação ao PSD de Cavaco Silva). Este foi o espaço que Passos Coelho assumiu de forma indiscutível, deixando uma tíbia representação democrata-cristã ao CDS, agora em vias de extinção. Verdadeiramente, com Paulo Portas, o CDS era mais um partido-catavento do que um partido democrata-cristão. Mas também é verdade que o PSD tem uma forte vantagem competitiva em relação às outras formações políticas de direita, ou seja, tem um corpo orgânico muito vasto por via da sua presença no espaço político autárquico e em organizações da sociedade civil, podendo recomeçar daí, retirando espaço às duas outras formações de direita. Mas para isso é fundamental que resolva um problema antigo: o da sua identidade política e ideológica (que certamente não se resolve com programas de 164 páginas). Se não o resolver iremos assistir a uma efectiva e mais consistente fragmentação da direita, com uma mais equilibrada e distribuída representação parlamentar. Um PSD social-democrata terá sempre e cada vez mais dificuldade em conseguir maiorias parlamentares, até porque este espaço está ocupado pelo PS, mas também porque desse modo continuará a deixar em aberto a representação de um vasto sector de direita que não se sentirá representado por esta mundividência política. A questão que se volta a pôr, e agora com mais acuidade, é esta: que nome e que coisa para o nome? É este o máximo desafio que se porá à nova liderança pós-Rui Rio. De resto, o nome até já existe – PPD.
À ESQUERDA, o PS tem vindo a manter uma faixa consistente de eleitorado, exibindo entre 2002 e 2022 uma média de cerca de 37.5%, enquanto o PSD exibe uma média de cerca de 33,6% (em 2015, em percentagem conjunta com o CDS). Estamos a falar apenas de quatros pontos de diferença em média entre as duas principais formações políticas, durante 20 anos, mas agora com, à direita do PSD, dois grupos parlamentares com vinte deputados (ou 21) e, à esquerda do PS, dois grupos parlamentares e um partido fragilizados e com um total de 12 (ou 13, dependendo da posição do PAN) deputados.
Perante esta aritmética e tendo em conta este arco de 20 anos – e agora com a maioria absoluta do PS – não é ainda possível falar de fragmentação do sistema de partidos, dada a reduzida dimensão da representação parlamentar dos partidos à direita do PSD e à esquerda do PS. Mas o caso mudará realmente de figura se o PSD não clarificar a sua identidade político-ideológica, repetindo-se e consolidando-se a tendência de reforço dos partidos à sua direita e, à esquerda, o PCP e o BE recuperarem, como já aconteceu, o seu eleitorado e os seus anteriores grupos parlamentares, o que não deixa de ser plausível, se estes partidos definirem bem e com competência o seu espaço político de afirmação eleitoral. Neste caso, estaríamos já a falar de uma representação parlamentar exterior aos partidos da alternância correspondente a cerca de 25% da representação parlamentar, uma presença significativa que, não rompendo ainda com a lógica da alternância, viria a condicionar decisivamente a formação das maiorias parlamentares.
Mesmo assim, o sistema manter-se-ia estável, só que a exigir a formação de alianças parlamentares para a formação dos executivos, sendo certo que o sistema proporcional não foi, de facto, pensado para proporcionar maiorias absolutas de um só partido. Outros sistemas eleitorais há que servem para isso. O que voltou a acontecer, com esta maioria absoluta do PS foi, uma vez mais, uma combinação excepcional de factores, aos quais não será estranha a Covid19, o efeito disruptivo das sondagens e o insistente alerta sobre um perigo fascista iminente.
IDENTIDADES POLÍTICAS
E, TODAVIA, no meu entendimento, o problema de fundo que afecta a política de hoje subsiste, ou seja, subsiste a necessidade de definir com rigor as identidades políticas dos partidos com vista à representação política da sociedade. O que ainda não aconteceu, mantendo-se todos os partidos num paradigma que, no meu entendimento, já não corresponde exactamente à nova cidadania nem às novas fracturas sociais. A sociedade mudou e os partidos têm que corresponder a essas mudanças e não só de forma instrumental para obtenção do consenso necessário à governação. Porque o processo político é mais denso, mais complexo e mais exigente. A mudança é necessária sobretudo para credibilizar a política e corresponder a uma nova e emergente identidade da cidadania. Esta identidade não se consegue determinar, de facto, a partir de programas com 164 ou 121 páginas (são as dimensões dos programas do PSD e do PS, respectivamente), que ninguém lê e que tendem a ser enormes repositórios de medidas formuladas com a linguagem estereotipada do management de última geração e das temáticas do politicamente correcto e onde cabe tudo, sim, mas de onde não se deduz com clareza, segurança e transparência o exacto perfil dos partidos. Um perfil claramente identificável pelo eleitorado para além do rosto do líder do momento. Mas este também não se pode definir este perfil negativamente, por exemplo, por oposição ao inimigo “externo” CHEGA, ao perigo iminente de fascismo ou do populismo de direita, ainda que desta vez tenha funcionado com grande eficácia (a favor do PS), ou por oposição ao inimigo comunista ou socialista (e afins) que quer roubar o que é teu. O muro de Berlim caiu, um deputado do VOX, Ignacio Gil Lázaro, é Vice-Presidente do Congresso dos Deputados de um país governado pelo governo socialista de Pedro Sánchez e, em Itália, Salvini, que foi Vice-Primeiro Ministro, hoje apoia o governo Draghi e o fascismo não tomou conta do Estado italiano. Este alarme social e político é manifestamente exagerado e até tem vindo a contribuir para pôr o CHEGA no topo da agenda, reforçando a sua capacidade polarizadora (como de resto se viu: em dois anos passa de 1 deputado para 12 deputados). E o facto é que a nova agenda anti-CHEGA a propósito do seu grupo parlamentar já está de novo a funcionar (e talvez de forma ainda mais intensa), contribuindo para o reforço da sua notoriedade e para a sua vitimização, gerando claros dividendos políticos.
Por outro lado, se parece ser claro que o PCP vive o dilema insuperável e irresolúvel da dicotomia oposição ou morte, estando a tornar-se cada vez mais tendencialmente residual (exibindo nos últimos 20 anos uma média de cerca de 7,9%, que passou para os 5,35% nas duas últimas eleições), mesmo lá onde era mais forte, nas autarquias, também aqui em acentuada perda, já o Bloco, que vive intensamente o drama de ser ao mesmo tempo um partido de oposição e um partido com aspirações a fazer parte da solução governativa (a ética da convicção conjugada com a ética da responsabilidade), permanece em forte ondulação eleitoral, sabendo-se que das duas vezes em que, com o seu voto, contribuiu decisivamente para a queda de governos do PS viu como consequência o seu eleitorado reduzir-se para metade. Duas vezes em circunstâncias idênticas, note-se. O que leva a pensar que há nos eleitorados do PS e do BE uma certa permeabilidade (reforçada pela caminhada conjunta de quatro anos), sobretudo quando se vislumbra um “inimigo” comum ou “externo”. De qualquer modo, é de registar e de sublinhar que, apesar de uma ligeira inflexão (de 10,6% passou para 9,5%) em relação a 2015, acabou por, em 2019, manter o grupo parlamentar de 19 deputados, não tendo sido penalizado pela sua contribuição para uma maioria de governo durante longos quatro anos. Considero, por isso, que o BE se encontra numa posição um pouco diferente da do PCP, ideologicamente menos rígida, historicamente menos marcada e mais permeável relativamente ao universo sociológico e eleitoral do PS, podendo assumir-se, sim, como força progressista de governo e disputar o consenso no terreno deste partido, respondendo politicamente de forma responsável, mais ágil e apelativa às expectativas de uma cidadania que está a mudar profundamente, ou seja, para além do quadro em que os partidos tradicionais a continuam a identificar. Não será, todavia, com soluções radicais ou com propostas populistas que este partido poderá recuperar do tombo eleitoral que sofreu nestas eleições. O que lhe restará fazer é reinventar-se, identificar com rigor o seu universo possível de representação e propor, sem tibiezas, aquilo que o PS não tem vindo a conseguir do ponto de vista da representação política, olhando de frente, olhos nos olhos, a classe média e as elites cultas deste país. O seu desafio também terá de ser o de uma maior presença no tecido da sociedade civil, nos organismos da sociedade civil, e no plano autárquico. O que ainda não acontece. De resto, na sua história recente (de cerca de 23 anos), o BE conseguiu atingir um nível de representação parlamentar significativo, embora gravemente afectado pelas duas quedas monumentais em 2011 (com o chumbo do PEC IV) e em 2022 (com o chumbo do orçamento de Estado). Rui Tavares, nesta campanha, talvez tenha dado o mote certo para um futuro mais consistente do BE. Mas creio também que o Bloco deveria estudar com rigor e abertura de espírito o funcionamento das grandes plataformas civis que têm vindo a mobilizar em vários países milhões de cidadãos em torno de causas. Refiro as plataformas Meetup (nos USA e em Itália, decisiva para a formação do M5S), Momentum (em Inglaterra, pelo Labour de Corbyn), mas sobretudo a MoveOn (nos Estados Unidos), que foi muito importante na eleição de Barack Obama, na defesa do Obamacare e na mobilização do apoio a Bernie Sanders. Estas plataformas serão cada vez mais importantes na mobilização bottom-up da cidadania, atendendo ao esgotamento do tradicional modelo de participação política. Este é um terreno virgem em Portugal e pelas afinidades que tem com a identidade do BE (movimento de causas) poderia constituir um importante motor de mobilização da cidadania e do seu próprio eleitorado. Mas o BE lá saberá as linhas com que se tece.
O PS
FINALMENTE, O PS. Este partido ocupa, desde sempre, uma posição política privilegiada, porque se situa entre visões mais extremadas, à esquerda e à direita. É o partido que estrutura o centro-esquerda e que constitui a chave da alternativa ao centro-direita e à direita. Digamos que, hoje, é o partido que procura representar a middle class (maioritária nas sociedades desenvolvidas) e por isso tende cada vez mais a assumir-se como um partido “catch-all”, com as potencialidades eleitorais e de acesso ao poder que estes partidos exibem, mas também com as conexas dificuldades de responderem agilmente e de forma criativa aos desafios que a mudança social lhes põe. São partidos do establishment, grandes e pesadas plataformas em progressiva perda de tensão ideológica (dada a dimensão do espectro eleitoral que aspiram a atingir e representar), vivem dos recursos que o exercício do poder de Estado lhes confere, subalternizam a clássica militância e ficam ancorados numa excessiva personalização da política na figura dos líderes. São partidos sobretudo eleitorais, profissionalizados, designadamente em regime de outsourcing. No caso do PS, estas características estão claramente presentes, mas a verdade é que o partido continua a mover-se no interior de uma mundividência orgânica que remete para a tradicional identidade social-democrata, como se ainda fosse um “partido-igreja”, de massas, no sentido clássico, com uma ideologia intensa, um corpo orgânico e territorial robusto e com uma visão comunitária da vida social, deixando a visão societária (centrada no indivíduo) na esfera de um liberalismo que continua a recusar porque considerado de direita. O exemplo mais interessante do que estou a dizer (dualidade na identidade ideológica) pode encontrar-se no velho Labour e no episódio da famosa Cláusula 4, só retirada dos cartões dos militantes nos anos noventa, com Tony Blair, e depois de um ano de luta interna. Uma tentativa que remontava já a meados dos anos 50, com a liderança de Gaitskell. Mantém-se, pois, no corpo do PS, uma ideologia orgânica que não coincide exactamente com aquela que é a sua real identidade de partido “catch-all”. A mesma dualidade que se verificava ainda durante as lideranças de Kinnock, Smith e Blair e que o New Labour procurou superar definitivamente (e sabemos no que viria a dar a regressão promovida pela liderança de Jeremy Corbyn). Este aspecto da visão societária (tenho bem presente a distinção de Toennies e de Weber, onde se distingue as afinidades naturais das afinidades electivas) é muito importante e significativo, como importante é a componente liberal, que sempre foi, ao mesmo tempo, recusada, mas, paradoxal e indirectamente, também exaltada, ao afirmar o primado do conceito de liberdade sobre o conceito de igualdade na democracia (sobretudo o PS de Mário Soares, mas é também essa a posição de Hans Kelsen) e a filiação do socialismo no iluminismo liberal. No caso português, e em concreto do PS de Mário Soares, esta proeminência do valor liberdade era devida, como se sabe, ao facto de vivermos em ditadura. Dedico algumas páginas a este balanceamento entre igualdade e liberdade no meu livro Paradoxos da Democracia (Lisboa, Fenda, 1998, pp.23-27), onde concluo pelo primado da igualdade, inspirando-me nas palavras de Cícero, lembradas por Kelsen em “Essência e Valor da Democracia” (de 1929), “si aequa non est, ne libertas quidem est“, mas lembro aqui o equilíbrio que o socialismo liberal sempre procurou estabelecer entre os valores da liberdade e da igualdade, como tentativa de síntese entre a tradição liberal e a tradição socialista. De resto, é bem conhecida esta tradição do socialismo liberal (também designada por liberal-socialismo) e dos seus inspiradores, do Stuart Mill de “On Liberty” aos Irmãos Rosselli, a Hobson, Hobhouse, Dewey, Norberto Bobbio, sendo, todavia, é verdade, mais vezes chamado à colação o velho Bernstein dos “Pressupostos do socialismo e as tarefas da social-democracia” (Stuttgart, Diez, 1899) do que esta tradição de inspiração liberal. O outro filão do liberalismo, que vai de Adam Smith a Friedrich Hayek e que também se filia no liberalismo político que governou no séc. XIX e no início do século XX, é, esse sim, um filão claramente de direita, que viria a ser assumido, em geral, pelos partidos liberais e, agora, aqui, entre nós, também pela IL. Este é, pois, um terreno em que o PS muito ganharia em clarificar a sua posição, ou seja, o lugar da tradição liberal no património ideal do PS e a questão da centralidade de um indivíduo moderno que é portador de múltiplas pertenças de natureza política (o espaço político não estritamente partidário em que se move), civilizacional (as causas), cultural (as orientações estéticas), económica (como consumidor, por exemplo), comunicacional (a partilha de um terreno de comunicação ainda dominado por três ou quatro grupos de comunicação), territorial (membro de uma comunidade territorial, por exemplo, por exemplo territórios de baixa densidade), histórica (a sua origem remota ou a identidade, étnica ou de género, por exemplo), com todas as consequências que esta centralidade terá no seu discurso político, por exemplo, na centralidade dos direitos individuais e na sua protecção perante os oligopólios que hoje dominam a vida social em inúmeras frentes (centrais de distribuição no consumo alimentar, de comunicações e de comunicação, bancos, seguros, energia, etc., etc.). Simples exemplos entre outras matérias decisivas, como, por exemplo, o Estado social, a política fiscal, a política redistributiva, o modelo de desenvolvimento, a eficácia do Estado, a igualdade entre os cidadãos (por exemplo, entre trabalho privado e trabalho público) ou a centralidade da ética pública. Ou seja, é nas questões nucleares que se afirma a identidade política de um partido, e não em tratados programáticos que ninguém lê (eu li e como foi difícil mover-me no interior dessa linguagem estereotipada, um pouco manta de retalhos e de fórmulas pouco mais que vazias…).
DAQUI PARA O FUTURO
ORA, O QUE ACONTECEU nas recentes eleições não significa que não haja necessidade de clarificar o posicionamento ideal do PS, a sua identidade perante as principais clivagens presentes na sociedade em rede e da informação, tornando-se, enquanto partido, sublinho, uma força propulsiva da própria sociedade civil independentemente da sua presença no Estado. Uma questão que ganha acuidade agora que tem maioria absoluta no parlamento. Esta questão, de resto, cruza-se com a questão da integração no património ideal do PS da herança do melhor liberalismo, libertando-o do abraço de urso do Estado, por exemplo, repensando o Estado social e a política fiscal, que lhe é conexa, repensando a sua presença nos organismos da sociedade civil, assumindo o desafio da hegemonia (no sentido gramsciano e não só no plano político-eleitoral), reequacionando a sua ideia de cidadania, melhorando os seus métodos internos de selecção dos dirigentes e dos candidatos, conjugando a componente orgânica com a componente comunicacional, assumindo uma posição clara sobre os problemas das redes sociais, mas também sobre as virtudes das chamadas tecnologias da libertação e marcando bem a diferença relativa aos movimentos anti-globalização, agora com um novo imperialismo a combater, o famoso capitalismo da vigilância da senhora Zuboff. E tantos outros desafios. Este último tem sido um terreno mais do BE do que do PS (Francisco Louçã tem sido muito activo sobre este tema), mas é preciso que isso fique claro, como clara tem de ficar a sua ideia sobre como regular a rede, em particular as redes sociais (para além da lei já aprovada e da sua regulamentação, e sobre a qual já aqui escrevi). Só entrando com coragem, criatividade e agilidade nestes terrenos o PS poderá vir a tornar-se verdadeiramente hegemónico na sociedade, e não só conjunturalmente ou no plano exclusivamente político, não se deixando, entretanto, arrastar para esse terreno transversalmente viscoso e pantanoso do politicamente correcto, que afasta uma faixa imensa da cidadania e que, em muitos casos, empurra muitos cidadãos para os braços dos populismos de direita.
Eu creio que o PS deveria aproveitar este momento de felicidade eleitoral para fazer um refresh ideológico e identitário tendo em conta as mudanças que já estão a acontecer na sociedade digital e em rede em que vivemos e na profunda transformação da identidade da cidadania contemporânea. O PS já teve antes uma maioria absoluta e uns anos depois viria não só a perdê-la como também a perder por duas vezes as eleições (em 2011 e em 2015). Agora, que a reconquistou, tem a oportunidade de comodamente se empenhar em se repensar enquanto partido, e também no seu próprio funcionamento interno, nos seus métodos, não se anulando e perdendo nas importantíssimas tarefas governativas que tem pela frente. Porque essa é uma tarefa do partido, não do governo.
NOTA.
SOBRE ESTA MATÉRIA, e para um maior aprofundamento analítico, poderão ser consultados, entre outros, os seguintes textos de minha autoria:
SANTOS, João de Almeida, (2020), “A Política, o Digital e a Democracia Deliberativa”. In Camponez, C, Ferreira, G. e Rodriguez, R., (2020) Estudos do Agendamento. Covilhã: Labcom/UBI, pp. 137-167.
SANTOS, João de Almeida (2020). Política e Democracia na Era Digital (Org.) (Lisboa, Parsifal, 2020, 160 pág.s): Cap. I (“Um novo paradigma para a social-democracia”) e Cap. VI (“Conectividade – Uma chave para a política do futuro”), respectivamente pág.s 15-47 e 133-153. #Jas@02-2022

“Democracia”. Detalhe
MAS, AFINAL, O QUE É QUE ACONTECEU?
Por João de Almeida Santos

“Democracia”. Jas. 02.2022
NESTAS ELEIÇÕES de 30 de Janeiro o vencedor é António Costa, ou melhor, o PS de António Costa. Ou seja, venceu a extrema personalização da marca PS no seu líder enquanto candidato a primeiro-ministro. O que esteve em causa, realmente, foi a liderança de um governo, não a composição do Parlamento. Na verdade, se, por exemplo, as listas de Lisboa, do Porto ou de Castelo Branco fossem muito diferentes o resultado seria o mesmo. O que importava verdadeiramente era o número de deputados eleitos para que uma determinada solução de governo fosse possível. Neste caso, a representação parlamentar do PS, ou seja, a maioria parlamentar, mais não é, pois, politicamente falando, do que uma prótese política da liderança e do futuro primeiro-ministro, a somar à do futuro governo. Daqui, por um lado, uma efectiva subalternização do parlamento e, por outro, um enorme poder, mas também uma tremenda responsabilidade de António Costa, enquanto líder do PS e enquanto primeiro-ministro. Duas consequências: o partido afunila na figura do líder, a representação parlamentar perde densidade e autonomia política perante o primeiro-ministro e o governo. Com esta maioria absoluta reforça-se, sim, o presidencialismo do primeiro-ministro. Absolutus: liberto de vínculos. Isto é bom para a democracia? Talvez não. Haverá estabilidade, sim, e isso é bom, mas o legislativo ficará sempre em posição subalterna, invertendo-se, deste modo, a natural hierarquia de poderes. Mas, vendo bem, a questão não reside propriamente na maioria absoluta (de um partido ou de uma coligação), porque, afinal, a maior parte dos governos democráticos funcionam neste registo, mas sim na falta de peso político específico dos deputados, de densidade política de cada representante e, consequentemente, da representação parlamentar, se atendermos à origem dos mandatos e à forma como nasceram as candidaturas, à natureza das listas, à escolha que é proposta ao eleitor, mas também ao que verdadeiramente esteve em jogo na campanha eleitoral, o executivo e não a representação parlamentar.
COMO SE CHEGOU AQUI?
COMO SE CHEGOU AQUI, ou seja, à maioria absoluta (com 41,68% e 117 deputados, sem os deputados dos círculos eleitorais do estrangeiro)? São vários os factores que poderão explicá-la.
Em primeiro lugar, e sem qualquer margem de dúvida, as sondagens (gravemente incompetentes ou marteladas) que, a dois ou três dias das eleições, davam PS e PSD em empate técnico, provocando uma forte polarização do voto por estes dois partidos – esquerda-direita, o que nem correspondia à verdade porque o PSD de Rui Rio nunca se apresentou e assumiu confessadamente como de direita (o líder sempre foi claro neste aspecto), mas sim como social-democrata.
Em segundo lugar, o ambiente mediático que a potenciou, dando particular enfoque – neste período tão sensível da pandemia – à ideia de instabilidade e de perigo iminente, com à eventual influência da extrema-direita num governo do PSD, pondo em perigo o Estado social e a própria segurança social. Este ambiente gerado pelas sondagens e pelos media, mas também pelo discurso polarizador do PS, provocaram um forte voto útil à esquerda que viria a penalizar fortemente a CDU e o BLOCO. Este voto útil, que antes de 2015 seria difícil, pela latente e permanente crispação política entre estas forças e o PS, tornou-se mais viável depois de seis anos de fraterna convivência destes dois partidos com o governo do PS, até ao chumbo do orçamento de Estado. Ou seja, a partir de 2015 a crispação ideológica e política anterior, que alimentava a distância do eleitorado destes partidos do PS, desapareceu, tornando-se depois mais natural e “suportável” o voto neste partido, em caso de emergência política. O que, neste caso, bem vistas as coisas, parece ter acontecido.
Em terceiro lugar, agora à direita, consumou-se, com a liderança de Rui Rio, um problema que desde sempre afectou o PSD: a questão da sua identidade político-ideológica. Há cerca de trinta anos publiquei no DN, onde era colunista, um artigo sobre o “PSD: o nome e a coisa”, onde dizia que o nome não correspondia à coisa pois este partido na realidade era um partido liberal-democrático. Pacheco Pereira respondeu-me com dois artigos, primeiro, discordando, mas reconhecendo a pertinência da questão, depois, acabando por reconhecer que sim, que o nome só corresponderia à coisa se em vez de PSD fosse PPD, partido popular democrático, um partido que, segundo ele, teria três fontes inspiradoras: a personalista, a liberal-democrática e a social-democrata e reformista, acabando ele por enfatizar esta última, a reformista, e reconhecendo que na construção programática estiveram em disputa interna liberais e sociais-democratas. Estes dois artigos, de Novembro de 1992, constam de um seu livro com o mesmo título do meu artigo “O Nome e a Coisa” (Lisboa, Editorial Notícias, 1997, pp. 21-25). Social-democracia à portuguesa, acaba por dizer Pacheco Pereira, na altura um dirigente de topo do PSD, que reconhece que a identificação social-democrata é polémica, para o exterior (e eu próprio a pus em causa), e que a identificação liberal-democrática também é polémica, sim, mas no interior do partido. E é aqui que reside o problema. Sendo certo que estas três inspirações o identificavam como um partido multipolar e política e socialmente muito abrangente e que com Passos Coelho o partido se virou fortemente para a inspiração liberal, ou mesmo neoliberal, com Rui Rio a fonte dominante, ou mesmo exclusiva, foi a social-democrata. E foi precisamente daqui que resultou o grande problema do PSD quer nas eleições de 2019 quer nestas eleições. Ao fazê-lo, de forma tão explícita e assumida, Rui Rio apostou no centro e deixou completamente descoberta a importante parte da direita liberal e da direita mais radical, levando o partido para um terreno afim ao do PS. Ora, deixando a descoberto a representação desta faixa do eleitorado – que nem o CDS já estaria em condições de representar, vista a sua progressiva extinção – criou as condições para que surgissem outras formações a ocupar esse espaço deixado livre, ou seja, nasceram a Iniciativa Liberal e o Chega, enquanto o CDS/(PP?) estava a desaparecer nas mãos dos sete magníficos (Assunção Cristas, Nuno Melo, Telmo Correia, Cecília Meireles, Diogo Feio, Pedro Mota Soares, Adolfo Mesquita Nunes), tendo, já no fim do processo, nestas eleições, como oficiante final o jovem e aguerrido Chicão, Francisco Rodrigues dos Santos. Foi esta situação que impediu o voto útil no PSD de Rui Rio, embora alguma falta de gravitas do próprio também tenha ajudado. Estou a falar de 20 deputados que foram conquistados pela direita quando o PSD esqueceu as suas fontes personalista e liberal e assumiu radicalmente a fonte social-democrata, para usar a taxonomia de Pacheco Pereira.
RECOMPOSIÇÃO DA DIREITA E CRISE DA ESQUERDA RADICAL
AQUILO A QUE ESTAMOS A ASSISTIR é a uma reconfiguração do sistema de partidos português, com a saída do Parlamento de dois partidos, o PEV (que, de resto, nunca fez prova de vida autónoma do PCP) e o CDS (que completou o lento declínio que começara com Assunção Cristas), o reforço substancial da Iniciativa Liberal (IL, com mais 212.754 votos do que em 2019), dando assim vida a uma orientação político-ideológica liberal com marca de direita, filiada mais no eixo Adam Smith/Friedrich Hayek do que no eixo Stuart Mill/Hobhouse/Dewey/Bobbio (a esquerda liberal) e defensora de um forte recuo do Estado para as suas funções de soberania, e o reforço, ainda mais consistente, do CHEGA (com mais 319.151 votos do que em 2019), partido nacionalista, anti-sistema e também ele, como a IL, defensor, em matéria de política fiscal, da chamada Flat Tax. Estes partidos já representam hoje 20 deputados (ganharam 18 relativamente a 2019), apesar dos poucos anos de vida que têm, e correspondem à representação de direita que o PSD de Rui Rio enjeitou politicamente, de certo modo alterando aquela que era a originária matriz de largo espectro do partido. Por isso, a liderança que sucederá a Rui Rio não poderá deixar de recuperar a tradicional identidade do partido de modo a cobrir toda a área de direita até ao centro (centro-direita). Tarefa que agora será mais difícil com estes dois partidos já no terreno e com consistentes grupos parlamentares.
À esquerda, excluindo naturalmente o partido vencedor, o PS, as perdas foram fortíssimas. O BE perdeu mais de metade do eleitorado, passando de quase meio milhão de votos (492.507), em 2019, para 240.256, o que representa uma perda de 252.242 votos. Uma catástrofe. A CDU, por sua vez, além de perder a representação do seu aliado PEV, passou de 329.241 votos para 236.635 votos, o que equivale a uma perda de quase cem mil votos (92.606). Não creio que estes resultados sejam devidos a uma punição do eleitorado de esquerda por terem chumbado o orçamento de Estado, sabendo-se que ambos os partidos têm na sua matriz uma intensa ética da convicção, apesar de terem assumido com garra uma ética da responsabilidade em 2015 para evitarem a formação de um novo governo de direita (neoliberal) chefiado por Passos Coelho. O que parece certo é que tenham sido vítimas do processo a que acima aludi: forte penalização devida à intensa polarização da campanha induzida pelas sondagens e à ameaça de regresso (plausível, segundo as sondagens) de uma direita que incorporasse a “besta negra” da extrema-direita, com voto útil no único partido em condições de evitar que isso se viesse a concretizar. Acontece ainda que este eleitorado, como já disse, durante estes seis anos convivera com um PS aliado em virtude do activo apoio que conheceu por parte destes dois partidos. Se as razões forem estas isso significará que poderão no futuro vir a recuperar o seu eleitorado, embora, no caso do PCP, o declínio esteja a ser progressivo, não se vendo como poderá vir a inverter a tendência. Em ambas as eleições a média eleitoral deste partido é de cerca de 5,5% (inferior em 2,4 pontos à média das últimas duas décadas, que foi de 7,9%) e a sua força autárquica também tem vindo a conhecer uma forte erosão. Por seu lado, o BE parece estar a viver uma grave crise de identidade entre ser partido de oposição ou partido de governo, o que, de resto, se torna difícil com muitas das propostas radicais que apresenta. Este é o dilema que este tipo de partidos vive. O dilema dos partidos comunistas é o de se tornarem obsoletos se mantiverem o seu ideário ou de, mudando, perderem identidade, tornando-se sociais-democratas. Uma certa esquerda terá, pois de se reinventar se quiser sobreviver.
PS - UMA RESPONSABILIDADE ACRESCIDA
QUANTO AO PS, esta vitória esmagadora deve ser enaltecida na pessoa de António Costa. A parte problemática reside, todavia, naquilo que há muito está a acontecer aos partidos socialistas e sociais-democratas – a sua transformação em partidos eleitorais que sobrevivem à custa do aparelho de Estado, ideologicamente desnatados e socialmente interclassistas (sem “classe gardée), reproduzindo a lógica daquilo que Otto Kirchheimer chama partidos “catch-all”, ou seja, partidos em forte perda de tensão ideológica que modulam o seu discurso a partir da procura, perdendo a dimensão de projecto e minimizando a própria identidade. São partidos que perdem organicidade e que não desenvolvem os melhores critérios de selecção dos dirigentes e dos candidatos precisamente porque vivem cada vez mais de uma excessiva personalização da política na figura do líder. Um teórico italiano, se não erro Mauro Calise, em Il Partito Personale (Roma-Bari, Laterza, 2000), dizia a propósito do sistema americano que os candidatos a Presidente não são candidatos dos partidos (republicano ou democrata), mas antes que os partidos são partidos do Presidente, numa clara inversão de papéis. É o que se verifica quando se entra num processo excessivamente personalizado da política democrática, processo que, como se sabe, conheceu um acelerado e progressivo desenvolvimento quando, nos anos cinquenta (nos Estados Unidos), a televisão entrou em grande na competição eleitoral e, mais tarde, sobretudo com a chamada “permanent campaigning”, na comunicação política diária, designadamente através dos telejornais. E quando falo de presidencialismo do primeiro-ministro, falando do caso português, é disto mesmo que estou a falar.
Não seria desejável que esta maioria absoluta, e sobretudo num contexto deste tipo, pudesse vir a cobrir os limites internos do partido, que os há, mascarando-os, e tornando mais difícil uma mudança virtuosa que esteja em linha com os tempos e com os desafios do futuro.
CONCLUSÃO
EM SÍNTESE, e sem se saber em que medida a longa situação pandémica em que temos vindo a viver também contribuiu para este resultado, a verdade é que o sistema de partidos conheceu uma profunda transformação, cabendo agora a todas as formações políticas, mas em particular ao PSD, ao Bloco e ao PCP, fazer uma profunda reflexão para que a democracia saia deste processo reforçada e não diminuída. Também o PS, pelas particulares responsabilidades que esta vitória lhe confere, não pode ficar instalado comodamente nela porque as suas causas e razões parece serem muito claras, sendo para mim evidente que muito haverá a fazer para o confirmar como um partido de futuro e com futuro ao serviço de uma democracia mais robusta e mais justa. Esta maioria absoluta, em vez de ser um motivo de conforto e de auto-satisfação, deverá, pelo contrário, dar origem a uma maior exigência e responsabilidade no aperfeiçoamento da qualidade da nossa democracia, melhorando o seu próprio funcionamento interno, em método e em programas, dando um exemplo que seja mais virtuoso do que de auto-suficiência.

“Democracia”. Detalhe
PARA QUE SERVE O VOTO?
Por João de Almeida Santos
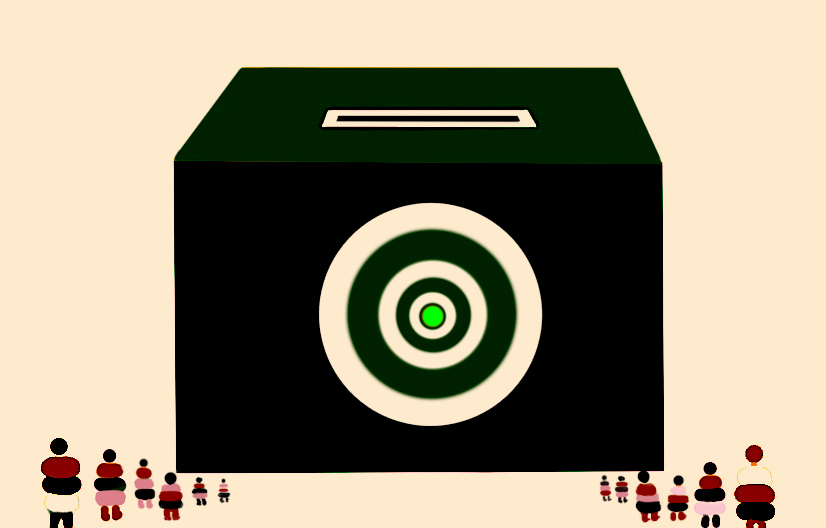
“Democracia”. Jas. 01-2022
NÃO, O VOTO não se destina a saber quem é o primeiro-ministro ou a composição do governo. Dizer isso significa memorizar o Parlamento e o valor político dos deputados. E contraria a natureza do sistema representativo. Não, o voto destina-se a eleger os 230 deputados que representarão a Nação e não o círculo eleitoral por onde são eleitos. Lembram-se do orçamento limiano? Pois é isso mesmo: o mandato é nacional e não para resolver os problemas do círculo eleitoral por onde o deputado foi eleito. O critério para a escolha não deve consistir em saber se esse candidato defenderá os interesses do seu círculo eleitoral, mas, sim, se será um bom defensor do interesse geral, agindo exclusivamente de acordo com a ética pública. Também não se destina a votar em programas porque o deputado não leva consigo um caderno de encargos, mas tão-só a sua consciência, a sua competência, a sua ética (pública) e a sua independência:
"Les représentants nommés
dans les départements,
ne seront pas représentants
d'un département particulier,
mais de la Nation entière,
et il ne pourra leur
être donné aucun mandat"
(Art. 7, Secção III, Cap. I,
Título III da Constituição
francesa de 1791).
Em poucas palavras, está aqui caracterizado com rigor o sistema representativo, na sua forma originária. Os deputados não representam o respectivo círculo eleitoral, mas toda a nação, e não são portadores de vínculo de mandato, de um concreto caderno de encargos que os vincule. Se assim fosse o mandato seria imperativo. E não é. Schumpeter explica isso muito bem na sua obra de 1942. Os programas eleitorais são simplesmente indicadores de intenções. Não se vota sobre o que há a decidir, mas sobre quem vai decidir. O que conta verdadeiramente é a qualidade do candidato e, naturalmente, a área política em que se inscreve, porque isso o identifica melhor. Nada mais. Quanto à área em que se inscrevem (socialistas, liberais, democratas cristãos, comunistas…) também esta é indicativa porque ela delimita somente uma área de pertença, um espaço de colocação política e ideológica, antes muito importante, quando o que contava, no essencial, era o voto por “sentimento de pertença”, mas hoje menos importante porque o nível de informação passou a ser tão importante (ou mesmo mais) como a pertença ideológica.
Ou seja, a escolha eleitoral deve ser pautada pela convergência de três variáveis: o rosto/identidade do candidato, a área de pertença e as propostas programáticas em relação ao todo nacional. Mas a decisão é exclusivamente sobre a titularidade plena do mandato (esta lógica vê-se funcionar com maior clareza nos sistemas maioritários uninominais em duas voltas), que pertence exclusivamente ao deputado (e não aos eleitores ou, muito menos, aos directórios partidários).
SENTIMENTO DE PERTENÇA E INFORMAÇÃO
DURANTE UMA BOA PARTE DO SÉCULO XX a escolha efectuava-se por sentimento de pertença a uma comunidade político-ideal representada por um partido político. Os meios de comunicação eram escassos e pouco difundidos e a literacia, em particular a literacia política, era diminuta. Estava a acabar o voto censitário, pela introdução do sufrágio universal, e tornara-se necessário expandir os meios de comunicação devido a um aumento gigantesco no acesso ao direito de voto. As ideologias estavam no seu apogeu (sobretudo no período entre-guerras) e as massas estavam a entrar na cena política. Neste período, a participação política era ainda dominada quase exclusivamente por uma opção de natureza ideológica e comunitária. Só na segunda metade do século XX, sobretudo com a entrada da televisão na cena política, começa a expandir-se a informação, tornando-a uma variável em crescimento, que seria exponencial. Até hoje, mas agora ainda mais reforçada pela entrada em cena das redes sociais. Julgo não errar dizendo que, sobretudo a partir dos anos noventa, a informação veio ocupar uma parte importante na decisão político-eleitoral, roubando terreno ao sentimento de pertença. Até porque a cidadania tem vindo a conhecer uma profunda transformação na sua identidade, ocupando as TICs um papel muito relevante neste processo. Hoje todos nós andamos com um pequeno computador no bolso que permite aceder de forma imediata a um gigantesco mundo de informação (e também de desinformação).
NOVA CIDADANIA
ESTE FACTO deveria levar a classe política a reflectir com mais atenção sobre o processo político e a alterar mecanismos que já não correspondem a um real profundamente transformado. Um boletim de voto com uma sigla partidária simplifica, sem dúvida, mas indicia, em primeira leitura, a primazia da pertença ideológica e comunitária sobre a informação analítica e sobre os candidatos apesar de já estarmos perante uma cidadania que dispõe de instrumentos altamente sofisticados e eficazes para obter informação imediata sobre todo o processo político, podendo assim modular o seu voto de acordo com outros critérios que não o do sentimento de pertença. Até porque outra das mudanças já verificadas reside na própria complexificação da identidade de um cidadão que pode exibir, ao mesmo tempo, várias pertenças (políticas, culturais, civilizacionais) que, naturalmente, se não for um partido chiclete, um determinado partido não está em condições de representar, levando a que o cidadão liberte o seu voto para opções que são mais informadas do que animadas por afinidades ideológicas. Isso vê-se com mais clareza nas eleições autárquicas.
POLÍTICA DELIBERATIVA
NÃO FOI POR ACASO que nasceu uma tendência que é conhecida como política deliberativa e como democracia deliberativa. E não falo das propostas parcelares que têm vindo a ser feitas, por exemplo, os deliberative polls, de James Fishkin, ou outras fórmulas de enriquecimento do processo decisional. Falo na valorização global do processo informativo e deliberativo para efeitos políticos. Falo na esfera pública como esfera pública deliberativa e na introdução obrigatória do processo deliberativo nas grandes decisões que irão ser tomadas pelos detentores do poder formal, melhorando, assim, a qualidade da decisão e a sua transparência. E falo também da necessária metabolização política deste processo no quadro de uma saudável ética pública que incorpore naturalmente a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Este processo supera em muito um certo organicismo que continua a ser dominante nos agentes políticos tradicionais, individuais e colectivos, e que acaba sempre por gerar dinâmicas endogâmicas.
FINALMENTE, O VOTO
ASSIM SENDO, o voto da cidadania deveria ser determinado, no essencial, pelas duas componentes acima referidas, pelo sentimento comunitário de pertença e pela informação acerca do processo político, valorizando, naturalmente os agentes que mais respeitem a ética pública (harmonia entre convicção e responsabilidade), que melhores ofertas deliberativas ofereçam ao longo dos mandatos (em regime de permanent campaigning) ou das suas prestações públicas e que melhor desempenhem a função de representação política da cidadania (e não corporativa). Naturalmente que as posições sobre questões decisivas para a sociedade (sobretudo sobre a política fiscal, o Estado social, a eficácia nas funções do Estado, o modelo de desenvolvimento proposto, a política científica, a política para a justiça, a posição sobre a União Europeia) deverão constituir também um importante critério de escolha. Critérios que valem por si e que devem ser reflexivamente conjugados para uma decisão fundamentada e racional acerca da escolha dos representantes, mas que não são redutíveis ao velho e já gasto agitar de bandeirolas que sabem mais a século XIX do que a século XXI. É com base nestes critérios (conjugados) que eu próprio votarei no próximo Domingo. #Jas@01-2022
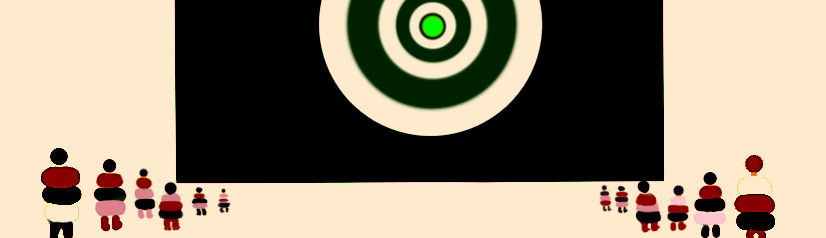
“Democracia”. Detalhe
A DESFORRA DE ANTÓNIO COSTA
Por João de Almeida Santos

Democracia. Jas. 01-2022
O PRESIDENTE MARCELO REBELO DE SOUSA convocou eleições legislativas para 30 de Janeiro, mas, a julgar pela campanha do PS, o que está a acontecer realmente é um momento referendário sobre o Orçamento de Estado para 2022, chumbado pelo Parlamento, provocando eleições antecipadas.
“Chumbaram o Orçamento mais à esquerda de que há memória,” parece dizer o PS, “então vamos submetê-lo ao juízo dos eleitores para ver se o aprovam ou o chumbam, para ver quem tinha razão. Se o aprovarem, votando num PS vencedor, voltaremos a submetê-lo ao Parlamento para aprovação, repondo o processo interrompido pelo injustificado chumbo e pela dissolução da Assembleia da República, retomando, assim (simbolicamente), a anterior legislatura”. Agora, sim, com uma profunda remodelação do governo. Governo mais ágil, refrescado e relegitimado. Por mais dois anos (garantidos), perfazendo, assim, os quatro anos do mandato anterior. A ser assim, estas eleições não serão, pois, mais do que uma paragem referendária para que o povo se pronuncie (in)directamente sobre o Orçamento – exibido, com incontido bom humor, no ecrã, pelo candidato António Costa, no debate com Rui Rio – e sobre a oportunidade de a oposição o ter chumbado. Operação que, todavia, é um pouco insólita, pois este mesmo Orçamento é um documento oficial do governo (ainda em funções) e não um documento do partido, sendo, pois, oportuno questionar a legitimidade formal do uso deste documento por indiciar uma efectiva confusão entre governo e partido. Esta confusão pode mesmo aparecer também como confusão de géneros entre Candidato e PM, o que é seguramente muito pouco ortodoxo. Mas a verdade é que se se verificar o que nos dizem as sondagens, o que acontecerá será a aprovação do Orçamento de Estado (lembremo-nos que o governo não se demitiu na sequência da dissolução da Assembleia da República, mantendo todas as prerrogativas, excepto as que dependam directamente de uma AR em funções) pelo povo soberano. Integralmente, se for com maioria absoluta. Retocado (ou não), se for com maioria relativa.
Uma análise atenta do discurso de António Costa e do PS é a esta conclusão que nos leva. A garantia de que a reposição do processo interrompido será possível foi dada por Rui Rio quando disse que garantiria um governo do PS durante dois anos caso este ganhasse as eleições com maioria relativa. E as sondagens apontam para este desfecho. Costa por isso pode exibir, sorridente, o Orçamento e dizer que o fará aprovar no dia seguinte ao fecho do processo eleitoral. A argumentação política do PS está, de resto, toda ela suportada nos ganhos que este Orçamento teria garantido. Tudo parece, pois, ter este sentido. Repor um processo incompreensivelmente interrompido pela irresponsabilidade do PCP e do Bloco. É esta a mensagem do PS.
PRESIDENCIALISMO DO PRIMEIRO-MINISTRO
NA PRÁTICA, temos aqui um típico processo de democracia directa, enxertada nos mecanismos da democracia representativa, onde, como se sabe, não são os programas que são escolhidos, mas os representantes, não concretas decisões, mas quem decide acerca delas (veja-se Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democracia, de 1942). E também sabemos que, na prática, os representantes propriamente ditos pouca importância têm na escolha eleitoral porque o processo se centra na figura do candidato a Primeiro-Ministro, ou seja, não na constituição do legislativo, mas na constituição do executivo, em saber quem governa, sendo a constituição do legislativo mero meio instrumental para um fim superior: a formação do governo.
A expressão “presidencialismo do Primeiro-Ministro” parece ser da autoria de Adriano Moreira, em texto de 1989 (Adriano Moreira, «O regime: presidencialismo do primeiro-ministro», in Coelho, M. B., Org., Portugal. O Sistema Político e Constitucional 1974-1987, Lisboa, ICS, 1989, p. 36), e talvez se adapte bem (mas alargando o sentido em que o autor a usa) à evolução do sistema português quando verificamos que as eleições legislativas se transformaram, de facto, na eleição do Primeiro-Ministro, dando mais concreta expressão à personalização da política na figura dos líderes partidários. O sistema eleitoral ajuda porque no boletim de voto o que aparece é o símbolo partidário, só faltando mesmo acrescentar-lhe o nome e o rosto do líder do momento. Os candidatos dos círculos eleitorais pouco ou nada contam, pois a escolha é a que se centra no rosto do candidato a PM e no símbolo partidário. Trata-se, além disso, de listas fechadas construídas em grande parte pelas lideranças de acordo com a lógica interna exclusiva dos partidos (fidelidade, militância, representatividade interna). De facto, no processo a variável exógena da cidadania pouco ou nada parece contar a não ser numa óptica instrumental com vista à reprodução das elites no poder. Numa palavra, todo o processo tende a afunilar no candidato a Primeiro-Ministro, onde se concentrará no essencial todo o poder, sim, mas também toda a responsabilidade, incluindo naturalmente a de não formar governo se for directamente derrotado nas urnas, ainda que possa dispor de uma maioria parlamentar, como acontecerá no caso do PS de António Costa se isso se vier a verificar. Vejamos.
A ESSÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO
DO QUE SE TRATA efectivamente, no sistema representativo, é da escolha dos representantes da cidadania no poder legislativo, sendo a constituição do executivo resultante da formação de uma maioria parlamentar. O mandato é não imperativo, não revogável, para uma titularidade soberana livre e independente (dos círculos eleitorais e dos directórios partidários) . O representante não leva consigo um caderno de encargos que deverá executar, mas tão-só a sua consciência e a sua visão do que será o interesse geral. Por isso, a selecção da oferta, em regime de monopólio partidário, deveria ser muito criteriosa e mais exposta à cidadania do que imposta segundo critérios exclusivamente internos. Mas a verdade é que com a configuração que o processo eleitoral assumiu estes aspectos perderam relevância e interesse político precisamente porque o que conta realmente é a figura do líder, enquanto candidato a Primeiro-Ministro e não enquanto candidato a deputado. Neste processo, o poder legislativo é relegado para segundo plano quando ele, na hierarquia dos poderes, deveria estar em primeiro plano, seguindo-se o poder executivo e, finalmente, o poder judicial. Uma hierarquia que nada tem a ver (ao contrário do que muitos pensam) com separação dos poderes, porquanto esta é plenamente compatível com a hierarquização dos poderes. Se a separação dos poderes é uma exigência funcional do sistema representativo para impedir que o poder se concentre num só órgão e o torne insindicável, a hierarquia dos poderes tem a ver com a sua origem. Na verdade, o único poder que deriva directamente da cidadania (do povo) é o poder legislativo, sendo os outros dois poderes derivados deste: o poder executivo sai das maiorias parlamentares; o poder judicial age de acordo com as leis e tem uma legitimidade de carácter meramente técnico. Portanto, só o primeiro possui uma legitimidade com dimensão ontológica em condições de fundar a legitimidade dos outros dois.
CONSEQUÊNCIAS
MAS, NA VERDADE, esta já não é a lógica que se está a impor, pois o sistema parece ter evoluído para um presidencialismo do Primeiro-Ministro. E é assim que, deste modo, o resultado eleitoral directo influencia a maior ou menor legitimidade da solução governativa que vier a resultar do Parlamento. Por exemplo: se uma força política que aspirava a conquistar a maioria (absoluta ou relativa que seja) não o conseguir, mas, pelo contrário, estiver em condições de formar uma maioria parlamentar de apoio a um seu governo (como aconteceu em 2015), encontra-se perante uma situação em que a legitimidade do candidato a Primeiro-Ministro fica muito fragilizada politicamente, embora formal e legalmente adequada à formação de um governo. A razão é simples: fracassando o objectivo proposto aos eleitores (a eleição, informalmente, directa como Primeiro-Ministro), tudo o resto se ressentirá inevitavelmente. Em 2015 havia duas razões que poderiam ser invocadas para que acontecesse o que aconteceu: o muro de Berlim e a “conventio ad excludendum” existente que recusava uma parceria governativa ao PCP e ao Bloco, duas forças com significativa presença parlamentar e uma expressiva representatividade, o que significava uma ilegítima e grave distorção do sistema; o facto de António Costa se ter proposto derrubar este muro, provando que seria possível governar com bons resultados naquelas condições.
Ora, nas actuais circunstâncias, derrubado o muro, tendo governado seis anos e perdendo as eleições é natural que António Costa decida sair dando lugar a uma recomposição do poder interno no interior do PS. Feita uma avaliação negativa da sua acção governativa (que não a do parlamento) decide, em consequência, sair. Mas se, como parece resultar das sondagens entretanto divulgadas, ganhar com maioria relativa, a legitimidade de voltar a formar uma maioria de governo será directa e efectiva, assim isso seja possível, designadamente através da assinatura de um acordo escrito com os seus parceiros (de esquerda) para que seja evitada essa flutuação de humores a que o líder do PS se tem vindo a referir, repondo a confiança perdida. Não o sendo, vejo, à partida, como problemática a constituição de um governo minoritário suportado pelo PSD, seu directo adversário, durante dois anos, pois isso contraria tudo o que António Costa tem vindo a dizer sobre o assunto, ou seja, a formação de governos por dois anos (“provisórios”, é a palavra usada) em vez de por uma inteira legislatura, razão pela qual, de resto, tem vindo a pedir uma maioria absoluta. Esta situação de vitória com maioria relativa, a mais provável, significa, pois, que, no fim, acabará por procurar encontrar uma solução que dê estabilidade governativa, ou seja, que fará um acordo com as forças que lhe possam dar uma maioria parlamentar? António Costa já disse que não, o que reforça ainda mais essa ideia de transformar estas eleições num momento referendário sobre o Orçamento.
MOMENTO REFERENDÁRIO
DE FACTO, o que parece mais plausível é que o líder do PS queira transformar estas eleições nesse momento de verdade do seu Orçamento para 2022, pondo o eleitorado a votá-lo (in)directamente, através do voto no PS, para poder, assim, terminar o mandato, injustamente interrompido, de quatro anos. Uma espécie de referendum: “Chumbaram-no? Então vou ali perguntar ao povo se, afinal, aprova ou não aprova este meu Orçamento – veremos quem tinha razão”. É esta a lógica que sobressai com evidência, pois de outro modo não repetiria à exaustão que no dia seguinte ao processo eleitoral fará aprovar precisamente este Orçamento (que exibiu repetidamente no debate com Rui Rio). Um Orçamento que, formalmente, não é do PS, mas do governo, repito. Este quadro é muito verosímil porque tem, à partida, como disse, garantida a abstenção do PSD durante dois anos, o que lhe basta, em caso de vitória por maioria relativa, para dar corpo a este desiderato. Completará, assim, um mandato inteiro e dará sentido à sua ideia de que estas eleições não deveriam ter acontecido. Ou seja, António Costa parece estar, de facto, a reduzir estas eleições a mero momento referendário do Orçamento para 2022 que lhe permita completar o mandato injustamente interrompido. Se, na forma, não é assim, na prática, é. António Costa regressa, assim, a 2021 e toma fôlego para em 2022 cumprir o seu Orçamento de Estado com um governo agora, sim, remodelado e confortado pela legitimidade que, entretanto, lhe será conferida pelos resultados eleitorais, pela voz do povo. Poderíamos, então, dizer com propriedade: eleições 2022 ou a desforra orçamental de António Costa. Ou melhor: “Interromperam a minha caminhada? Pois bem, perguntemos então ao povo se, nas actuais circunstâncias, era isso o que ele esperava dos seus representantes”. E o povo, a crer nas sondagens, dar-lhe-á razão, repondo assim a situação anterior ao chumbo do Orçamento, com um governo relegitimado e dotado de um Orçamento sufragado pelo voto popular.
MUDAR DE VIDA?
MESMO ASSIM, e tendo presente a insistência das forças políticas maioritárias em obter soluções estáveis, o futuro talvez venha a aconselhar um sistema maioritário com círculos uninominais que fornecerá não só soluções de governo claras e estáveis, mas também, ou sobretudo, uma valorização do Parlamento pela responsabilização directa dos candidatos a representantes perante os cidadãos dos respectivos círculos eleitorais e, por consequência, uma melhoria na qualidade das candidaturas e um reforço do seu próprio peso político, visto que haverá um controlo de proximidade dos candidatos pela cidadania, ainda que uma vez eleitos não venham a ser representantes dos círculos eleitorais que os elegeram, mas sim da nação. E acrescento ainda que este reforço de qualidade seria maior se o governo fosse constituído, como acontece na Inglaterra, a partir do corpo de representantes presente no Parlamento. Uma valorização e um reforço do Parlamento, não só enquanto poder legislativo, mas também dos seus próprios membros, enquanto importantes responsáveis políticos nacionais.
Esta minha convicção não resulta de uma opção meramente teórica, mas resulta, isso sim, da verificação dos defeitos do sistema que adoptámos entre nós. Vejo, pois, que uma mudança nestes aspectos melhoraria o sistema no seu conjunto sobretudo se, depois, os partidos acompanhassem de forma não somente reactiva, mas construtiva, esta mudança. Mas talvez todo este processo a que estamos a assistir ajude a evidenciar as dificuldades do sistema e a provocar um debate profundo sobre o destino da nossa democracia, a natureza dos partidos políticos e a própria natureza da política contemporânea perante uma cidadania que está a conhecer uma profunda mutação na sua própria identidade e nos meios que hoje tem à sua disposição para impor mudanças que, ao que parece, o establishment político (mas também o mediático) teima em não identificar. #Jas@01-2022.
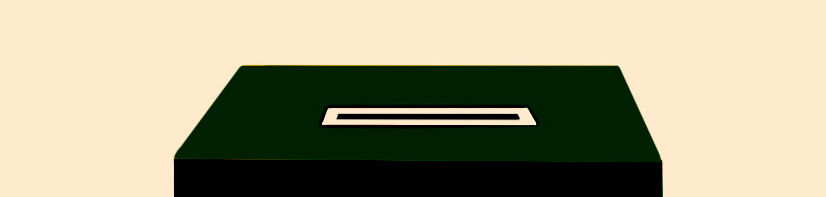
Democracia. Detalhe
DEMOCRACIA PÓS-ELEITORAL?
Por João de Almeida Santos

“Democracia”. Jas. 01-2022
EN ESTE ENSAYO intento hacer una crítica a los que, con demasiada frecuencia y ligereza, intentan sepultar, sin funeral, a la democracia representativa en nombre de ideas que, de tan viejas, nos hacen remontar a los tiempos de las corporaciones o de las visiones organicistas de la sociedad. ¿Qué es una democracia pos-electoral? ¿Qué son formas no electivas de representación (política)? ¿Qué instrumentos tiene el ciudadano para hacerse representar por los que no puede escoger libremente? Sobre todo hoy que el ciudadano tiene a su disposición miles de medios para protagonizarse públicamente y para tomar racionalmente sus decisiones. Claro, la ciudadanía no es directo resultado del principio electivo, porque es más amplia y más compleja. Pero nadie conoce ningún modo más eficaz de actuarla que el ejercicio del voto para escoger a sus representantes o para decidir sobre cuestiones de conciencia (referéndum). En realidad, la historia nos enseña que hay que tener siempre muchas dudas sobre las concepciones de la sociedad que se fundan en visiones científicas de la sociedad, donde la legitimación de los procesos sociales ya no es narrativa, pero, sí, científica. Y tampoco parece muy ajustado a la naturaleza de la democracia que sean los independientes o los representantes de las corporaciones los que mejor interpretan la voluntad general. Todos sabemos que las dictaduras de izquierda han siempre encontrado sus fundamentos en el materialismo histórico, la ciencia de la historia de matriz marxista, que conocía con rigor las leyes del devenir histórico hacia la sociedad sin clases ni Estado. Sabemos también que lugar han ocupado en la historia del poder político las representaciones corporativas y los anti-políticos. Más que reinventar el pasado, parece oportuno potenciar y proyectar en el futuro los principios fundamentales de la democracia representativa. Por ejemplo, a través de la democracia deliberativa.
Sumário
1. Uma «agorá» electrónica. 2. Rosanvallon e a «democracia pós-eleitoral». 3. Discrasia da representação. 4. Reapropriação da soberania confiscada. 5. O sistema representativo e o discurso do impolítico.
Uma «Agorá» Electrónica
Este título – «democracia pós-eleitoral» (Rosanvallon) – vem juntar-se a outros igualmente sugestivos, como «democracia pós-representativa» ou «democracia do público», num momento em que a ideia de «público» já está, ela própria, superada ou em profunda mutação no interior do novo paradigma comunicacional inaugurado pela Rede. No espaço público digital e deliberativo. Ou seja, a ideia de «público» como «espectador» (ouvinte ou leitor) – que era o referente do velho modelo mediático de comunicação e, por homologia, da própria política – parece estar a tornar-se residual perante a crescente generalização da comunicação em rede, onde os receptores já são também emissores, mas onde sobretudo esta relação emissor-receptor foi superada pela ideia de «rede de comunicação», de sistema comunicacional onde as relações são horizontais, sem centro nem periferia, e onde os sujeitos deram lugar a variáveis em relações múltiplas e não hierarquizadas entre si. A ideia de «público» migrou, pois, agora, para um imenso «espaço intermédio» universal, uma espécie de «agorá» electrónica sem lugar nem fronteiras, onde decorre o processo discursivo e deliberativo e para onde convergem todos os actores sociais. Um espaço com a sua própria lógica, mas com a imensa capacidade de albergar internamente lógicas diferentes.
Rosanvallon e a «Democracia
Pós-Eleitoral»
Pierre Rosanvallon, num ensaio intitulado «Reinventar a democracia», publicado há uns bons anos, no «Le Monde» (8/10.05.2009), acabou por se fazer também intérprete das novas exigências que se põem hoje à democracia com a ideia de “democracia pós-eleitoral”. O que Rosanvallon diz é que temos de fazer três operações no interior do universo democrático, se quisermos responder aos novos desafios. Em primeiro lugar, alargar procedimentos e instituições para além do sistema eleitoral maioritário. Ou seja, é preciso «inventar formas não eleitorais de representação», diz ele. Depois, é necessário assumir a democracia como uma «forma social», uma «forma de sociedade», ou seja, como algo mais do que um simples regime. Em terceiro lugar, há que dar lugar a uma democracia-mundo, sobretudo através de um relançamento da cidadania para além da sua expressão eleitoral.
O que vejo nestas teses de Rosanvallon é uma tentativa de captar o que já flui no interior dos sistemas democráticos e que parece já não caber no interior dos módulos da democracia representativa clássica. Designadamente no interior do modelo representativo de gestão do chamado «interesse geral». Mas, na verdade, para interpretar e reorientar o novo que flui não é possível fazê-lo, como quer Rosanvallon, através da diluição do «princípio electivo» e da «representação», da ulterior extensão do conceito de democracia para além das larguíssimas fronteiras que ela conquistou (até à própria democracia social) ou sequer da dissociação da ideia de cidadania do princípio electivo (que certamente não a esgota, mas que a integra necessariamente), uma vez que é através deste princípio que a cidadania melhor se operacionaliza, determinando a própria construção institucional e legítima da democracia. Esta pressa em sepultar o que faz da democracia representativa o menos mau dos sistemas políticos, designadamente através da glorificação das entidades independentes ou das representações mais ou menos corporativas, não tem certamente em consideração que a sua história só poderá ser contada em plenitude a partir da segunda metade do século XX, descontada a sua fase censitária (séc. XIX e parte do séc. XX), as duas guerras mundiais (1914-18; 1939-45), os totalitarismos do Século XX (1922-1945) e todos os efeitos que estes factos produziram sobre um sistema tão delicado como é o sistema democrático representativo. Até mesmo na segunda metade do Século XX o bipolarismo político, ideológico e estratégico-militar representou um violento espartilho que impediu a democracia representativa de se exprimir em toda a sua plenitude. Veja-se, a propósito, os casos da Alemanha e de Itália. E, por isso, diria até que, ao contrário do que pretende Rosanvallon, do que se trata, cada vez mais, é de retomar a sua matriz originária interrompida ou nunca plenamente cumprida: 1) a centralidade do indivíduo no sistema; 2) a relativização da intermediação política e comunicacional; 3) o revigoramento da representação (do mandato-não imperativo); e 4) o aperfeiçoamento dos sistemas electivos e das representações supranacionais (com a velha ideia iluminista de cidadania universal) que já existem (por exemplo, o Parlamento Europeu) e que até têm dado boas provas.
Discrasia da Representação
Em boa verdade, o que se passa – mas era disso que Rosanvallon devia falar – é que a sociedade moderna produziu canais e formas de participação e de expressão política que transbordam, de facto, as margens do sistema representativo, agindo, depois sobre ele com uma tal «pressão ambiental» que acabam por gerar aquilo a que eu chamo «discrasia da representação» ou, mais simplesmente, «anemia democrática». E por várias razões:
1. porque a política democrática foi forçada a deslocar o seu centro geométrico das clássicas estruturas de participação territorial e de comunicação política interpessoal para o «espaço público mediatizado», sobretudo o electrónico, ou seja, para um não-lugar, anulando totalmente as fronteiras do tradicional espaço deliberativo, que eram territoriais e interpessoais;
2. ao fazê-lo, deslocou também o centro do poder deliberativo para a instância mediática, em perfeita e total homologia discursiva;
3. e ao retirar o seu centro geométrico das estruturas de participação e de expressão política tradicionais, interpessoais, comunitárias, associativas, localmente enraizadas e estruturadas, deslocando-o para o novo espaço público mediático, a política subtraiu, ipso facto, poder ao cidadão, porque induziu um processo de partilha da soberania delegada entre a representação institucional e instâncias não electivas, resultando daqui também uma evidente «confusão de géneros» e uma maior «discrasia da representação política». Não se tratou, evidentemente, de uma livre opção voluntária ou conjuntural, mas de uma profunda mutação estrutural na própria natureza da política: da política de matriz orgânica passou-se para a política de matriz comunicacional. Só que esta mudança estrutural acabou por gerar – devido ao poder dos media, em particular da televisão – um fenómeno de total homologação do discurso político ao discurso mediático que viria a afectar o próprio mecanismo da «delegação de soberania» e da «representação». São, de resto, muito bem conhecidos os efeitos da irrupção da televisão na comunicação política, a partir dos anos sessenta do século passado.
Reapropriação da Soberania
Confiscada
Ora, a verdade é que a ideia de relançamento da cidadania só será compreensível e aceitável se ela representar, em primeiro lugar, uma reapropriação, pelo cidadão, da soberania confiscada, antes, pelos directórios partidários («partidocracia») e, agora, pelos directórios mediáticos («mediocracia»), e, em segundo lugar, um reforço do valor de uso do voto, designadamente através de uma valorização da «cidadania activa» a montante e a jusante dos processos eleitorais, mas sempre em função deles. Porque se alguma vantagem poderia haver na deslocação do centro da deliberação política para esse não-lugar do novo espaço público (que, afinal, acabou por, na era mediática, se confundir com as redacções das rádios, dos jornais e dos telejornais) ela só poderia acontecer se se verificasse uma efectiva emergência do cidadão individual como protagonista político directo, dotado de autonomia discursiva pública e com capacidade efectiva de condicionar as próprias «agendas» pública e política. O que, de todo, não foi possível na era mediática por falta de meios autónomos de acesso ao espaço público – que foi sempre um espaço mais ou menos condicionado – e por força da lógica dominante das grandes organizações – dos media aos partidos políticos. Gatekeeping discursivo e gatekeeping político. É claro que os media permitiram um alargamento da intervenção política para além da esfera das elites políticas tradicionais (do «parlamentarismo» à «democracia de partidos»), mas nem por isso deixaram de agir no interior de uma lógica que era equivalente à das grandes organizações partidárias; do «catch all parties« a um «catch all media». Lógicas que, de resto, se replicavam e replicam.
Ora é este panorama que hoje começa a estar superado, tantos são os canais disponíveis de acesso a um novíssimo espaço público deliberativo que está a convergir cada vez mais para esse «espaço intermédio» universal que designamos por Rede, um espaço digital. O que aconteceu foi que, com o espaço público mediático, o indivíduo singular estava mais identificado funcionalmente com o espectador, o leitor ou o ouvinte do que com o «cidadão activo», não dispondo, por isso, de virtuais capacidades operativas de livre estruturação do espaço público. Isto só viria a acontecer com a Rede e o digital. E, aqui, sim, passou a ser possível construir uma democracia deliberativa plenamente compatível com a democracia representativa, praticável a partir desse não-lugar que é a Rede e centrada num cidadão não dependente nem dos «gatekeepers» mediáticos nem dos velhos comunitarismos militantes, do gatekeeping político. Ou seja, aqui passou a ser possível superar os problemas que resultaram da emergência dos media como directos protagonistas políticos e como espaço público de acesso condicionado, sem transgredir aquelas que são as bases essenciais da democracia representativa, o «princípio electivo» e o «indivíduo», enquanto seu suporte ontológico decisivo. Além disso, o exercício democrático, nesse plano superior da comunicação em rede, poderá constituir sem dúvida um enorme upgrade naquele que continua a ser o menos mau dos sistemas políticos disponíveis. Este sistema até já tem nome – chama-se democracia deliberativa, a que corresponde a respectiva política deliberativa. E a verdade é que nunca como hoje os cidadãos tiveram tantos meios de livre acesso ao espaço público, embora reconheça que também nunca como hoje os poderes fortes organizados tiveram tantos meios para agir instrumental e eficazmente sobre as consciências.
O Sistema Representativo
e o Discurso do Impolítico
Uma coisa é certa: a «democracia permanente», ou seja, como «forma de sociedade», como pretende Rosanvallon, tenderá sempre a abafar o chamado «discurso do impolítico», do politicamente irredutível, que vale socialmente muito, mas que nunca deve ser convertido numa função do poder, mesmo que seja o democrático. Ora eu creio que a democracia representativa, agora sob a forma de democracia deliberativa, a que corresponde um novo espaço público digital e deliberativo, ainda continua a ser aquela «forma política» que melhor garante a expressividade e a autonomia do impolítico socialmente pregnante e relevante. Como alguém diria, há mais vida para além da política. E a política tem mesmo o dever de a preservar. E que melhor sistema do que o sistema representativo para garantir a autonomia da esfera do não-político? O velho e lúcido Benjamin Constant, no seu discurso de 1819, no Real Ateneu de Paris, sobre a «liberdade dos antigos comparada com a dos modernos», formulou esta distinção de forma admirável: ao contrário dos antigos gregos, a representação política existe para que os cidadãos possam perseguir os seus fins privados em total liberdade, sem que, com isso, deixem de cuidar convenientemente do interesse público comum (através dos seus representantes). É certo que cada vez mais se fala de «aldeia global», mas não é preciso exagerar, procurando restaurar a velha democracia directa de ateniense memória, mesmo que os novos meios pareçam torná-la possível. Não nos esqueçamos que na Grécia antiga escravos, estrangeiros e mulheres não participavam na gestão da polis, porque não eram considerados cidadãos. E que ainda não era conhecida uma verdadeira distinção entre o público e o privado porque a lógica dominante era a da comunidade, que tudo sobredeterminava. A verdade é que o impolítico (de que fala abundantemente o Thomas Mann de “Considerações de um Impolítico”) é também ele uma importante esfera da vida, da Lebenswelt, que não pode ser subsumido na prática política, sendo, todavia, certo que ele será decisivo, a médio prazo, para a conquista da hegemonia, no sentido em que a assumia Antonio Gramsci. Este é o universo da sociedade civil, o da esfera privada, aquela esfera que, afinal, a política deve servir como seu fim último, em obediência a uma sã ética pública. #Jas@01-2022

“Democracia”. Detalhe
A PETIÇÃO João de Almeida Santos
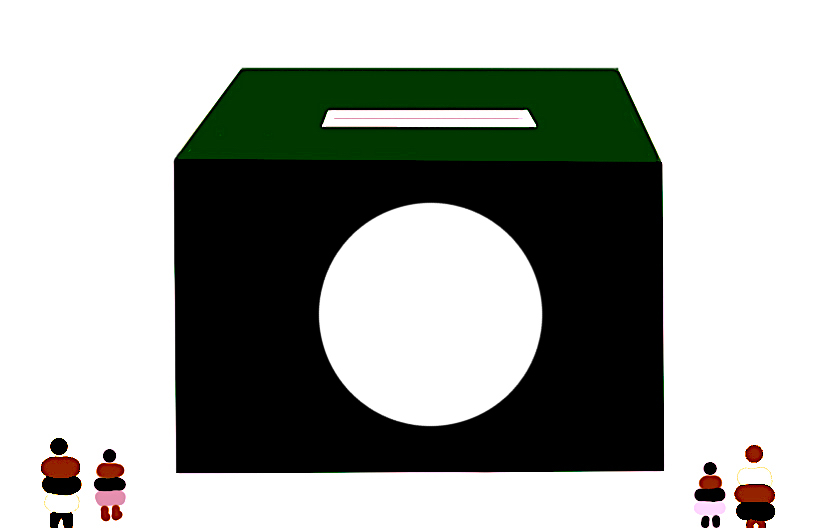
“Democracia”. Jas. 01-2022 PÚBLICA
LI COM ATENÇÃO A PETIÇÃO PÚBLICA (“Coragem para Fazer um Compromisso”) que circula sobre a necessidade de o centro-esquerda e as esquerdas se entenderem no pós-eleições legislativas, através de um “compromisso programático” (eventualmente assinado também por organizações da sociedade civil) alicerçado nas problemáticas da regionalização e dos sistemas sociais e num desenvolvimento económico fundado na coesão, no conhecimento e na ecologia. Vi também que a petição foi, inicialmente, subscrita por 29 promotores da área do PCP, da esquerda mais radical e do próprio PS, tendo, no momento em que escrevo, já sido assinada por 663 pessoas. Entretanto, surgiu uma outra carta aberta, “Votos por uma maioria plural de esquerda” (“Público”, 04.01.2021, p. 7), assinada por cem promotores, provenientes, designadamente, do jornalismo e do mundo universitário e cultural. Um novo documento no mesmo sentido. Referir-me-ei sobretudo ao primeiro documento (este artigo já estava escrito quando saiu o segundo documento), sendo certo que o objectivo e o enquadramento dos dois documentos é, afinal, o mesmo.
I.
São, sem dúvida, iniciativas louváveis porque traduzem uma concreta intervenção de cidadania activa no processo político, enriquecendo-o. Se é verdade que a fragmentação do sistema partidário (mas também o crescimento da abstenção) tem indiciado ausência de resposta satisfatória do establishment político às expectativas da cidadania, também é verdade que só uma sociedade civil mais robusta e interventiva poderá ajudar à recuperação da crise de representação que daí resultou. Esta solução, no quadro do sistema representativo, até já tem um nome e chama-se democracia deliberativa (veja-se, sobre este assunto, o meu capítulo no livro Estudos do Agendamento, Labcom UBI, 2020, de Camponez, Ferreira e Rodríguez-Días, Org., de acesso livre em https://labcom.ubi.pt/book/364 ), ou seja, uma democracia que valoriza precisamente, e de forma intensa, o papel político da sociedade civil, como nunca antes aconteceu. Papel que não é desempenhado somente em períodos eleitorais, mas também, ou sobretudo, durante o regular funcionamento da vida democrática. É neste sentido que valorizo estas iniciativas. Estas intervenções da sociedade civil são tanto mais importantes quanto sabemos que, fruto da extrema personalização da política na figura dos líderes, as máquinas partidárias estão fortemente submetidas à vontade dessas lideranças personalizadas, tornando-se incapazes de mobilizar a cidadania por contacto directo ou intervenção orgânica para além dos períodos eleitorais, vivendo ao sabor da conjuntura e no interior de uma lógica interna que acaba por produzir inaceitáveis tendências endogâmicas e um real descolamento em relação à sociedade.
II.
Ora, no caso em apreço – as eleições de 30 de Janeiro -, o que está em causa é o desafio entre duas lideranças, a de António Costa e a de Rui Rio, ficando em posição totalmente subalterna a real composição do Parlamento, para além da sua dimensão numérica, e a sua inestimável função e independência. Os deputados foram escolhidos sem grandes e bons critérios de selecção (mas reconheço que, desta vez, não havia muito tempo para o fazer) em listas fechadas que terão como “etiqueta” exclusiva o rosto do líder candidato (o logo do partido é com ele que acaba por se identificar), não a deputado, mas a primeiro-ministro. Ou seja, uma perversão que acontece logo antes de o jogo começar. Na verdade, a composição do Parlamento só interessa numericamente para dar, ou não, uma maioria de governo e um governo que será exclusivamente escolhido pelo líder, sem obrigação de o fazer entre os membros do Parlamento (como acontece no sistema inglês). Em si, como órgão legislativo, o Parlamento pouco parece importar. O que é, isso sim, um grave desvio em relação à própria natureza do sistema representativo, invertendo-se até a própria hierarquia dos poderes, com o poder executivo a subir ao topo da hierarquia, o que contribui para enfraquecer, de facto, a separação dos poderes. Na verdade, num sistema como este, o que os eleitores escolhem não é a composição do Parlamento, mas sim a figura que irá desempenhar a função de primeiro-ministro, aumentando assim a legitimidade deste e o seu poder sobre a maioria que o sustenta e sobre, naturalmente, o próprio partido. Não foi por acaso que alguém, a propósito disto, falou em presidencialismo do primeiro-ministro. Este facto, todavia, tem consequências: perdendo as eleições, este candidato vê a sua legitimidade diminuída para, apesar disso, formar governo com base numa maioria parlamentar, como aconteceu em 2015, e repor, assim, a centralidade (perdida) do Parlamento. Será por isso que António Costa agora diz que se perder sairá, mesmo que haja uma maioria de esquerda no Parlamento? Foi com base numa lógica deste tipo que defendi, em 2004, eleições antecipadas quando Durão Barroso emigrou para Bruxelas.
III.
Em que ponto, pois, nos encontramos? Simples: o líder do PS pede uma maioria absoluta como a única solução que garante estabilidade, apesar de saber que o nosso sistema eleitoral não é amigo de maiorias absolutas (muito menos de um só partido), poucas vezes tendo estas acontecido. Não são, de facto, como por aí dizem, os portugueses que não gostam de maiorias absolutas, mas sim o sistema eleitoral. Por outro lado, e ao contrário do que desejam os peticionistas, António Costa não está disponível para novas alianças que fiquem sujeitas aos humores dos parceiros (foi mais ou menos isto que disse). Também disse que se não ganhar (pelo menos com maioria relativa, digo eu) abandona a liderança do PS. Pergunta: o que lhe resta, pois, para além da maioria absoluta ou de um governo minoritário que cairá à primeira oportunidade?
IV.
Dá a sensação de que António Costa joga tudo por tudo: ou tem maioria absoluta ou sai. Numa situação destas a estratégia da petição e da carta aberta deixa de fazer sentido, a não ser para um período pós-Costa, previsivelmente liderado por Pedro Nuno Santos, a única voz que sempre se fez ouvir sem a necessária autorização do líder (por exemplo, nas presidenciais) e um dos obreiros da famosa “geringonça” e da sua sobrevivência ao longo de quatro anos. E, sendo assim, uma reflexão estratégica para o futuro fará, sim, todo o sentido.
V.
Que reflexão? Em primeiro lugar, sobre a própria política e sobre o estado actual da democracia. Em segundo lugar, sobre a nova identidade da cidadania decorrente da progressiva emergência da sociedade em rede e das TICs. Em terceiro lugar, sobre as estratégias de desenvolvimento, garantindo um eficaz uso generalizado das tecnologias e do digital e a sustentabilidade ecológica. Neste sentido, a petição ganha, pois, relevância e pode ser subscrita e reforçada. Reforçada até na exigência de não se ficar somente pelo acordo escrito e pelos poucos princípios que avança, mas também por uma proposta mais articulada e até por uma cláusula de participação efectiva no governo das forças que a subscrevessem. Densidade programática, a que corresponderia uma densidade executiva, sem que isso viesse a diluir a diferença (mas também a compatibilização) entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade e gerando, por isso mesmo, uma virtuosa ética pública. Algo talvez mais importante do que a própria componente programática.
VI.
O PS sempre foi sozinho, com os seus valores e os seus programas, às eleições e também desta vez irá, exibindo seis anos de governação e projectando para o futuro as suas propostas programáticas. Também irá com um grupo parlamentar que não evidencia grandes novidades qualitativas em relação ao passado recente, constituído por membros do governo (quase um terço – ou seja, quase metade do total dos membros do governo – do que provavelmente será o GP/PS), por candidatos que já eram deputados (alguns dos quais andam por lá há décadas e outros que, tendo transitado da JS, nunca de lá saíram), por outras escolhas pessoais (directas ou indirectas) do líder e por alguns nomes desconhecidos do aparelho distrital. Não me parece, pois, que, no caso do PS, a quebra de tensão ideológica que tem vindo a verificar-se esteja a ser compensada pelo conjunto dos candidatos ao Parlamento ou por um reforço da ligação orgânica do partido à sociedade civil (nem de facto nem de forma organizada). O que representa, na minha opinião, uma grave fragilidade, colocando seriamente a questão da selecção dos dirigentes e dos candidatos institucionais.
VII.
Ou seja, estas eleições poderão vir a ser, afinal, “Mais do Mesmo”, ou, então, poderão constituir uma oportunidade para uma viragem na política do nosso país. Isso dependerá fortemente do voto dos eleitores, uma vez que ele produzirá fortes efeitos internos nos partidos, mas também, ou sobretudo, da classe dirigente e das elites que ocupam posições relevantes no sistema social. Assim tenham elas um sobressalto de urgência e de cidadania nas propostas a fazer, a si próprias e aos cidadãos. Os dois documentos referidos são um tímido sinal do que deveria acontecer de forma mais robusta e articulada.
VIII.
Estes documentos têm ainda um outro significado: o de acrescentar intervenção qualificada de outros protagonistas que não (são) os mesmos de sempre, ou seja, os jornalistas e comentadores que ocupam os interfaces dos grandes meios de comunicação, sempre posicionados como se o país tivesse delegado representação neles próprios, determinando, assim, a partir das suas posições subjectivas e da credibilidade dos púlpitos de que falam, o rumo da política no nosso país. Sou dos que acham que os media exercem “efeitos fortes” sobre o comportamento eleitoral, tendo-o demonstrado abundantemente no meu livro Media e Poder (Lisboa, Vega, 2012), e, por isso, vejo com preocupação a militância aguerrida destes diligentes agentes orgânicos dos vários poderes instalados. Bem sei que as redes sociais deram lugar a outros protagonismos e que acabaram com o monopólio dos media no acesso ao espaço público, em geral, e ao espaço público deliberativo, em particular. Sim, e é um facto positivo, mas o que se torna necessário também é aumentar o nível de organização informal no espaço público deliberativo. Sabemos bem o que está a acontecer no plano autárquico com os chamados movimentos autárquicos não partidários, apesar de uma lei que os prejudica e que, a meu ver, até é inconstitucional. Ou seja, conhecemos a força que estes movimentos de cidadania têm vindo a demonstrar. Ora isto significa que há espaço para que a sociedade civil se faça ouvir com mais força, obrigue a melhores e mais transparentes processos de decisão e (a montante) a melhores critérios de selecção de todos aqueles que, mais tarde, virão a ser dirigentes partidários e detentores do poder formal. É a este processo que eu chamo política deliberativa e democracia deliberativa.
IX.
Não é o caso de aqui fazer um diagnóstico do estado actual da política, porque já o tenho vindo a fazer em inúmeras ocasiões e desde há muito tempo. Mas tenho a convicção profunda de que as mudanças que as nossas sociedades têm vindo a conhecer exigem uma correspondente mudança política que ainda não aconteceu, à excepção dos movimentos populistas, que da mudança só recolhem o que de pior há nela. E, por isso, se o establishment não responder aos novos desafios, sem ser de forma puramente transformista, o que acontecerá é uma brutal viragem em direcção ao autoritarismo, que não interessa a ninguém. É disto que se trata. Mesmo nestas eleições. #Jas@01-2022

Democracia. Detalhe
O LEGADO DE MAQUIAVEL
Por João de Almeida Santos
NOS INTERVALOS DA LONGA LEITURA da “Guerra e Paz” (nunca a tinha lido), do grande Lev Tolstoi, fui lendo o livro de Louis Althusser “Maquiavel e Nós” (Lisboa, VS Editor, 2021, 167 pág.s), que não conhecia. O interesse, naturalmente, era Maquiavel e não tanto o pensamento do marxista estruturalista francês, que conheço muito bem. Havia também um interesse subordinado por António Gramsci, pela proximidade que, há muito, tenho com ele e sobre o qual, há muito, escrevi o livro “O Princípio da Hegemonia em Gramsci” (Lisboa, Veja, 1986) e vários outros ensaios. Razão: as suas interessantes reflexões sobre Maquiavel, ao ponto de terem dado origem a um seu volume intitulado precisamente “Note sul Machiavelli, sulla Politica e sullo Stato moderno” (Torino, Einaudi, 1949). As reflexões sobre o novo príncipe – que, para Gramsci, é o partido político – justificavam plenamente este minha expectativa. E até porque o pensamento de Althusser é muito, mas mesmo muito, influenciado por ele. E, todavia, as incursões no pensamento de Gramsci são, aqui, a propósito de Maquiavel, diminutas, ainda que sempre muito significativas.
As duas obras que servem de referência a esta análise de Althusser, são, como não podia deixar de ser, “O Príncipe” (1513) e os “Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio” (1513-1519).
I.
Se dúvidas houvesse sobre o papel de Maquiavel na fundação da moderna ciência política, a leitura deste livro resolvê-las-ia. Porque ele foi, sim, o primeiro a desenvolver a análise política do ponto de vista da “realtà effettuale”, abandonando definitivamente a imensa ganga ideológica em que sempre se ambientou a análise política anterior, muito em particular durante a Idade Média; e até, como diz Althusser, colocando a sua proposta na óptica de um começo sem compromissos com a realidade política vigente nessa Itália de que se ocupava. Uma reflexão que parte, pois, mais da experiência do que de pressupostos filosóficos ou teológicos. Na verdade, Maquiavel antecipou em muito a exigência de construir um Estado-Nação em Itália, o que, como se sabe, só viria a acontecer com o Risorgimento italiano, em 1861, no qual tiveram relevante influência personagens como Garibaldi, Cavour e Mazzini, decisivos para este importante período da história italiana. Althusser chama, e bem, a atenção para a posição de Hegel relativamente a Maquiavel e para a simetria de ambas as posições relativamente à construção do Estado-Nação, agora, num país que também só mais tarde, com Bismarck, várias décadas depois, se viria a concretizar, materializando-se, assim, na Alemanha, essa poderosa antecipação teórica do filósofo sobre o Estado representativo moderno (o II Reich, em 1871, com Guilherme I e Bismarck). Esta ideia de Estado-Nação em Maquiavel, três séculos antes, é, pois, o centro destas reflexões.
II.
Do que se trata, então, é da questão da construção do principado novo e da emergência do príncipe novo, a que acresce, depois, uma extensa análise sobre como este, em nome do Estado, se deve comportar (politicamente) e quais as condições para construir e conservar esse principado novo. Esta análise (mas também muitos outros aspectos) interessou-me porque veio juntar-se à análise que eu próprio tinha desenvolvido num capítulo do livro organizado por António Bento Maquiavel e o Maquiavelismo (Coimbra, Almedina, 2012), ou seja, no capítulo “Viagem pelas Releituras de Maquiavel”, mas também no meu livro “Os Intelectuais e o Poder” (Lisboa, Fenda, 1999), no pequeno subcapítulo sobre “Maquiavel, Frederico II e o Neomaquiavelismo”.
III.
Outro aspecto relevante, sempre muito discutido ao longo dos tempos, que merece justamente atenção particularizada de Althusser é o da relação entre a moral e a política, estabelecendo uma nítida distinção entre moral e virtù, ou seja, entre princípios morais e sabedoria ou competência política, separando-as precisamente para não contaminar, com comportamentos guiados pela moralidade, a eficácia política na gestão do poder. Ou seja, trata o poder do ponto de vista da sua concreta mecânica, independentemente do valor moral. Sabemos bem como esta separação lhe viria a merecer fortíssimas críticas e acusações, como, por exemplo, acontece no “Antimaquiavel” (1741), de Frederico II (Maquiavel, segundo ele, tem a “intenção de destruir os princípios de uma sã moral” e “o autor ignora até o ABC da justiça e conhece só o interesse e a violência” – veja-se Santos, 2013 e 1999).
Althusser, além disso, detém-se na análise das relações entre a “Fortuna” e a “Virtù” e o seu papel na construção e na conservação do principado novo, ou seja, quando ambas se conjugam virtuosamente, permitindo, assim, a instalação e a duração no tempo do governo do príncipe novo. O modelo de Maquiavel, se de modelo se pode falar, é Cesare Borgia, apesar de, a certo momento, a “Fortuna” o ter abandonado, fazendo fracassar o seu projecto e deixando, pois, de corresponder ao seu modelo: a harmonia entre o bafejo da “fortuna” e a Virtù do príncipe. Virtù que, como disse, não se confunde com rectidão moral, mas sim com capacidade e competência política na construção e no exercício do poder.
IV.
Já sobre os elementos que integram uma política virtuosa, ou seja, competente, o livro ocupa-se deles longamente (mas veja-se também Santos, 2012 e 2013), havendo que sublinhar que, para ele, a política nacional se deve apoiar sempre num exército próprio (nacional, em vez de mercenário ou estrangeiro), em leis, em astúcia e na busca permanente do consentimento popular, lá onde o príncipe deve ser virtuoso, ou seja, ser capaz de assumir, em função das necessidades, comportamentos (não pessoais, mas que visam exclusivamente a estabilidade do poder) independentes das exigências morais, exigindo-se-lhe até que seja, ao mesmo tempo, respeitado e temido. E até mesmo mais temido do que amado. Para Maquiavel, nenhum príncipe que se baseie somente na força (“in sul lione”) se poderá manter no poder, devendo, pelo contrário conjugar a força com a astúcia próprias do leão e da raposa. A palavra virtù, não no sentido moral, mas de capacidade política do príncipe, ou seja, de obediência a todos estes princípios na sua acção, é, pois, central em toda a análise, pois só ela pode garantir o sucesso na gestão do poder, desde que a fortuna não o abandone, como aconteceu com Cesare Borgia.
V.
Na verdade, Maquiavel partia de um pessimismo antropológico que derivava do seu profundo conhecimento da psicologia humana, considerando que a boa política está lá precisamente para responder às tendências e aos desvios que possam pôr em crise um eficaz exercício do poder, neste caso o principado novo, o Estado. Maquiavel integra-se, de facto, e aqui refiro a posição de Carl Schmitt, numa fileira de nomes do pessimismo antropológico que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da teoria política: Hobbes, Fichte, De Maîstre, Hegel, entre outros. Este pessimismo antropológico (embora aqui, curiosamente, fosse um pessimismo de género) está bem ilustrado na sua fábula “Il demonio che prese moglie”, quando Roderigo, o arquidiabo que visitou a terra para saber a verdade sobre as relações entre homem e mulher teve de regressar subitamente ao inferno quando temia, já em França, um inesperado encontro com Onesta, a sua terrível e vaidosa ex-mulher. Uma visão também ela terrível do ser humano e em particular da mulher: melhor o inferno do que a vida terrena. Debrucei-me profundamente sobre este aspecto, o pessimismo antropológico, no meu ensaio “Da Carl Schmitt a Niccolò Machiavelli. La Politica o il Pessimismo Antropologico”, publicado num número especial sobre Maquiavel da Revista que dirigi durante oito anos, ResPublica (13, 2013, 43-61, acesso livre em http://cicpris.ulusofona.pt/pt/respublica/respublica-13/). Ora é precisamente este pessimismo antropológico, ou seja, o reconhecimento “effettuale” e analítico da natureza humana que o leva a formular os princípios e a mecânica a que todo o exercício do poder deve obedecer para obter sucesso na sua gestão.
VI.
A leitura de Maquiavel por Althusser é feita sobretudo ex parte populi, apesar de se concentrar no essencial sobre o príncipe, que até pode ser não nobre, mas simplesmente virtuoso. Esta ideia, que, de resto, defendo no ensaio sobre o pessimismo antropológico, resulta do facto de no centro do seu discurso estar a problemática da construção do Estado-Nação, só possível tendo como suporte central a ideia de povo-nação, e da consequente necessidade de o príncipe manter sempre o seu suporte. Mas também é verdade que este aspecto tem sido muito discutido, chegando-se a defender a ideia de que Maquiavel quis dar a conhecer ao povo a natureza do poder e o modo como ele era gerido ou mesmo promovendo um poder de natureza popular, sendo por isso criticado pelo seu amigo Francesco Guicciardini (Santos, 2013: 56). Ou seja, ainda que em “O Príncipe” ele diga que para se conhecer o príncipe tem de se ser povo e que para se conhecer o povo tem de se ser príncipe, numa dialéctica que parece reconhecer uma autêntica simetria de posições em relação ao poder, a interpretação de Althusser parece de facto sugerir que a sua posição seja de facto ex parte populi. E isto porque o fio condutor da obra de Maquiavel e também deste livro de Althusser é precisamente essa ideia de que a Itália necessitava de superar as divisões de carácter feudal ou as ocupações estrangeiras de parte dos seus territórios criando um Estado-Nação que a unificasse, mas que não reproduzisse à escala nacional nenhuma das formas de governo até então existentes. De algum modo, Maquiavel antecipa os contratualistas, dando um palco político inédito à ideia de povo. Daí que Althusser sublinhe, como central no pensamento de Maquiavel, essa ideia de começo.
VII.
Vale mesmo a pena ler este livro porque ajuda a melhor compreender essas duas obras fantásticas de um autor imortal que têm por título “O Príncipe” e “Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio”, esta última escrita durante anos, desde o ano em que escreveu o primeiro (1513) até 1519.
VIII.
Parabéns, pois, ao Vasco Santos, não só por esta sua iniciativa editorial, mas também, como sempre acontece com as suas publicações, já desde o tempo da Fenda, pela qualidade estética da obra publicada. #Jas@12-2021.
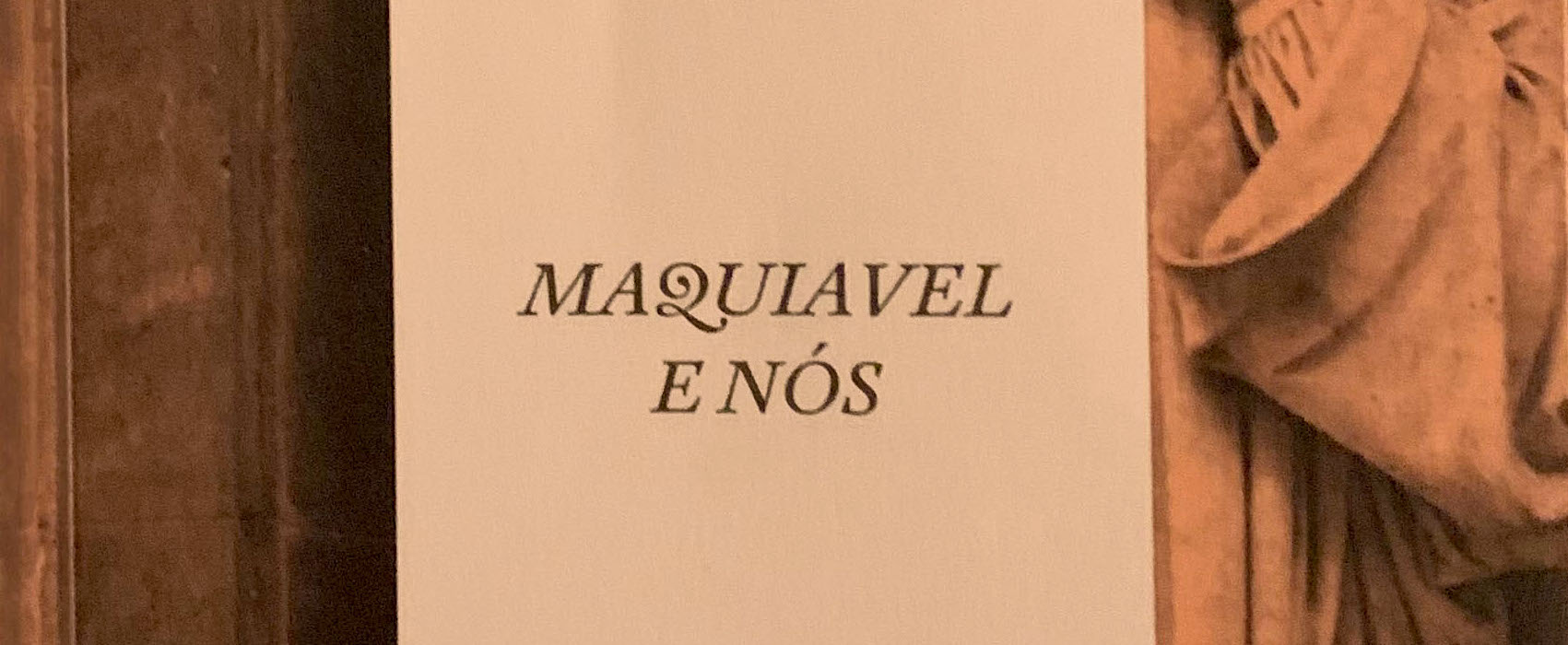
MAIS DO MESMO
Sobre as Eleições Legislativas de 2022
Por João de Almeida Santos
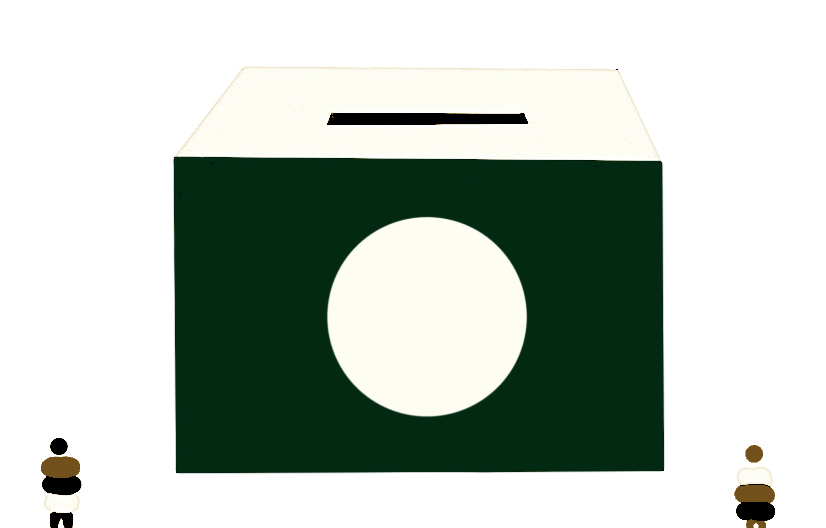
“Democracia”. Jas. 12-2021
POR QUE RAZÃO ESCOLHI este título para um artigo desta natureza? Pela simples razão de que mais uma vez estamos a assistir a um ritual que politicamente nada tem de inovador, apesar das transformações que as sociedades têm vindo a conhecer e que mereceriam uma sua interpretação e conversão política. Por exemplo, a sociedade em rede, a fragmentação do sistema de partidos ou a transformação profunda da identidade da cidadania, não mais redutível à ideia politicamente agregadora de “sentimento de pertença”. As eleições são, por isso, um excelente momento para reflectir sobre o processo de reconstituição do poder, a renovação do contrato social entre a cidadania e as elites políticas. Excelente, porque se tratará de verificar como funciona, a montante, este processo, ou seja, a selecção dos candidatos a representantes por parte dos partidos, detentores do monopólio da representação política no órgão legislativo, sendo certo que, no nosso caso, a máquina que executa esta selecção fica constituída aquando da eleição das estruturas partidárias, desde o nível concelhio até ao Presidente ou ao Secretário-Geral do partido. Daqui a enorme relevância do funcionamento interno dos partidos: a democracia interna, a competência, a eficácia, o compromisso programático, a ética da convicção, a ética da responsabilidade e, finalmente, o compromisso com a ética pública. E eu creio que, por isso, este é um dos aspectos mais relevantes de todo o processo democrático.
I.
ESTA ANÁLISE é, de facto, importante, quando se verifica que inúmeros deputados nem sequer conhecem a natureza do respectivo mandato: Ouve-se-lhes, com demasiada frequência, dizer que são os representantes e os defensores dos círculos eleitorais por onde são eleitos. Bastaria que lessem o n. 2 do art. 152 da CPR, para verem que não é assim: “2. Os Deputados representam todo o país e não os círculos por que são eleitos”. Coisa, de resto, muito antiga: “Article 7. – Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat”. Isto já se podia ler na Constituição francesa de 1791, no art. 7, da Secção III, do Cap. I, do Título III (itálico meu). E ainda acrescento o seguinte: os deputados – e são eles que são eleitos, não os partidos (que detêm o monopólio da propositura, sim, mas não lhes podem revogar o mandato) nem os programas – não levam consigo um qualquer “caderno de encargos” (programa eleitoral), mas tão-só a sua consciência. Também isto parece ser algo que muitos deputados desconhecem. Na verdade, o programa eleitoral é tão-só um dos elementos (que acresce ao “rosto” e à declaração de princípios) que ajudará o cidadão a escolher os seus representantes. Ou seja, temos um problema de literacia política mesmo a este nível.
II.
VEJAMOS AGORA a questão da selecção dos candidatos, que habitualmente fica esquecida ou oculta nas análises políticas, como se fosse algo de importância subalterna ou de insindicável poder decisional dos partidos. E não é. Pelas razões que exponho.
O que se passa, então? Os candidatos a deputados no sistema partidário português não estão, em geral, sujeitos a primárias, sendo certo que os partidos também não adoptam esta prática nas suas eleições internas. Exceptuou-se, no caso do PS, a eleição do actual Secretário-Geral do PS, António Costa, que, curiosamente, é adversário das primárias. E nem sequer as primárias que a direcção de António José Seguro introduziu no PS para a eleição das estruturas dirigentes eram verdadeiramente primárias (sequer internas) pelas drásticas exigências orgânicas que o regulamento impunha a todos os que pretendiam ser candidatos. Na verdade, a selecção dos candidatos é feita, de um modo ou de outro, e como disse, por estruturas já eleitas. Em caso nenhum (relevante e ao contrário do que acontece por essa Europa fora) cidadãos sem cartão partidário são chamados a participar no processo de selecção quer dos dirigentes partidários quer dos candidatos a eleições, sejam elas autárquicas ou legislativas. Numa palavra, não são chamados a participar no processo de produção de uma oferta política que decorre em regime de monopólio do sistema de partidos, no caso das legislativas, prevalecendo, como se sabe, e como lógicas dominantes, a de “nomeação” e a das bolsas de quotas. Casos há de dirigentes que venceram sempre as eleições internas, mas que, quando se apresentaram ao eleitorado (por exemplos em autárquicas) acabaram por perder sempre as eleições. A oferta política não decorre da procura (e de certo modo as primárias abertas é isso que traduzem), mas da identidade ideológica que define os partidos e de critérios orgânicos puramente internos. Isto foi o que sempre aconteceu, enquanto a ideia de “sentimento de pertença” era absolutamente dominante e as ideologias políticas tinham eram expressivas. Mas a verdade é que o mundo mudou e se não é desejável um sistema de partidos configurado exclusivamente à medida do marketing político, também já não é possível manter os partidos como polarizadores exclusivos do “sentimento de pertença”. Entre uma coisa e a outra o que verificamos é que as máquinas partidárias se têm vindo a reproduzir cada vez mais, por um lado, como sistemas fechados animados por pulsões endogâmicas e, por outro, ancorados nas várias instituições do Estado, que lhes garantem a sustentabilidade e a reprodução. Ou seja, o sistema de partidos está mais ancorado no corpo do Estado representativo do que na sociedade civil. E esta é uma tendência transversal no sistema de partidos. A cidadania muda, mas os partidos continuam a aninhar-se cada vez mais no corpo do Estado como condição da sua sobrevivência e da sua reprodutibilidade.
III.
POR OUTRO LADO, o sistema eleitoral que temos, o proporcional, também não ajuda ao aperfeiçoamento do processo de selecção dos candidatos, uma vez que ele funciona com listas fechadas cobertas e sobredeterminadas pela sigla partidária, ou de coligação eleitoral, sofrendo ainda um efeito de arrastamento polarizado pela personalização extrema da liderança e pelas amplas escolhas directas e indirectas do poder partidário central e do aparelho, em circuito fechado.
IV.
SABENDO-SE que a) uma parte consistente dos candidatos é escolhida directamente pelos órgão nacionais, sendo também certo que mesmo onde a selecção recai sobre as estruturas locais (concelhias ou distritais) a influência da direcção nacional é muitas vezes exercida com pouco respeito pela autonomia destas estruturas; e que b) a parte restante é decidida pelo aparelho que foi legitimado por eleições internas sem intervenção da cidadania e determinada em grande parte pelas bolsas de quotas, no fim, c) a constituição das listas de candidatos, e tendo em conta o histórico das eleições anteriores, equivale à decisão da sua eleição efectiva como representantes (dependendo naturalmente do lugar que ocupam na lista), acontecendo que, por isso mesmo, é nesta fase prévia que os futuros candidatos concentram mais os seus esforços (entrar em lugares elegíveis), chegando à competição eleitoral com a sua eleição estatisticamente garantida. No essencial é isto que se passa, até pela natureza do próprio sistema eleitoral.
V.
TENHO BEM CONSCIÊNCIA de que nestas eleições havia muito pouco tempo para lançar procedimentos mais rigorosos e fiáveis na escolha dos candidatos. Mas também sei que, mesmo que houvesse mais tempo, isso também não aconteceria.
VI.
OU SEJA, temos dois momentos prévios às competições eleitorais que não ajudam à boa escolha nem à responsabilização política individual dos candidatos e de quem os escolheu. Com a cobertura da sigla, com as inúmeras “nomeações” de candidatos e com a extrema personalização da política na figura do líder o processo deixa muito a desejar. O voto perde importância e os candidatos pouco ou nada já têm que mostrar e demonstrar ao eleitorado. O essencial da escolha fica feito antes das eleições. Se, depois, lhe acrescentarmos o efeito das sondagens, que, por sua vez, já antecipam os resultados antes do voto, sobrará muito pouco ao cidadão para decidir. A decisão acabará por ter o sabor de uma simples confirmação do que foi antecipado pelas escolhas e, depois, pelas sondagens. Na verdade, nem o processo interno de selecção nem o sistema eleitoral ajudam a uma maior responsabilização dos candidatos, como aconteceria, por exemplo, com primárias e com um sistema maioritário em círculos uninominais.
VII.
PODERIA DAR abundantes exemplos de escolhas sem grande sentido e exemplares dessa prática tão habitual que se designa por endogamia, desde a insistência em repropor (“nomear”) insistentemente candidatos que andam por lá há décadas (alguns há mais de 30 anos no interior da bolha) e que resistem à renovação das listas até escolhas por razões de mera fidelidade serviçal ao líder do momento ou, embora com medíocres prestações governativas, por terem passado pelos governos como resultado de escolhas pessoais do líder, enquanto primeiro-ministro, ou, ainda, em incluir sistematicamente candidatos que não sabem o que é ganhar a vida cá fora, na sociedade civil, porque sempre viveram no interior da bolha partidária, ou, por fim, candidatos filhos das bolsas de quotas partidárias. Poderia, mas não o faço, por pudor.
VIII.
O QUE É CERTO é que o conjunto desta mecânica gera más escolhas, produz endogamia progressiva e afastamento da cidadania e, sobretudo, degrada o processo democrático, induzindo indesejáveis rupturas. De um lado, um sistema de partidos a funcionar em circuito fechado, do outro, uma sociedade civil já a funcionar em rede e dotada de TICs. A velha ideia de “sentimento de pertença” está superada na sua exclusividade, exigindo-se aos partidos mais do que a promoção da crença dos seus valores. Por outro lado, a ideia de hegemonia, no seu sentido mais amplo, parece ter desaparecido do horizonte do sistema de partidos. E, de facto, se procurarmos as estruturas internas que poderiam desenvolver esta ideia não as encontraremos, para além de simples nomes ou de meras intenções. O que se vê, pelo contrário, é o domínio total dos exercícios tácticos para chegar ao poder (ou aos poderes) ou para o conservar e a preocupação em ter boa presença televisiva, na imprensa e nas redes sociais e um bom marketing político. Mas, como alguém disse, esgotar o uso do poder com o único objectivo de o conservar é uma pobre ideia e um lamentável desperdício político.
IX.
QUESTÃO IMPORTANTE é também, e pelas razões já expostas, o da limitação dos mandatos: se ela existe para a Presidência da República e para o poder local por que razão não há-de haver para o Parlamento? Este importante órgão institucional é o lugar a partir do qual a lógica endogâmica melhor se afirma e reproduz, com perda de contacto com a sociedade civil, havendo mesmo casos em que nunca houve esse contacto, essa experiência, por exemplo, em personagens que transitaram das juventudes partidárias directamente para o Parlamento. Nem teoria nem prática. Apenas pertença orgânica e circuitos internos que permitem pontos de fuga institucionais a partir dos quais se consolidam estatutos e se reproduz de forma quase sistémica a classe dirigente. O que não é certamente bom para a saúde da democracia representativa. A representação política não pode transformar-se em profissão sob pena de deixar de o ser, tornando-se auto-representação, onde é a ideia de interesse (pessoal) que ocupa o centro do comportamento político. Assistimos até a uma espécie de desdobramento de personalidade com deputados (e até ministros) a colocarem-se na opinião pública como críticos de um sistema onde estão metidos até ao pescoço. Pura representação cenográfica. Não será muito difícil descobrir exemplos.
X.
MUITO MUDARAM AS SOCIEDADES, mas a verdade é que os partidos políticos não acompanharam as mudanças. E é aqui que reside, em parte, o sucesso dos populismos, de esquerda ou de direita, mas sobretudo de direita. E é aqui que residem as elevadas taxas de abstenção eleitoral e a progressiva fragmentação do espectro partidário. E é também aqui que reside a redução da cultura política a uma mera cultura de “management” sem alma e pendurada nas culturas de marketing, mesmo que seja desse marketing 4.0 que o senhor Philip Kotler já nos propôs.
XI.
BEM SEI que estas eleições, até pelo seu carácter inesperado, não poderiam dar lugar a uma profunda reforma de procedimentos e de práticas. Mas o momento em que acontecem é sempre uma boa ocasião para reflectir sobre o que nelas está em causa, esperando que, algum dia, os partidos, indispensáveis à representação política, possam metabolizar politicamente as profundas transformações que estão a acontecer nas sociedades actuais, se não quiserem tornar-se dispensáveis, dando lugar a regimes autoritários de má memória. Como dizia Norberto, a democracia é um processo tão delicado que até se pode avariar ao mínimo sobressalto. Cuidemos, portanto, dela, porque só assim poderemos cuidar bem de nós próprios.


“S/Título”. Jas. 08-2021.
PRIMEIRO ANDAMENTO: a ida simultânea do PM e dos dois ministros seguintes para férias, ficando Mariana Vieira da Silva (MVS) em funções de PM. Segundo andamento: o Presidente do PS, César, propõe-a como um dos ungidos pelo oráculo do Rato para futuros sacerdotes supremos. Terceiro andamento: o “Expresso”, o missal do regime, noticia que os ungidos pelos senhores do PS para suceder ao actual líder são quatro. A unção parece ter tido lugar no oráculo, tendo depois participado nela o “Expresso”. Quarto andamento: a SIC, terminal electrónico do missal do regime, anuncia urbi et orbi que os quatro ungidos são: Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva e Pedro Nuno Santos. Missão cumprida. O ritual de celebração terá lugar na missa cantada do fim de semana no Algarve, em português.
COMO TUDO NA VIDA, há um aspecto que parece encaixar mal nesta operação: um dos quatro anunciados “papabili” parece não ter sido propriamente ungido, tendo a sua inclusão sido decidida por mera exigência protocolar, porque há muito que tem voz própria e intervém politicamente sem pedir prévia autorização ao oráculo. Falo de Pedro Nuno Santos. Concorde-se com ele, ou não, a sua autonomia é facto por todos reconhecido. Mas, vá que não vá, falando dos outros dois, um até é presidente de câmara eleito, enquanto a outra é líder parlamentar e já foi secretária-geral adjunta, também por vontade do líder, sendo certo que ambos participam sempre nas celebrações como oficiantes. Mas MVS, além de estar no governo por vontade do PM (e certamente do influente Pai), o que é que já fez de politicamente relevante, no governo ou no partido, que justifique tal destaque, tão inopinada promoção?
A OPERAÇÃO é mesmo escandalosa porque a notícia é descaradamente plantada, digo plantada, pelo “Expresso” (não sei se pelo áugure Ricardo Costa) e pela SIC, seu megafone, ao ponto de, nesta última, toda a notícia de terça-feira se ter resumido a promover exclusivamente MVS, silenciando todos os outros. Alguém no PS (mas não é difícil saber quem) urdiu, em tempo de Congresso, este blitzkrieg em quatro andamentos e em aliança com o grupo de Balsemão para inopinadamente colocar a senhora em pole position, pondo na sombra todos os outros, mas, sobretudo, o único que tem mesmo voz própria, Pedro Nuno Santos, conquistada politicamente há muito no interior do partido, mas também nos governos, e sem santos padroeiros.
MAS, PIOR AINDA do que tudo isto, é reduzir, desta maneira, o PS (a que me honro de pertencer) a mera massa de manobra legitimadora de opções de palácio de uns tantos de dentro e de outros tantos de fora. Isto já se viu nestas autárquicas e ver-se-á cada vez mais no futuro se estes processos não forem travados e o partido não for politicamente reanimado. No final, o resultado seguramente não será bom de se ver, a crermos no que está a acontecer com os outros partidos socialistas e sociais-democratas Europa fora. No dia do Congresso – que mais parece uma missa cantada – não poderia ficar calado ao assistir a esta despudorada operação, com assinatura, de promoção de alguém que está ainda muito longe de ter dado provas de consistência política própria que justifiquem uma inopinada subida ao palco da política partidária, mas também à lamentável subalternização da militância e do que deve ser o funcionamento democrático de um grande partido como o PS.
HÁ MUITO QUE DIAGNOSTIQUEI, e repetidamente venho expondo, o que está em causa, mas o discurso sempre caiu em saco roto. Um dos males é a endogamia galopante e o outro a descolagem crescente entre partido e a nova cidadania (para não dizer a própria militância). Males que continuam a crescer, como mostra este episódio. Pois aqui fica o meu protesto e lavrada a minha indignação. #Jas@08-2021
AFINAL, O QUE É O BELO?
PARA SABER VISITE A ANDALUZIA
João de Almeida Santos

“Voando para a Andaluzia”. Jas. 07-2021.
QUANDO o miserabilismo arquitectónico de massas ou a política do mamarracho pretensioso disfarçado de arte conceptual (de vários tipos) se vêm impondo cada vez mais na nossa civilização, um banho de Andaluzia e do legado islâmico nesta belíssima parte de Espanha ajudar-nos-á a recuperar a ideia de beleza arquitectónica, não só física, mas também espiritual. É aquela Espanha que Marguerite Yourcenar, no capítulo “A Andaluzia ou as Hespérides” do seu livro “O Tempo, esse grande escultor” (1983), falando de Granada e de Constantinopla, identificou como “a ponta avançada do mundo da tenda e do deserto instalada nos jardins da Europa”. Esse mundo pensado por um “povo de alquimistas, de algebristas e de astrónomos” (cito da edição da Relógio d’Água, Lisboa, 2020, 141 e 145). Uma civilização que, a olhá-la através deste seu legado, impressiona pela altíssima sofisticação das suas obras de arte monumentais, onde a matéria se espiritualiza através de um requintado trabalho de criação artística.
Foi o que fiz há uns anos. Visitar esses lugares verdadeiramente mágicos: Sevilha, Córdova e Granada. São lugares históricos de embate de civilizações, a islâmica e a católica, lugares de reconquista, impondo, aqui, a separação, política, civilizacional e cultural entre a Ibéria e o norte de África árabe. Mas são lugares onde a história ficou registada no seu mais elevado e sofisticado nível e que, em certos casos, como veremos em relação a Córdoba, a civilização que tomou conta deles não esteve à altura de preservar e honrar a beleza patrimonial legada.
O ALCÁZAR
Quando, em pleno Agosto, cheguei, com a família, a Sevilha deparei com um cenário curioso: ao deslocar-me, a pé, da zona do templo de Macarena, “a Virgem da Sexta-Feira Santa, a Macarena cintilante de pedrarias” (2020: 143), para o centro, às quatro da tarde, encontrei um autêntico deserto humano, fruto de uma mistura entre a “siesta” e as férias dos muitos sevilhanos que abandonaram a cidade e o calor. O centro, esse, estava repleto de turistas e dos resistentes indígenas que trabalhavam no turismo. Deslocámo-nos em direcção à Giralda e, depois, ao Real Alcázar, preparando a meticulosa visita do dia seguinte. O Alcázar arrasa, literalmente: pela beleza do Palácio, pelo fabuloso equilíbrio entre o geometrismo exacto do conjunto e a perfeição minuciosa e quase infinita das formas que o revestem e o envolvem. Trata-se verdadeiramente de um excesso não excessivo. De um excesso que nos convida a pedir mais. De um tesouro tão trabalhado que, paradoxalmente, nos esmaga com a simplicidade da sua beleza. Mas também mistério. Imaginamos olhares furtivos que resistiram ao tempo, eternizando-se por detrás daquelas redes ou filigranas em gesso, pontes entre o desejo oculto e o mundo exposto naqueles salões. Ambientes de mistério e de fuga, de olhares fugazes, de traições e assassínios. Numa Andaluzia dos Califados e dos Sultanados árabes. E de Pedro, «O cruel», ou do poderoso Carlos V. Séculos de intensa vida política, de conquistas e de derrotas. E de cultura requintada. O Alcázar, misto de estilos, mas de imponente e difusa presença estética muçulmana, impressiona. Um verdadeiro complexo estético, mas simples na sua relação com o nosso olhar. Quase me atrevia a dizer que, tendo conhecido o Alcázar antes da Alhambra, a visão desta ficou condicionada por tanta beleza concentrada neste Palácio Real.
ALHAMBRA
A Alhambra, claro, é um enorme complexo monumental que multiplica o que já se vira no Real Alcázar. Em primeiro lugar, a dimensão monumental dos palácios e dos jardins, incluída a residência de Verão dos monarcas, o Generalife. Depois, a localização sobre Granada, em frente ao Bairro Albayzin, na colina oposta. Visão soberba de uma Granada única. O Albayzin e a Alhambra interagem como paisagens em diálogo, estruturando a verdadeira Granada. Qualquer uma das vistas – do alto do Albayzin para a Alhambra ou da Alcazaba ou dos Palácios Nazaríes para o Bairro – é fantástica. Depois, a riqueza interna dos palácios, a sua perfeição geométrica, minuciosa e abundante, deixa-nos perplexos, perante aquele excesso de minúsculas e preciosas formas e materiais que inundam paredes e tectos, gerando, quase paradoxalmente, uma incrível harmonia e simplicidade nos conjuntos. A Alhambra é um poema ao arrojo estilístico, à harmonia, à abundância de formas, à minúcia estética, à perfeição, como se os palácios fossem uma gigantesca filigrana em gesso, lá onde a própria escrita árabe assume um valor estético autónomo, quase indiferente aos seus valores semânticos. Um poema à beleza construída e à espiritualização da matéria a um nível dificilmente superável. A Alhambra é bem o símbolo de um poder que se manteve séculos por estes lados da Andaluzia. Um poder majestático, mas altamente sofisticado, com um profundo sentido do intemporal.
A MESQUITA DE CÓRDOBA
Antes de chegarmos a Granada, detivemo-nos um dia em Córdova. Quisemos revisitar a Mesquita, hoje Catedral católica de Córdova. Já a conhecia, desde os meus tempos de estudo no liceu até visitas recentes. E confesso que quanto mais a visito mais penoso se torna o percurso, porque não consigo compreender aqueles enxertos católicos num monumento tão diferente e tão belo, uma floresta de colunas onde uma luminosidade coada nos convida à reflexão distante e à serenidade. Um lugar de reencontro com nós próprios numa atmosfera predisposta para a espiritualidade sem amarras ou dogmas, religiosos ou de qualquer outra natureza. É um “non-sens” aquela presença difusa em toda a Mesquita dos tradicionais fragmentos iconográficos católicos que chupam literalmente a alma do monumento e a diluem no seu espaço ritualizado, neutralizando-a. Permitam-me que, a este propósito, cite de novo Marguerite Yourcenar:
“Mesmo em Córdova, e apesar de a sua reconquista ao Islão ter acontecido dois séculos antes de Granada e vinte anos antes de Sevilha, o esventramento da mesquita deu-se só no tempo de Carlos V: coube ao barroco atestar, se não as verdades da fé, pelo menos a vaidade dos cónegos. Esta arte de pompa e circunstância atinge o visitante quando, de arco em arco, de coluna em coluna, ele chega ao centro do edifício e desfaz em migalhas, como uma bomba, uma das mais nobres meditações jamais feitas sobre o pleno e o vazio, a estrutura do universo, o mistério de Deus” (2020: 146).
É isto que sente quem entra na Mesquita para a contemplar e fruir da sua beleza e, subitamente, se depara com uma igreja católica no ventre da mesquita, algo que esmaga a espiritualidade que experimenta quem a procura por aquilo que ela é (ou era). “Un pugno nell’occhio”, como se diz em italiano. Um murro no olhar de quem se encontra em sintonia com a singela beleza daquele ambiente. Este choque lembra-me a Igreja de Santa Maria sopra Minerva, ali ao lado do Pantheon, em Roma, e aqueles cristãos primitivos que, como aconteceu com esta Igreja (como se vê pelo próprio nome), construíam os seus templos romanos sobre os próprios fundamentos dos templos pagãos. Não, não estamos perante um diálogo de civilizações. Estamos perante um cruel esmagamento espiritual de uma por outra. Mas a verdade é que a Mesquita, agredida na alma, resiste porque a beleza e a espiritualidade continua a estar do lado dela. Não se trata de crenças religiosas ou sequer de estilos arquitectónicos, mas sim de violência simbólica e de crueldade exercidas sobre uma obra de arte em nome de valores exteriores aos valores estéticos e ao que eles representam. Felizmente que, a seguir, já em Granada, pudemos entrar na Alhambra sem receio de sermos de novo agredidos pelo desvario de quem vê a arte como mero instrumento de poder.
Seguiu-se Madrid, a minha segunda cidade de eleição, a seguir a Roma, mas esse é outro discurso mais longo porque não se pode contar dez anos de intimidade com esta belíssima cidade cuja distância à minha aldeia natal é igual à de Lisboa. Ficará para outra ocasião. #Jas@08.2021.

O GRILO CANTA SEMPRE AO PÔR-DO-SOL?
Reflexões sobre a política em Itália
Por João de Almeida Santos
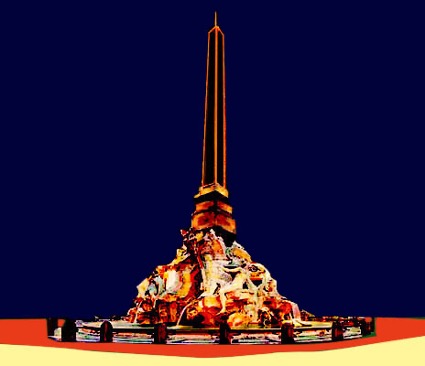
“La Fontana”. Jas. 07-2021
É O TÍTULO (mas sem ponto de interrogação) de um interessante livro-diálogo de Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio e Dario Fo (Milano, Chiarelettere, 2013). Muito aconteceu entre 2013 e 2021. Dario Fo e Gianroberto Casaleggio já não estão entre nós. Casaleggio e o irrequieto Nobel da Literatura partiram ambos em 2016. Beppe Grillo mantém-se activo e, com Giuseppe Conte, acabam de dar início a uma nova era na vida do Movimento5Stelle (M5S) com a convocação de uma Assembleia de inscritos para os dias 2 e 3 de Agosto para a aprovação de um novo Estatuto do M5S. Uma mudança, como veremos, de fundo.
ANTECEDENTES
O M5S é ainda a força política maioritária em Itália, com os seus 32,7% de votos nas eleições de 2018. Governou Itália, primeiro, com a Lega, de Matteo Salvini, e, depois, com o Partito Democratico (PD), até à recente chegada de Mario Draghi e um governo apoiado por todos os partidos, excepto por Fratelli d’Italia (FdI), de Giorgia Meloni. Mas a verdade é que, a crer nas sondagens, o M5S há muito que caiu para menos de metade do seu score eleitoral, perante o crescimento da Lega e de FdI, os dois partidos que estão à frente nas sondagens, com cerca de 20% cada um deles. Dois partidos de extrema-direita. O PD mantém-se em cerca de 19%, enquanto Forza Italia (FI) se situa em cerca de 7%.
As próximas eleições realizar-se-ão, se não forem antecipadas, em 2023 (a legislatura é de cinco anos). E, a manter-se o actual panorama, a extrema-direita poderá vir a governar com maioria absoluta. Entretanto, a mudança de liderança do PD parece não ter produzido uma significativa alteração e o M5S tem vindo a cair drasticamente nas sondagens. A última sondagem vem confirmar a tendência, verificando-se que FdI tem vindo a beneficiar do estatuto de única oposição ao governo de Draghi, chegando à posição de força política dominante (A Euromedia, 15.07.2021, dá os seguintes resultados: FdI, 20,5%; Lega, 20,3%; PD, 19,3%; M5S, 14,3%; FI, 7,5).
No início do próximo ano, terá lugar a eleição do Presidente da República sendo provável que Mario Draghi seja o candidato mais forte, dando lugar, a sua eleição, à queda do governo e provavelmente a eleições antecipadas.
O M5S
É neste contexto que se dá a mudança no Movimento5Stelle. É certo que já por ocasião da formação do governo Draghi se verificou uma grave divisão interna entre os que apoiavam Draghi e os que o não apoiavam. É também certo que a linha afecta a Davide Casaleggio e à Plataforma Rousseau se vinha distanciando da linha oficial. Até por problemas relativos à própria gestão da Plataforma. Por outro lado, a consistência política revelada por Giuseppe Conte enquanto Presidente do Conselho de Ministros posicionava-o cada vez mais como uma boa solução para uma liderança de sucesso do M5S e para a necessária recuperação eleitoral. E foi isso que aconteceu, depois de alguma turbulência e de desentendimentos entre Grillo e Conte. Beppe Grillo, “Il Garante”, a figura tutelar do M5S, e Giuseppe Conte, coadjuvados por uma equipa de notáveis do Movimento, entenderam-se e acabam de propor uma consistente alteração nos Estatutos do Movimento.
Além de enunciarem os cinco princípios nucleares do Movimento, correspondentes às cinco estrelas – Inovação Tecnológica, Bens Comuns, Ecologia Integral, Economia Eco-social de Mercado, Justiça Social -, os Estatutos consagram um modelo claramente presidencialista, centrado na figura e nos poderes do Presidente, e retiram a Plataforma Rousseau dos Estatutos (ela, antes, aparecia referida nos art.s 1 e 4), dando forma ao que já aconteceu de facto. E, na verdade, a nova Plataforma onde se processará a votação dos novos Estatutos já não será a Plataforma Rousseau, mas sim a Plataforma Skyvote. Estes são quanto a mim os aspectos mais relevantes a evidenciar nos novos estatutos – a consagração de um modelo presidencialista (reforçado pela figura tutelar do Garante), a anulação estatutária da Plataforma Rousseau, símbolo da democracia directa on line -, mas também a introdução dos chamados “Grupos Territoriais”, que darão uma dimensão orgânica ao Movimento, não prevista pelos anteriores estatutos, e que de algum modo pode complementar organicamente a dimensão puramente digital. Uma evolução, esta, que se aproxima da estrutura partidária: uma liderança forte e um corpo orgânico, ficando a organização digital reduzida a mero instrumento de voto, de consulta e de comunicação, ou seja, perdendo aquela sua característica de democracia directa digital que lhe era conferida pela Plataforma Rousseau (logo no próprio nome), mesmo se o Presidente do Comité de Garantia Vito Crimi continua a falar de democracia directa digital. Na verdade, a nova plataforma Skyvote é um mero instrumento técnico dos órgãos sociais do M5S que terá o seu baptismo hoje, 21 de Julho, na eleição do candidato a Presidente da Câmara de Turim.
Não são previsíveis os efeitos destas mudanças, mas é provável que a liderança de Conte possa melhorar a performance do M5S e o consenso em torno desta força política. Por outro lado, o PD não tem vindo a subir nem a descer, mantendo-se há muito na casa média dos 19%. De certo modo, M5S e PD poderão representar um bloco de centro-esquerda consistente, mas ainda insuficiente para governar, perante uma direita radical aguerrida que parece recolher um consenso superior, e à qual ainda se junta Forza Italia, com os seus cerca de 7%.
E AGORA?
O M5S em menos de dez anos tornou-se a maior força política de Itália, tendo assumido a liderança de dois governos de Itália, entre 2018 e 2021. Mas a verdade é que em pouco tempo teve uma queda vertiginosa nos consensos, sendo agora difícil recuperar uma parte consistente do que perdeu, mesmo com uma alteração profunda, já em curso. O apoio ao governo Draghi é uma amarra que dificultará uma sua afirmação politica, o mesmo valendo para o PD. O exercício de oposição tem dado a Giorgia Meloni boas oportunidades de crescimento, sendo neste momento, segundo a última sondagem conhecida, a maior força política de Itália. Nunca os herdeiros legítimos de Mussolini tinham logrado alcançar uma tal consistência eleitoral. Se considerarmos a Lega, FdI e Forza Italia, estaremos perante um bloco político de direita com cerca de 48%.
Ao que parece, a direita encontrou o seu caminho de afirmação política, com novas formas de populismo e com a assunção frontal de questões que a política de centro e de esquerda não conseguem assumir ou enfrentar com coragem, diluindo a acção política em tacticismos, em puro marketing e numa linguagem politicamente correcta que, no fundo, traduzem uma profunda crise de identidade política e ideal. A tentação poderia ser a recuperação das grandes narrativas ideológicas e a recuperação da organicidade das formações políticas, mas o que está a acontecer é algo mais profundo. No meu entendimento, o que se está a verificar é um desajuste profundo entre a política convencional e uma cidadania de novo tipo, dotada de instrumentos de informação e de intervenção e de uma mobilidade que antes nunca existiu, não bastando, pois, às forças políticas convencionais os velhos instrumentos de persuasão, sejam eles de natureza orgânica sejam de natureza comunicacional (as plataformas de comunicação tradicionais). As políticas concretas contam muito, mas também aí não se vê ruptura que convença os eleitores. Bem pelo contrário, o que se vê cada vez mais é um mau uso do poder e um relacionamento promiscuo e sem critérios com os poderes económicos. Nem narrativa nem policies consistentes.
CONCLUINDO...
Não creio que esta mudança do M5S venha resolver o problema e impedir que a extrema-direita chegue confortavelmente ao poder. Os consensos perdidos por Salvini desde que deixou o governo não foram capitalizados pelo centro-esquerda, mas sim pela extrema-direita mais radical, levando FdI a passar, em três anos, dos 4/5% para quase 21%. Ou seja, a extrema-direita parece estar a interpretar a política melhor do que o centro-esquerda. Na verdade, o essencial reside em saber interpretar as expectativas da cidadania, focá-las e dar-lhes repostas. As respostas da extrema-direita são diferentes, naturalmente, mas o que deve ser interpretado é o que a generalidade dos cidadãos sente. Olhando para o que se passa nos países europeus o que se constata é que a retórica dos valores se tem revelado insuficiente perante a crueza e a dureza dos fenómenos sociais que ameaçam ou atropelam as sociedades europeias. O que o cidadão pressente é que, por detrás dessa retórica, na verdade o que há é não só um real vazio de valores, mas também um exercício do poder sem balizas morais e casuístico, um tacticismo que gasta o efectivo exercício do poder com o único objectivo de o conservar. Na verdade, o centro-esquerda o que deve é trazer alma à política. Trazer a política de volta. É naturalmente um exercício mais difícil, delicado e trabalhoso do que o de identificar os problemas e propor a sua resolução pela via autoritária, como faz a extrema-direita, mas é essa a missão do centro-esquerda. O que exige também protagonistas à altura do desafio, que seguramente não estão aí ao virar de uma esquina partidária. Sim, mas este é o desafio.
Seria bom que Itália não tivesse de passar por um tempo de governação de extrema-direita para se aperceber que não é essa a solução. E, todavia, a esquerda não tem sabido antecipar os tempos para recolher consensos que lhe permitam evitar a catástrofe política. Sim, é verdade. Querem um exemplo? Matteo Renzi, o desastrado percurso de uma infeliz existência política. O seu caso diz tudo sobre um certo centro-esquerda que tem governado Itália. E mais não digo, na esperança de que se forme um sólido bloco de centro-esquerda capaz de travar a resistível ascensão da extrema-direita ao poder em Itália. #Jas@07-2021.

Reflexões sobre a Arte
O MUNDO COMO GALERIA DE ARTE II
Por João de Almeida Santos

“Inscrições”. Jas. 07-2021.
O MUNDO COMO GALERIA DE ARTE (“in nuce”) será sempre observado, como é natural, com olhar esteticamente comprometido, existencialmente exposto e animado pelo desejo de o elevar, de o representar com as categorias da arte onde a intencionalidade do artista determina a relação. Do artista, digo, não do sujeito empírico que também habita o corpo do artista. A objectividade não é categoria central na relação estética. Sei bem a diferença que Nietzsche, em “A Origem da Tragédia” (Lisboa, Guimarães Editores, 1972), estabelece entre o “artista subjectivo” e o “artista objectivo” (1972: 55) e a referência à superação da “subjectividade” pela sintonia com o “sofrimento primordial”, com o “abismo mais profundo do Ser” (1972: 56). Mas esta “subjectividade” artisticamente desviante (“a má arte”) a que ele se refere é o império do “eu”, do desejo e da vontade individuais, opostos à “contemplação pura e desinteressada”, embora reconheça que a superação desta “subjectividade” acontece “por influência dionisíaca”. O que será, depois, completado pelo espírito apolíneo, no processo de recriação formal. São as categorias estéticas e o espírito apolíneo que acabam por finalizar a relação entre o olhar esteticamente interessado e o objecto, densificando-a. O objecto é o resultado de uma intencionalidade estética que se eleva sobre a mera relação psicológica do artista com o real. Um olhar que se materializa na obra de arte e que, depois, é devolvido ao mundo recriado, mais belo e mais rico, quando a solidão da recriação é partilhada, se torna pública. O artista permanece solitário, é verdade, mas é um “solitário em público” (Thomas Mann, Considerazioni di un Impolitico, Milano, Adelphi, 1997: 37-38).
ARTE E LIBERDADE
A arte como arma transformadora que produz efeitos sobre o real só se compreende quando é preciso lutar em condições de falta de liberdade. Quando faltam condições para que ela própria se possa exprimir como arte. Como luta pela existência e pela sobrevivência, usando recursos próprios que não podem ser confundidos com os instrumentos da política, essa sim, operacional e instrumental. Concordo com o que Thomas Mann refere nas Considerações (1997: 544) acerca da irresponsabilidade do artista (em regime de liberdade). Porque ele não se move por uma ética da responsabilidade, de compromisso, mas sim por uma ética da convicção estética. O que faz toda a diferença. E a diferença reside precisamente na liberdade. Que tem de ser total. Há uma frase, nesta obra, que ele atribui ao “político do espírito” (e que aparece num escrito do irmão Heinrich Mann), que merece atenção: “a liberdade é a dança báquica da razão”. Uma “perífrase poética do conceito de liberdade nihilista e orgiástico”, como ele diz (1997: 543). Bacchus, o sucessor romano de Diónysos, o deus grego, convocado para a dança da razão, quando esta decide embriagar-se. A liberdade surge aqui ligada ao furor dionisíaco a que se entrega a razão ou o próprio espírito apolíneo quando a abraçam – dança báquica, embriaguez existencial. E é nesta condição de liberdade dionisíaca que acontece o acto de criação. É o que diria Nietzsche, que, em “A Origem da Tragédia”, verbera precisamente o movimento contrário, representado por Sócrates, quando diz que “munida com o chicote dos silogismos, a dialéctica optimista expulsa a música para fora da tragédia: quer dizer, destrói a própria essência da tragédia, essência que tem de ser interpretada como manifestação e objectivação de estados dionisíacos, como simbolização visível da música, como mundo onírico de embriaguez dionisíaca” (Nietzsche, 1972: 112). Ou Schiller, citado por Nietzsche (1972: 55), sobre a poesia: “Um certo estado musical da alma é o que precede e faz gerar dentro de mim a ideia poética” (1972: 55-56). Porque há sempre um pathos que estimula o artista e o desafia a criar ou que até se lhe impõe verdadeiramente como exigência, como alimento da alma, como razão de sobrevivência, como resposta a algo que o real não está em condições de oferecer a uma alma em alvoroço e incapaz de se adaptar à desordem do real. Mas, depois, quando a viagem se inicia, se dá a descolagem, então, o voo não tem limitações que não sejam as do génio, da técnica, da inspiração, do estro. É voar em liberdade, bater as asas em direcção ao fio do horizonte, movido pela paixão. Na arte sobrevoa-se o real como a montanha se eleva sobre o vale. Se é verdade que a propulsão é sempre a vermelho, o percurso é sempre em azul. O azul representa a liberdade da forma e da criação. O vermelho, a propulsão, a energia que leva a que descolemos do vale em direcção à montanha. É dança báquica, furor. A liberdade está, pois, no princípio e no fim. Pelo meio, há um arco-íris, uma ponte entre as encostas da montanha e sobre o vale. E é nele que o artista se senta quando está cansado ou quer olhar para o vale da vida com maior detalhe. Mas é também sentado nele, nessa ponte, que o artista escolhe as melhores cores com que quer olhar para o vale da vida. É nas gotículas do arco-íris que o artista molha o seu pincel para pintar o vale e a vida que ocorre nele.
O ARTISTA É IRRESPONSÁVEL?
O artista é irresponsável? Sim, sem ofensa, claro. Não deve tocar no real sequer com a ponta dos dedos, diria o descomprometido Bernardo Soares. Não há artistas responsáveis, preocupados com os efeitos das suas obras, que não sejam de natureza estética, preocupados com o olhar desconfiado dos outros, que não seja sobre a beleza do que é oferecido, ou então empenhados em mudar o mundo, que não seja na forma como se olha para ele, através da sua obra. Que não é um olhar político ou interesseiro, mas estético. Claro que todos os artistas gostam que se veja o mundo como eles o vêem. É por isso que o pintam, com palavras ou com riscos e cores. E o oferecem assim materializado. É natural e compreensível. Mas isso não significa que criem para o transformar, como se se tratasse de uma arma apontada ao status e pronta a disparar para produzir a mudança. Não, não lhes compete a eles fazer isso porque adulteraria a sua linguagem e comprometeria o espírito contemplativo, a sua visão e a sua liberdade. Não é isso. O objectivo é o belo ou então a representação esteticamente comprometida das pulsões que movem comportamentalmente o ser humano, como faz o expressionismo com o grotesco ou o teatrodança da Pina Bausch. Tudo num plano que escapa ao olhar distraído das visões pragmáticas do real. A arte não visa efeitos práticos. Se visar não é arte. Quando muito, os efeitos práticos podem socorrer-se da arte. Mas isso é outra coisa.
Se um poeta escrever para resolver um problema que o real lhe criou e que ele não consegue desatar com as categorias da pragmática, porque na verdade não se ajeita com as coisas práticas da vida, essa resolução é de outra ordem e tem leis próprias que só obedecem ao princípio da liberdade e às categorias da arte. Há dias tive uma discussão acerca de uma personagem do meu romance “Via dei Portoghesi”. Alguém me dizia que o autor foi injusto no retrato daquela personagem, não enquanto personagem, mas enquanto retrato de alguém que poderia ter inspirado o autor para criar essa mesma personagem. Fiquei espantado porque isso indiciava uma leitura do romance por aquilo que ele não é, ou seja, uma descrição de um estado de facto, de algo concreto. Tive, pois, de explicar que essa personagem tem vida própria e que tem uma função, no interior do discurso, que está ligada às funções das outras personagens, à textura e ao sentido geral da narrativa. Nesta textura, a personagem já descolou totalmente do referente real (se ele existir). E, mais ainda, o autor até já perdeu alguma liberdade de o redesenhar à sua medida porque ele se inscreve numa narrativa que se torna completamente autónoma. Na arte não há compromisso possível com os referentes. Gosto de dizer que, tal como os sistemas, a narrativa, seja ela de que natureza for, romanesca ou poética, tem uma dimensão autopoiética, desenvolve-se e expande-se internamente sem recurso a elementos que lhe sejam exteriores. O que não significa, naturalmente, que não haja um ponto de contacto, algo parecido com o que os neopositivistas chamam “proposições observativas” ou “proposições elementares” (Wittgenstein), que o referente não permaneça lá de forma remota, somente como marca, rasto ou mero indício. “Não, ele não era tão mau como tu o pintaste”, disse. Respondi que a outra personagem também não era tão esplendorosa ou deslumbrante como a pintei. Ou seja, não andei por ali, no romance, a fazer ajustes de contas ou a exibir as minhas preferências humanas. Não, isso não seria arte.
É claro que numa obra de arte há sempre referencialidade e intertextualidade, que remetem sempre para algo exógeno a essa concreta obra de arte. São esses os fios que a ligam ao real e à comunidade em que se inscreve. Algo real, sim, mas remoto, como se fossem pegadas da passagem da realidade pela obra de arte.
A OBRA DE ARTE E O REFERENTE
Dirás tu, cara Amiga: “nunca conseguirás evitar que sejam feitas leituras deste tipo das tuas obras. Como, de resto, até já te aconteceu, segundo julgo saber. Pelo menos, por quem julga identificar personagens concretos nas tuas obras”. Sim, reconheço. Mas o problema não é meu. Nunca ouviste dizer que a arte aspira à universalidade? Como poderia então ficar prisioneira de algo concreto? Os filósofos sabem bem do que falo e todos conhecem o velho problema dos universais, da relação entre o universal e o particular ou sensível. Lá onde o universal não pode estar contaminado pelo particular porque, desse modo, deixaria de ser universal – universalizar-se-ia algo que, afinal, é tão-só particular. Há até quem diga que este é o mecanismo (absolutizante) da ideologia. E até houve quem procurasse encontrar o ponto elementar de contacto entre o universal (o sistema) e o particular (o individual, o concreto), como os neopositivistas. As tais “proposições elementares” ou “observativas”. Não quero dizer tanto como se diz do Poema de Parménides: do ser só se pode predicar negativamente porque qualquer predicação positiva determina o que, afinal, deve conservar-se indeterminado. Não, não quero, mas enquanto artista também não desejo ficar prisioneiro de um qualquer referente que me tenha estimulado, ateando fogo ao espírito dionisíaco, não atingindo a dimensão apolínea. Não seria arte, como se diz, e bem, em “A Origem da Tragédia”. “Ah, mas não és tu que dizes muitas vezes que nos teus poemas procuras sempre interpelar alguém em concreto e que é isso que te leva a procurar a perfeição para conseguires seduzir com maior eficácia?”. Sim, é verdade, mas é uma mera técnica, já que é possível que essa personagem não possa ser interpelada, porque não está lá, não vê nem lê o que escrevo. Porque está surda e muda perante o meu canto. Mas eu ajo “como se”, digamos, num plano transcendental. É, portanto, uma personagem reinventada como leitora virtual, como objecto virtual de interpelação e de sedução pela arte, na verdade, mais sedução da alma do que do corpo. É assim que funciona, descolando de um real que só existe na minha imaginação, apesar de poder existir na memória como referente real. Mas é elemento mnemónico, portanto, filtrado, de um passado que já passou. Quem interpelo é essa personagem da minha memória que eu finjo que está ali em frente de mim para ser seduzida e deste modo resgatar-me do mau desempenho que tive e que me levou a procurar a poesia e a pintura para conseguir, por outras vias, o que o real me negou. É aí que o tempo se pode tornar o grande escultor desse passado que já passou, mas que se conservou filtrado pela memória. E melhorá-lo, torná-lo mais belo do que era (para mim).
A ARTE E O ESPÍRITO DIONISÍACO
O artificialismo nunca deu bons frutos. Eu tenho sempre de olhar para o mundo nem que seja através da minha memória, dos apontamentos que sobreviveram à voracidade do tempo. Quando, em A Origem da Tragédia, Nietzsche valorizava, na tragédia grega, o elemento dionisíaco era a isto que se referia, ao fervilhar da vida, considerando o domínio do apolíneo que se lhe seguiu, na evolução da arte, um seu empobrecimento real. De certo modo também Heidegger viu no triunfo do racionalismo na história do pensamento ocidental um esquecimento do Ser, o mesmo empobrecimento. E não é por acaso que ele encontra precisamente em Nietzsche o momento de viragem desse secular racionalismo (o último dos metafísicos) para a redescoberta do Ser. Um filósofo de transição. Um filósofo que valoriza o espírito dionisíaco. Mais recentemente, a obra de António Damásio tem vindo a enfatizar o papel do sentimento no processo cognitivo e racional. Tudo isto vem valorizar o papel da arte na nossa relação cognitiva com o mundo, na forma de o representarmos e de o metabolizarmos para efeitos de gestão da nossa própria existência. Sim, o mundo como uma galeria de arte “in nuce”, pronto para ser reinterpretado e reinventado por nós para que se torne mais belo do que já é, sim, mas também para que se torne mais nosso. No quadro com que ilustro este texto, “Inscrições”, revelo vida que se insinuava numa pedra de granito amarelo, completando as formas larvares inscritas nela, enriquecendo-a e devolvendo-a ao mundo mais rica de elementos que sempre escapariam ao olhar distraído do observador ou ao olhar interessado de quem a quisesse usar simplesmente para efeitos práticos, por exemplo, numa construção. Eu devolvo, mediada por mim, a pedra de granito como arte e ponho-a à consideração dos que a possam ler como objecto que já está para além da sua utilidade prática. Uma verdadeira mudança de perspectiva, que é o que a arte é. Um olhar sobre o mundo que faça dele uma galeria de arte em gestação.

Reflexões sobre a Arte – A Dança
DO BALLET AO TANZTHEATER
Por João de Almeida Santos

“Il Ballo”. Jas. 07-2021.
TENHO, AQUI, VINDO A DESENVOLVER algumas reflexões sobre a arte, em particular sobre a poesia e a pintura, procurando determinar, não só a identidade formal de uma obra de arte, mas também as variáveis fundamentais que a integram quer na óptica do criador quer na óptica do fruidor, visto o relativismo a que está sujeito o juízo de gosto. Procuro hoje desenvolver uma reflexão global sobre a dança, desde os seus primórdios como arte, do ballet à modern dance, para chegar, depois, à riquíssima obra de Pina Bausch, ao Tanztheater. Este caso é particularmente significativo na discussão acerca da natureza da arte, acerca do belo e da dimensão cognitiva da expressão artística, num género que parece apontar para uma identificação da arte como desvelamento de sentido, revelação, como verdade, no sentido da palavra grega (alêtheia), e, por isso, como expressão estética com dimensão verdadeiramente ontológica. Veremos por que razão. Começo, pois, por identificar as variáveis fundamentais que integram o bailado enquanto arte, nos seus primórdios, para depois traçar a sua evolução até ao Tanztheater, sobre o qual farei uma reflexão mais aprofundada, para chegar a uma conclusão acerca da natureza da dança como arte e da arte em geral, retomando algumas considerações de um recente ensaio que aqui publiquei sobre a arte em van Gogh e Heidegger.
A ilustração é um original de minha autoria que alude às variáveis presentes na obra da grande coreógrafa alemã. Junto, assim, à reflexão, um exercício de pintura sobre o mesmo tema.
I. AS ORIGENS DO BALLET
- Por ballet pode entender-se hoje uma forma de arte centrada na dança e construída através de movimentos (sete, fundamentais, na dança clássica: «plier», «étendre», «relever», «élancer», «glisser», «sauter», «tourner»), figuras, gestos, passos, posições que ganham sentido plástico num «espaço» coreográfico mais global que compreende, além da geometrização corporal do movimento, música, cenografia e guarda‑roupa (Vittoria Ottolenghi).
ORIGINARIAMENTE, e até há bem pouco tempo, o termo ballet referia-se sobretudo à chamada dança clássica, académica ou d’école, que mergulhava as suas raízes mais remotas numa linguagem coreográfica nascida nas cortes renascentistas italianas e francesas e codificada, primeiro, por Beauchamps, em finais do séc. XVII, na Académie Royale de Danse (fundada pelo «Rei bailarino», Luís XIV, em 1661), depois, no séc. XIX, pelo napolitano Carlo Blasis (1795‑1878), verdadeiro pai da técnica do ballet clássico (no Tratado teórico, prático e elementar sobre a arte da dança) e, no séc. XIX/XX, pelo romano Enrico Cecchetti (1850‑1928), cujo método persiste, ainda hoje, como fundamento do ensino do ballet clássico.
O ballet nasceu em Itália, como «ballo di corte». Além da dança, da música, do canto e da recitação, implicava também, na maior parte das vezes, elementos cenográficos móveis e muito elaborados. O «ballo di corte» difundiu-se em França nos fins do séc. XV e, nos séculos XVI e XVII, com o nome de «ballet de cour», tornou‑se o espectáculo de corte por excelência. Desde então, e até finais do séc. XVII, a história do ballet é, em grande parte, a história do «ballet de cour» francês. Com Lully, compositor francês de origem italiana, o ballet de corte evoluiu em sentido teatral e moderno, a «opéra-ballet» e a «comédie-ballet»: tratava-se de verdadeiras óperas ou comédias nas quais a dança, entendida também como pantomima nobre ou cómica, era um dos elementos fundamentais (embora ainda com carácter essencialmente ornamental) e já executada por bailarinos profissionais. Após crise, no séc. XVIII, Georges Noverre (1727‑1810) introduziu o «ballet d’action», qual tentativa bem precoce de fusão da dança com o teatro, ao mesmo tempo que o napolitano Salvatore Viganò (1769‑1821), sob inspiração dos trabalhos de Noverre, criava os fabulosos «coreodramas», que exprimiam uma unidade intrínseca e expressivamente autónoma de dança, de pantomima e de música. Não por acaso, Fokine, já no séc. XX, retomou o «coreodrama» de Viganò, fazendo dele um importante ponto de referência da coreografia contemporânea.
Mas o momento essencial da história do ballet foi a introdução das «pontas», em período romântico, 1829, “por obra” de Filippo Taglioni (1777‑1871) «e graça» de sua filha, a etérea Maria Taglioni (1804‑1884). Desde então, tal técnica alargou‑se aos palcos de toda a Europa, dando origem a belíssimas figuras femininas, etéreas, pálidas, transparentes que, depois de 1832, não mais haveriam de largar, no típico e universal ballet romântico, aquele famoso complemento das pontas que é o «tutu», também criado por F. Taglioni para La Sylphide (1832). Ambos, «pontas» e «tutu», viriam a constituir os elementos figurativos característicos do ballet romântico e, por extensão, do ballet clássico. A ideia de mulher ideal, etérea, transparente, sobrenatural, irreal é, aliás, bem traduzida cenograficamente precisamente pela transparência e pela inocuidade cromática do «tutu» e pelas «pontas» (sempre cor-de-rosa pálido). Mas toda a ideia de leveza quase irreal, já dada quer no carácter «fabuloso» do conteúdo narrativo quer no aspecto sempre idílico e paradisíaco da cenografia, era traduzida por dois elementos técnicos essenciais, a élévation e o ballon, que exprimiam o domínio da espiritualidade sobre um corpo que, «animado», consegue não só elevar-se do solo (élévation), mas mesmo ficar como que suspenso no ar (ballon) ou, de qualquer modo, contrariar a lei da gravidade.
- Clássicos ballets românticos são, além de La Sylphide, Giselle (1841), Copélia (1870), O lago dos Cisnes (1877), A Bela Adormecida (1890), O Quebra‑Nozes (1892).
O ballet romântico, como se sabe, impôs-se de tal modo que até há bem pouco tempo dominava em absoluto os palcos de todo o mundo, reduzindo, perante o grande público, naturalmente, a própria ideia de ballet ao seu conceito romântico: dança de conteúdo narrativo «fabuloso» e idílico executada com virtuosismo técnico e, sobretudo, rigidamente predeterminada nas figuras, nos passos, nas posições.
II. DOS “BALLETS RUSSES”
AO “TEATRODANÇA”
FOI O EMPRESÁRIO RUSSO DIAGHILEV (1872‑1929), com os Ballets Russes, o grande propulsor do ballet de vanguarda do séc. XX e promotor de uma galeria de coreógrafos que haveriam de marcar o futuro da dança até hoje:
- Fokine (1880- 1942), Nijinsky (1890‑1950),
- Massine (1896‑1979), Balanchine (1904‑1983).
Mas, simultaneamente, nos EUA, começava a despontar uma geração que iria romper, de modo muito mais radical do que os Ballets Russes, com o ballet clássico, inaugurando aquela «modern dance» que hoje influencia poderosamente o mundo da dança: Isadora Duncan (1878‑1927) e Marta Graham (1894-1991), entre outras. Se os Ballets Russes sempre mantiveram um contacto estrutural com o ballet clássico, pelo menos no plano técnico-formal, o mesmo já não acontece, por exemplo, com I. Duncan: ela visava uma crítica global do ballet d’école, procurando superar não só a rígida pré-determinação formal do movimento, mas também, obviamente, os «invólucros» corporais através dos quais se exprimia, «pontas», «tutus», etc., libertando, de uma só vez, o corpo.
O movimento que se inicia com Diaghilev e com I. Duncan marca de modo mais ou menos revolucionário o nascimento de formas de dança novas em relação ao tradicional ballet blanc, sejam elas mais radicais como, por exemplo, a modern danceproposta por Marta Graham, grande inovadora quer no plano coreográfico e expressivo quer no plano estritamente técnico (técnica Graham: contraction‑release), ou por um Merce Cunningham (1919-2009), cultor de uma lógica pura do movimento em chave relacional, não por acaso ligado às experiências do compositor americano de vanguarda John Cage, ou, então, menos radicais, como Balanchine, que recupera em chave moderna as virtualidades formais do sistema académico‑clássico conjugadas com a mecânica construtiva do discurso musical.
A nova dança caracteriza‑se, nos seus traços mais universais, por uma absoluta centralidade concedida a um corpo‑sujeito (e não simples instrumento operativo e ornamental subordinado, ao serviço de oníricos conteúdos narrativos) produtor de geometrias esteticamente expressivas e de sentido, e, de qualquer modo, fonte de expressividade construída através do movimento e de figurações. Um corpo-sujeito autor de movimentos e figuras no espaço cenográfico, numa linguagem própria. Neste novo mundo da dança, a comunicação estética pode assumir formas com dominante semântica ou pode exprimir-se através de puras formas geometricamente expressivas, figuras em movimento ou em equilíbrios progressivos, mas descontínuos. Ou seja a descontinuidade (ou o contraponto) como elemento diferenciador relativamemte à rítmica musical que acompanha o movimento. A dança moderna pode, assim, assumir-se como um são e livre formalismo aleatório de tipo relacional, mais próximo de um Cunningham do que do ballet abstracto ou neoclássico de um Balanchine, ou, então, assumir‑se como dança expressiva, cenográfica e coreograficamente rica, densa e figurativamente significativa, mais próxima de um Maurice Béjart (1927-2007) ou de uma Marta Graham, ou mesmo fundir‑se ela própria expressivamente com outra forma estética de «reinvenção» essencial do mundo da vida ‑ o teatro ‑, como no teatrodança de Pina Bausch (1940-2009), como veremos. A descontinuidade que marca a transição do ballet d’école para o ballet moderno, a modern dance ou o teatrodança exprime-se essencialmente na passagem de uma construção narrativa e sua expressão coreográfica – através de movimentos, posições, figuras, passos subordinados, articulados como mera ilustração de um conteúdo narrativo pévio, de uma semântica externa – a uma produção directa de sentido por um corpo-sujeito; quando da condição de puro instrumento narrativo e ornamental o corpo passa à condição de sujeito livre, construtor de sentido, produtor directo de formas e figuras esteticamente expressivas, ponto de partida para a comunicação estética. Em síntese, o corpo liberta-se e autonomiza-se como produtor directo de significado esteticamente expressivo. É o que acontece de forma muito intensa em Pina Bausch e no seu Tanztheater.
III. O TEATRODANÇA – PINA BAUSCH OU A DANÇA EM MOVIOLA
- «O fim é sempre o teatrodança, entendido como forma e técnica da coreografia dramática em relação ao seu libreto, à música e, em primeiro lugar, aos seus intérpretes; na escola e no «Tanzstudio» a nova técnica de dança deve tornar-se o medium suprapessoal, objectivo da dança dramática, até incluir gradualmente na nova disciplina a dança clássica tradicional». Kurt Jooss
MOVIOLA
HÁ NESTAS AFIRMAÇÕES de Jooss (1901‑1979) uma ideia recorrente na dança moderna: retomar, após a libertação do corpo e a superação da rigidez das fórmulas clássico-académicas, o património técnico do ballet clássico, pondo‑o ao serviço do novo sujeito-corpo, doravante senhor do seu próprio mundo estético-expressivo e livre criador de sentido. Não sei até que ponto Pina Bausch, que de Jooss foi discípula, fez realmente este esforço de reconciliação produtiva com o património clássico. É certo que do teatrodança de Bausch não se pode dizer que seja «belo», se por beleza se entender uma certa quietude e harmonia de formas e movimento. Bausch é violenta, agressiva. É fragmentária. Analítica. E, todavia, produz arte, se a entendermos como expressão intensiva, essencial e estilizada de relações que escapam ao olhar distraído e, de algum modo, predeterminado do nosso quotidiano. «Nalguns pontos, diz Bausch, é possível ver tudo, mesmo se procurámos controlar-nos (…), é possível ver também onde há algo de reprimido. Existem ainda pontos críticos onde as pessoas não pensam em controlar-se». A Pina Bausch interessa, como ela própria diz, «o que move os seres humanos, não tanto o modo como se movem». O que significa uma ruptura com a ideia de movimento geométrico e de harmonia ideal do movimento ao serviço da sensibilidade. Mais do que uma expressão extensiva e geométrica do movimento fim-de-si-próprio, ela dá-nos uma visão descentrada, fragmentária, mas intensiva e repetitiva e, por isso, violenta, de relações, posicionamentos, gestos existenciais, vitais, que desloca dos seus contextos naturais, para os decompor, os analisar em moviola. Fazendo quase fotografia animada. Alguém disse, não sem razão, que a régie de Pina Bausch «se inspira na lógica da montagem cinematográfica» (Schlicher, 1989: 124). Há nela, sem dúvida, um exercício de desconstrução analítica, de desmontagem, de tipo cinematográfico, de gestos, comportamentos, atitudes, acções e reacções como núcleo central das suas coreografias.
Sabe-se que Pina Bausch recupera, de facto, fragmentos da vida real ou imaginária dos seus bailarinos, os selecciona, os secciona, os recompõe, lhes retarda o movimento, os faz executar em obsessivas repetições. O seu princípio de realidade mais imediatamente visível é sempre, de algum modo, a cenografia, os elementos espaciais escolhidos para base das evoluções – terra, água, folhas secas, relva -, combinados sapientemente com uma arquitectura cénica bem marcada pela passagem do tempo social, histórico ou primordial. Mas também os próprios movimentos contêm intrinsecamente um princípio de realidade: são gestos, desencontros, violências intra-humanas. A violência torna-se, depois, mais pura, na repetição, no automatismo, no ritmo progressivo e martelante, no embate físico contra formas rígidas, na força bruta com que se rasgam espaços, na procura desajeitada e brutal da liberdade ou de uma comunicação tortuosa que, por vezes, se torna grotesca. O sistema de Pina Bausch está todo aqui. Nisto reside a sua originalidade: na desestruturação da ordem do quotidiano e na recomposição das suas intensidades subliminares através de uma técnica teatral. Uma desestruturação analítica, selectiva, com ritmo lento, repetitivo e obsessivo que assume reflexivamente a reversibilidade do próprio tempo cénico:
- uma mulher e um homem que se atiram mútua, repetida e violentamente contra uma parede (Café Müller);
- um homem que rasteja, sofrendo violentamente, arrastando consigo uma mulher-boneca e que, batendo regularmente as palmas, comanda os movimentos de cena ao arrepio da música de Béla Bartók (Blaubart);
- dois grupos de homens que forçam, com violência, um beijo entre um homem e uma mulher, empurrando a cabeça de um contra a do outro (Auf dem Gebirge);
- um homem em fato de banho com touca e óculos de sol que repetidamente tira balões dos calções (da «braguilha») para depois os encher, encher… até rebentarem;
- dois homens, um sentado, com um balão entre as pernas, o outro, de pé, que repetidamente lhe estica a cabeça para trás o mais possível para, depois, a deixar cair violentamente sobre o balão;
- dois homens que ajudam uma mulher a subir e a descer (de costas), no plano vertical, uma parede, como se estivesse em plano horizontal;
- um cretino que rebenta balões com o rabo;
- imitação de um salvamento (nadando sobre terra);
- um homem que tenta levantar voo com duas cadeiras enfiadas nos braços (Auf dem Gebirge).
Quase um teatro do absurdo que traz à boca de cena um certo bas-fond das rotinas quotidianas, a violência reprimida que explode em gestos grotescos e irracionais. Violência pura, porque não referida a um contexto ou a uma narrativa articulada, mas exposta em fractura através de fragmentos aleatórios em contexto cenográfico bem definido. Fragmentos de um discurso estético sobre a violência, onde os corpos e as suas relações são sujeitos produtores de sentido ou da ausência dele.
FRAGMENTOS DE VIOLÊNCIA
“AUF DEM GEBIRGE HAT MAN EIN GESCHREI GEHOERT” (1984) é um espectáculo de cerca de três horas bem elucidativo do que é o teatrodança de Pina Bausch. É uma visualização completa e analítica de miragens, sonambulismos, petrificações existenciais, movimentos de brutalidade em estado puro. Dizia a crítica italiana Vittoria Ottolenghi, referindo-se à sua primeira visão de Café Müller (1978), que se tratava de uma violência gratuita que não existia na realidade; mas, mais tarde, reconheceria que, afinal, se tratava de uma admirável expressão intensiva e, portanto, artística da violência pura. A realidade expressa por Pina Bausch existe, não é pura ficção. O que ela faz é tornar visível a brutalidade latente no quotidiano, passá-la analiticamente ao ralenti, analisá-la ao microscópio e, depois, aumentá-la até um plano visível, demasiadamente visível para não ser tornar chocante, grotesca e impressiva. Creio que a violência latente e múltipla é o tema dominante do Tanztheater de Pina Bausch. A técnica do ritmo lento e da repetição obsessiva é o meio que torna essa violência pura e, por isso, aparentemente absurda. Chocante, portanto. Em tudo o que ela tem de aparentemente gratuito. Depois, as miragens, esses desejos deslocados do seu húmus natural, são meios expressivos para comunicar a impossibilidade de realização dos desejos fortes, mas simples, às vezes infantis. Há, de resto, muito de recuperação do imaginário infantil no teatrodança de Pina Bausch: as cenas de Blaubart (1977), em que as mulheres, com movimento brusco e sempre mecânico, concedem o travesseiro às cabecinhas carentes de homens que, ávidos, se atiram para ele. É uma visão violenta da carência difusa de ternura. É um modo brutal de exprimir a relação homem/mulher/mãe na sua expressão primordial.
A dança, aqui, parece reduzir-se às exigências dramáticas e expressivas e perder aquele formalismo que sempre foi recorrente, em maior ou menor grau, na dança moderna, pelo menos nos seus grandes expoentes, de Balanchine a Marta Graham, a Cunningham, a Béjart, ao próprio mestre de Bausch, Jooss. É verdade o que José Sasportes afirma sobre os filões presentes em Pina Bausch: «Do expressionismo Bausch retoma a visão trágica do mundo, mas corrige-a com uma ironia herdada do surrealismo e do teatro do absurdo. As imagens encadeiam‑se como num jogo de associações de ideias» (Sasportes, 1988: 145). Mas talvez não seja tão pacífico afirmar que o verdadeiro tema do seu Tanztheater seja de carácter metodológico, isto é, a própria criação coreográfica. Pelo contrário, os verdadeiros temas são o medo, a violência arbitrária ou pura, o conflito irreconciliável entre homem e mulher, a exterioridade impositiva das relações, mesmo das relações de afecto (os beijos fisicamente forçados por outrem, a sexualidade fisicamente impositiva ou normativamente comandada). Trata-se, no meu entendimento, de uma dimensão de nível ontológico: a expressão estética de categorias existenciais estruturantes do mundo da vida. Trata-se de uma viagem ao centro da existência. Por isso mesmo, a sua criatividade é, mais do que uma «invenção do mundo», uma lente de ampliação das relações de violência, de agressividade ou de incomunicabilidade radical contidas apenas nos limiares das regras de convivência quotidiana, do mundo da vida social objectiva. O que é seguramente mais profundo do que inventar um mundo quem sabe como e a partir de quê. E é por isso mesmo que «a passagem entre palco e plateia está em Bausch sempre aberta», que «a circulação é possível», que «as acções são ora atrozes, ora de ternura, ora de um infantilismo insuportável, ora de um delicado [ou patético?] lirismo, ora brutais, ora cómicas, muito cómicas» (Sasportes, 1988: 147). Talvez se trate, de facto, de um real inédito, tão inédito quanto o é o contexto e o ritmo com que são propostas as acções, sem predeterminação formal, na verdade; de descoberta não do mundo, mas de um mundo, de um mundo parentético que decorre com o seu ritmo próprio nas entrelinhas, nas hesitações, nos interstícios, nas dobras do mundo real, das normas de comportamento, da existência. Não se fica, pois, este exercício, no terreno do discurso da dança, no plano metodológico. E também não me parece que seja um exercício de “mise-en-abîme”, uma representação da dança no interior da própria dança.
DANCE IS EMOTION, NOT MOTION
O TEATRODANÇA DE PINA BAUSCH propõe‑nos friamente fragmentos de crueldade existencial, de violência, de grotesco, de autopunição através de uma rítmica corpórea obsessiva e mecânica, linear e temporalmente reversível, cadenciada segundo tempos interiores, à margem da norma social.
E a «dança»? E as formas puras do movimento em puro equilíbrio geométrico sem corpos opacos e rígidos que se lhes oponham, que choquem com elas para lhes impedir a leveza, a rapidez, a agilidade, a harmonia? Não há. Tem razão Sasportes quando supõe o espanto dos americanos: «toda a bagagem emotiva que julgavam ter sido varrida para sempre por Balanchine e Cunningham, ei-la reentrar pela janela, mais viva que nunca» (1988: 150). Ou, como quer S. Schlicher: «por esta sua recondução do movimento e do corpo à sua história [à sua génese e ao seu contexto] o Tanz Theater alemão distingue‑se da modern dance americana» (1989: 132). Dance ‑ diria eu, invertendo a fórmula de Alwin Nikolais e procurando traduzir a filosofia de Bausch ‑ is emotion not motion.
Não há dúvida de que, com Pina Bausch, se afirma uma variante da dança moderna que tem raízes antigas na história da dança, que chegam mesmo até ao «Ballet d’action» de Noverre ou aos «coreodramas» de Viganò. Mas aquilo que, assim, ganha em sentido ou em intensidade dramática talvez o perca em leveza ou em «beleza» formal.
DANÇA, BELEZA, VERDADE
MAS, AFINAL, O QUE É A BELEZA? Depurar rítmica e figurativamente movimentos subliminares ou de fronteira da existência humana usando a expressão corporal é certamente conforme à essência da arte da dança se é verdade que na sua história originária ela era a forma mais total de exprimir o espírito objectivo das comunidades primitivas nos seus ritmos vitais. Por isso ela é bela, mesmo se pode contrastar com o espírito racionalista e formalista da civilização ocidental moderna. Digamos que a proposta de Bausch é mais dionisíaca que apolínea, próxima da tragédia grega e do que dela pensava Friedrich Nietzsche, em “A Origem da Tragédia”. E, todavia, o «irracionalismo substancial» de Pina Bausch (o elemento dionisíaco) é, afinal, «construído» através de uma metodologia analítica bem mais racional e elaborada (o elemento apolíneo) do que parece. Ela, afinal, procura, com a rapidez do movimento, com a repetição, com a exactidão do gesto, com a multiplicidade dos fragmentos existenciais, com a visibilidade obsessiva das suas categorias existenciais e com a consistência da semântica (as categorias da estética de Calvino) dar-nos conta, de forma intensiva e com vigor expressivo, do universo subliminar que se insinua insistentemente no nosso quotidiano.
Num certo sentido, o Tanztheater de Baush pode muito bem inscrever-se naquela visão da arte como desvelamento, revelação do que permanece socialmente reprimido em nós, uma ida até aos confins do inconsciente, a esse universo pulsional que não pode ser integralmente vazado em comportamento socialmente aceitável ou admissível. O que fica nas margens do possível, do dizível, da norma, do sociável. Uma visão ontologicamente bem radicada no mais profundo da natureza humana. O que Bausch faz é um exercício de decomposição de comportamentos ou manifestações ancoradas nesse universo pulsional através de uma técnica “em moviola”, cinematográfica, que expõe à evidência esse universo, reprimido ou manifesto. Como que transfigura para mostrar melhor esse universo que a norma social tende a reprimir e a sufocar. Tudo é violento, sarcástico ou absurdo. Num certo sentido, o Tanztheater funciona como uma representação da verdade (humana) no que ela tem de mais profundo e talvez de mais irracional, trazendo-a à cena e de forma artisticamente analítica, o que quase se configura como um oxímoro. Heidegger tinha esta visão da arte, uma certa expressão da verdade no seu sentido grego, “alêtheia”, desvelamento, revelação. Poderíamos mesmo falar, neste caso, de uma dimensão ontológica do teatrodança e de uma sua função não somente estético-expressiva, mas também cognitiva acerca da natureza humana. A fórmula de Alvin Nicolais (dance is motion not emotion), invertida, é, de facto, neste caso, muito certeira: “dance is emotion not motion”. Não querendo parecer um discípulo de La Palisse, a dança moderna não pode deixar de aspirar não só ao belo, à perfeição formal, à harmonia impressa no movimento sem deixar de expressar e suscitar no movimento o sentimento, tornando-se deste modo uma outra linguagem que exprime, com as categorias da arte, o ser, o humano nas suas fronteiras comportamentais. Creio que não seja legítimo afirmar que as coreografias de Pina Bausch não são belas na sua própria crueldade e sarcasmo, sendo certo que a beleza tem uma dimensão formal, resultando também da expressividade da totalidade, a cenografia, o movimento e os corpos. Está longe, é certo, do conceito clássico de belo, da beleza do ballet clássico, sim, mas ainda que a semântica seja violenta o conjunto e o movimento que nele acontece é sempre belo e, algumas vezes, mesmo muito belo. Essa, de resto, é a linguagem própria da arte. #Jas@07-2021.
NOTA
Pina Bausch nasceu em 1940, em Solingen. Entre 1955 e 1959, estudou com Kurt Jooss na Folkwangschule, onde se diplomou. Em 1960, frequentou em Nova Iorque a Juillard School of Music, tendo como mestres, entre outros, José Limón, Antony Tudor e Louis Horst. Trabalha com Paul Taylor. Em 1961, torna-se bailarina do Folkwang-Ballet, dirigido por Jooss. Colabora com Jean Cébron. Em 1967, torna-se coreógrafa do Folkwang-Ballet e, em 1969, recebe o Primeiro Prémio no Segundo Concurso Internacional de Coreografia de Colónia, com In Wind der Zeit. Entre 1969 e 1973, torna-se directora artística do Folkwang-Tanzstudio e docente da Folkwanghochschule. Em 1973-1974, torna-se directora e coreógrafa da companhia dos Wuppertaler Bühnen, ou seja, do Wuppertaler Tanztheater. A cidade de Wuppertal fica conhecida em todo o mundo graças à sua Companhia.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OTTOLENGHI, Vittoria (1975).
“Balletto”, in Enciclopedia Europea, Milano, Garzanti (vol. II, pp. 28-37).
SASPORTES, José (1988).
La scoperta del corpo. Percorsi della danza nel novecento, Roma-Bari, De Donato.
SCHLICHER, Susanne (1989).
L’avventura del Tanz Theater. Storia, spettacoli, protagonisti. Genova: Costa& Nolan.

O MUNDO COMO GALERIA DE ARTE
Por João de Almeida Santos

“Desassossego”. Jas. 06-2021
ESTA FIGURA parece ser, pelo menos por fora, a de um conhecido desassossegado. Estes óculos exprimem toda uma filosofia, toda uma visão do mundo. Óculos a mais para rosto a menos. Eles, apesar de tudo, reflectem um certo verdor com que o mundo se exprime. Mas um verdor mais verde do que o verde deste mundo. Ah, sim, o verdor espiritual, o que é pintado com palavras. Bem poderia ser, pois, o indivíduo que leva sempre a renúncia a peito e que se identifica com um tal Bernardo Soares. Sim, esse, o do desassossego. Um tipo muito cerebral. Talvez até demais. Personagem estranho e pouco dado às cedências da vida vivida, que não à vida pintada com palavras, seja de que forma for. O tal que, estranhamente, não se ajeita com a poesia. O que é estranho, porque filho de peixe deveria saber nadar. Ou que nem sequer se ajeita com a vida, o que já seria mais natural. Há por aí tantos que não se ajeitam com ela (mas não sabem)! Um indivíduo, este, que tem o espírito e a alma franzidos pela aspereza e pela contingência do existir. E que o levam a reiterar teimosamente a sua militante dissidência. A sua dissidência estética da vida. À sua maneira, um insurgente existencial que tem como única arma de combate a palavra. Ele move-se a partir da superfície plana da existência (é assim que a assume) para dentro, fala de si para si e o seu olhar é como que devolvido pelos óculos, que se lhe colam ao rosto como sua pele. Óculos como espelho da alma mais do que espelho do mundo, trabalhados a cinzel como se quer a um filósofo que goste de poesia, embora não se ajeite com ela. Como se o meio fosse a mensagem – uma mensagem “ocular”, com uma estranha cor, a dos óculos, que lhe devolve um real já pré-representado por si. Os óculos como terminal de um cérebro autocentrado. Digamos a verdade: não há existência tão verde como o verde que se reflecte nos seus óculos. Talvez nem sequer haja existências verdes, mas somente existências com algum verdor. E talvez nem sequer a sua alma reflicta tanto verdor. Eles, os óculos, na verdade, são mais um espelho do espírito do que da alma. Nem espelho do mundo nem da alma, mas do espírito. É este, o espírito, que pinta o verdor com palavras. Afinal, alma e espírito não são a mesma coisa, pois este é culto e aquela, a alma, pode não ser. Falo no plano transcendental, claro, embora um espírito que não seja culto é mais alma do que espírito. A alma não tem de ser culta. A alma sente e o espírito pensa. Mas pode haver um sentir inteligente, uma alma que pensa? Talvez não, porque a inteligência tende a embaciar o sentimento. Tal como o sentimento embacia a inteligência. Pelo menos em parte, porque não fluem, ambos, livremente, turvando-se mutuamente. É como o amor. Não há amor inteligente, mas amor feliz… e doloroso. O amor é mais da ordem da alma do que da do espírito. É por isso que se diz “dor de alma” e não “dor de espírito”. E, por isso, o espírito, é perigoso para o amor. E ele, o Bernardo, afinal, vê sempre o amor com o filtro espiritual dos seus óculos. E desenha-o com palavras, isto é, neutraliza-o ou, pelo menos, relativiza-o. Ou seja, anula-o, porque o amor tem de ser incondicionado, não pode ficar engavetado em palavras.
HOMEM COLORIDO,
MAS CINZENTO NA ALMA
Pois, com estas cores que o tornam aparentemente mais irreal e, por isso, mais perdurável, é mesmo ele, o homem da renúncia, o que nunca se deixa ir para não se perder, ao sair de si, o que quer perdurar… à força de sentimentos desvitalizados e transfigurados. O que olha – o olhar deveria ser tudo – para a vida como para uma galeria de arte. Aquele que olha para um rosto como se fosse uma fotografia pendurada numa parede. E que não toca nele sequer com a ponta dos dedos. Tudo parece ser, para ele, um pretexto para redesenhar o mundo no seu estirador mental. Como fazem os melancólicos profundos quando se sentem impotentes para o mudar. Desenham-no com as cores da utopia. Sim, sim, apesar de eu ter dúvidas de que o Bernardo alguma vez tenha querido mudá-lo na sua mundana escala. Ele não se mistura com essa irrelevância da vida vivida. Porque ela é banal, andam por lá todos…
Na verdade, este homem colorido tem o corpo confundido mais com o espírito do que com a alma. Só se lhe vê a parte de cima, o sítio onde está o espírito, de propósito, o que não aconteceria se tivesse jeito para a poesia e andasse por aí aos trambolhões, dorido de alma. Neste caso, haveria de se lhe ver o peito. Mas não, porque também tem a alma confundida com o espírito, numa progressiva redução de planos, ou camadas. Ele, afinal, é um desdobramento do seu artífice, esse espírito voraz, capaz de (in)digerir o mundo. Uma bela operação, diga-se. As palavras viram-se para dentro dele, dobradas sobre si, e o bigode (que está lá, mas não se vê) é a porta fechada da sua fala. Uma fala espiritual. Resistente e fechada, à força, não vá a tentação abri-la e deixar escapar um reles sentimento carnal ou uma comprometida e ridícula declaração de amor. Não. Para renunciar é preciso força de vontade e alguma crispação. Lábios apertados até se anularem na superfície lisa do rosto. A boca, tal como os olhos com os óculos, está protegida pelo bigode e pelos lábios apertados. O bigode é o arame farpado que lhe protege a alma tal como os óculos são o muro que o protege das vulgares insídias do real, do canto das sereias. Que mais se poderia imaginar senão isto, quando olhamos para os seus óculos e para esse chapéu amarelo de tanto sol apanhar? A verdade é que o espírito, mais do que a alma, precisa de sol, mas que não seja em demasia, para não o encandear ou mesmo incendiar.
INDIFERENÇA SENTIMENTAL
“INDIFERENÇA SENTIMENTAL” – dizes. Essa eu até a reconverto em palavras ao rubro com a alma aos pulos, livremente, à minha vontade e até contra mim e tudo o que eu próprio planeei para ser eventualmente feliz. Ah, como é bela a indiferença, se for minha e a puder converter em autêntica diferença. Ser indiferente de forma original é cultivar a diferença e afirmá-la perante iguais. Até a gravata me torna mais encrespado com o exterior de mim. Agarra-me pelo colarinho e não me deixa ir. Sou livre à força… quase à forca. Morrendo para fora à medida que vivo para dentro… de mim. E, depois destes óculos me terem protegido quando “uma rajada baça de sol turvo (quase) queimou nos meus olhos a sensação física de olhar”, passei a olhar quase só para dentro, olhando de través para fora, sem tirar os óculos… Hum, só o suficiente. Minimalismo visual, diria. Cedendo apenas um pouco à exigência desse objecto que tenho no meu rosto acastanhado e a que chamam “óculos”. Nome tão estranho como o de “olho”… esse nome que tem essa sonoridade seca que tristemente exibe. Prótese quase supérflua porque não me serve para ver o essencial. Que está dentro de mim. Tudo o resto é puro pretexto e, portanto, só serve para ser visto de través. Os meus óculos são mais um muro do que uma prótese para ver o mundo. Quando falo para o mundo as palavras fazem sempre eco no muro e saem fazendo ricochete nele.
METAMORFOSE
“QUE OS TEUS ACTOS sejam a estátua da renúncia, os teus gestos o pedestal da indiferença, as tuas palavras os vitrais da negação” – é isso que sentes, ó rosto acastanhado, quando falas da vida? É isso, renúncia, indiferença e negação? Tudo pela negativa? A vida é só metamorfose espiritual? É metempsicose? Com a fixidez desse teu olhar escondido atrás dos óculos metabolizas e suspendes a vida, para a viveres interiormente de forma mais intensa? Está atento, que a vida ainda pode atropelar-te.
QUESTÃO DE LUZ
“UM AMARELO DE CALOR estagnou no verde preto das árvores”, dizes tu, com esse ar sisudo, de caso. Mas foi por baixo que estagnou… sim, no teu rosto, quase te queimando para a vida. Estagnou em ti porque estavas sob esta copa pouco frondosa, mas suficiente, que é esse teu chapéu amarelo. Mas, mesmo assim, o teu rosto pintou-se de castanho, marca da passagem tangencial do sol por ele. Sim, sim, o castanho está perto de ti porque não é humanamente real e faz de ti um ser livre e solar. Foi o sol que te queimou a alma e te pôs castanho por fora. Questão de luz, meu caro. Sobrou-te o espírito, eu sei, e só com ele te debruças sobre o mundo. Sem alma ou com ela queimada, de tanto sol cair sobre ti. Queima-se a alma, liberta-se o espírito. Parece-te sensato? Não, não parece, mas não posso esquecer que tu és um insurgente existencial.
EM SUMA
ACHO, POIS, que te chamas mesmo Bernardo Soares e que gostarias de ter jeito para a poesia. Até porque o que tu vês é o mesmo mundo que vêem os poetas. Foi por isso que o teu pai te arranjou tantos irmãos poetas, sabendo muito bem que a poesia não é para todos. Sobretudo para os que fecham as portas ao real e ao embate da paixão. Às fraquezas da alma. Claro, a poesia está perto demais do sentimento, da emoção, da vida e correrias o risco de te deixares ir na onda da sua perigosa e lamentável fugacidade. Seres como os outros na sua triste corporeidade sujeita à prisão do banal e corruptível sentimento. Oh, isso é que não. E o castanho ajuda à renúncia, pois ajuda. Logo, ajuda a procurar a beleza intemporal, a que não é corruptível, biodegradável. Castanho não é azul nem vermelho. Um é etéreo demais e o outro é demasiado emocional. Por isso, é melhor conservares-te assim e não saíres de ti a não ser o estritamente necessário, só para espreitares, de esguelha, a realidade. De qualquer modo, esse pouco de vida de que precisas estará sempre lá, não desaparece. E assim ainda serás maior (por dentro) do que o tamanho do que vês (por fora), se é que vês mesmo. Porque vês com os teus sentidos interiores, apesar do sinal enganador desses teus óculos aparentemente tão comprometedores e instrumentos de observação do exterior. Olha, se te deixasses ir um pouco até à vida achas que te tornarias banal? Ao menos toca-a com a ponta dos dedos e, se for o caso, depois desinfecta-a com palavras um pouco mais fortes ou até mesmo mais ácidas. Ah, bem sei! Não tens jeito para a poesia e achas que só ela é que te poderia salvar em caso de perigo, em caso de contágio. Mas tenta, meu caro, tenta, não sabes quanta metafísica pode haver na ponta dos dedos quando eles folheiam o real, sobretudo num poema, e o poder que têm de te resgatar dos fracassos da vida. Tens tanta poesia lá em casa! E da boa! Bom, mas não te quero convencer porque, como dizia o outro, o acto de convencer alguém é pura violência, é tentativa ilegítima de lhe colonizar a alma, de impor superioridade espiritual. E eu, que sou poeta, prezo muito a liberdade, a minha e a dos outros. E, portanto, também a tua.

AS CATEGORIAS DA ARTE EM ITALO CALVINO
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 06-2021.
«CEUX qui sont accoutumés à juger par le sentiment ne comprennent rien aux choses de raisonnement, car ils veulent d’abord pénétrer d’une vue et ne sont point accoutumés à chercer les principes. Et les autres, au contraire, qui sont accoutumés à raisonner par principes, ne comprennet rien aux choses de sentiment, y cherchant des principes et ne pouvant voir d’une vue” ». Pascal, Pensées, I. 3.
ITALO CALVINO (1923-1985) fora convidado em 1984 a fazer um ciclo de conferências na Universidade de Harvard, as famosas «Charles Eliot Norton Poetry Lectures». Da preparação destas conferências resultou um livro, póstumo, que, sob a responsabilidade de sua mulher, Esther Calvino, foi publicado pela Garzanti, em 1988, com o título de «Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millennio» – «Six memos for the next millennium» (Milano, Garzanti, 1988). Do livro constam cinco reflexões sobre os valores ou as categorias essenciais da literatura a salvaguardar para o milénio que já se iniciou há duas décadas: «leveza» (leggerezza; lightness), «rapidez» (rapidità; quickness), «exactidão» (esattezza; exactitude), «visibilidade» (visibilità; visibility), «multiplicidade» (molteplicità; multiplicity). A sexta seria a categoria da «consistência» (consistency) e referir-se-ia a Bartleby, de Melville.
São as categorias da arte com as quais o criador tem sempre de se confrontar, pois, como queria Pascal, a sensibilidade tem o seu próprio modo de relacionamento com o real, em particular no plano cognitivo. A arte fala do real e para o real, mas à sua maneira, com as suas categorias e a sua especial abertura ao mundo. Vejamos o que diz o autor de “Le Città Invisibili”.
VISIBILIDADE «Stiamo correndo il rischio di perdere una facoltà umana fondamentale»: «pensare per immagini».
Ponto de partida de Calvino é a questão do destino da literatura e dos seus valores fundamentais perante a emergência daquela civilização que é conhecida como civilização da imagem. O perigo, para ele, reside na perda de uma «faculdade humana fundamental», a de «pensar por imagens», perante o colossal dilúvio de imagens prefabricadas, produzidas por essa tão moderna quão sufocante «civilização da imagem», por uma incessante produção industrial de imagens para rápido consumo de massas. Pelo contrário, “pensar por imagens” significa precisamente construí-las, significa activismo mental, activismo da imaginação, da fantasia. “Antigamente”, diz Calvino, “a memória visiva de um indivíduo estava limitada ao património das suas experiências directas e a um reduzido repertório de imagens reflectidas pela cultura: a possibilidade de dar forma a mitos pessoais nascia do modo como os fragmentos desta memória se combinavam entre eles em aproximações inesperadas e sugestivas» (Calvino, 1988: 91). Trabalho artesanal do criador em ambiente de escassez de imagens. Esta escassez aguçava o engenho mental que as reconstruía auxiliado por um património cultural também ele escasso e de limitado e difícil acesso. Hoje, o perigo reside na impossibilidade de continuar a poder «evocar imagens em ausência». Porque são elas a atropelar a nossa imaginação, de tão abundantes e acessíveis serem. Trata-se, pois, de defender a centralidade do valor da visibilidade, a genuinidade do «cinema mental» da nossa imaginação (1988: 83), contra essa «chuva ininterrupta de imagens» com que os mais potentes media inundam o mundo e o multiplicam através de um fantasmagórico jogo de espelhos (1988: 58), quase ao limite da violência simbólica. Trata-se, em suma, de salvaguardar essa capacidade de pensar por imagens e de pensar imagens, de evocar imagens em ausência e de as suscitar através da linguagem discursiva, num complexo processo de recriação. Pelo que a máxima é a do Dante da Divina Comédia: «poi piovve dentro a l’alta fantasia» (Alighieri, D., Tutte le Opere, Milano, Mursia, 1969, p. 181) e não a de uma videocracia em expansão universal: chove fantasia prefabricada, confeccionada em enlatados audiovisuais ao alcance de todos e de cada um. A imaginação literária é, bem pelo contrário, mais complexa e reflexiva, já que para a sua formação concorrem diversos e sofisticados elementos ou mecanismos que interagem criativamente com o mundo: a observação directa e partilhada do mundo real, o processo de abstracção, condensação e interiorização da experiência (de importância decisiva tanto na visualização quanto na verbalização do pensamento), o mundo figurativo transmitido pela cultura nos seus vários planos, a transfiguração fantasmática e onírica (Calvino, 1988: 94). Numa palavra, o confronto directo com a realidade, sem a mediação selectiva a acabada das centrais de informação. Calvino repristina o valor da experiência directa, da mediação selectiva e da recriação através de um processo que reactiva a imaginação e a sua composição discursiva.
LEVEZA «La mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso».
É claro que a visibilidade, no complexo processo discursivo de reconstrução da essencialidade do mundo da vida, está ligada por um fio directo a esse outro valor da leveza, aquela mesma que se tornava possível a Perseu pela visão indirecta, através do espelho de Atena, da cabeça petrificante da Górgone, da Medusa ou, se quisermos, desse fardo pesado que uma visão imediata, não mediada pela reflexão, das coisas, dos eventos, do mundo da vida arrasta necessariamente consigo. Recuperação da visibilidade, sim, mas com o filtro selectivo do pensamento e da imaginação. Ora a operação literária de Calvino consiste precisamente nisso: na subtracção de peso à opacidade do que se insinua imediatamente disponível, inerte e pesado num mundo condenado à petrificação, justamente por esse domínio do imediato, como a visão directa da cabeça da Medusa. A superação desta visão imediata é já por si mesma um acto de liberdade e, por isso, uma subtracção de peso à existência, uma oposição ao «inelutável peso do viver». Não residia a força de Perseu na sua recusa da visão directa? De que lhe serviriam as sandálias aladas se alguma vez olhasse directamente a cabeça da Medusa que sempre trazia consigo? A dádiva de Atena, deusa da sabedoria e da inteligência, o espelho, permite-lhe subtrair-se a essa visão directa petrificadora, portadora de peso, de opacidade, de inércia, afinal, características de um mundo que se oferece à visão ingénua e passiva do observador. Porquê Athena? Precisamente porque é a deusa da arte e da sabedoria. E porque o seu espelho é a cultura e a reflexão. O imediatamente acessível constringe e, por isso, acresce peso ao viver. Há, pois, que olhar para o mundo de forma indirecta, mediada, para aceder à sua dimensão mais essencial, como, afinal, faz a própria ciência: «hoje, cada ramo da ciência parece querer demonstrar que o mundo se funda sobre entidades subtilíssimas: como as mensagens do ADN, os impulsos dos neurónios, os quarks, os neutrinos vagantes no espaço desde o início dos tempos»; depois, a informática, o software, os bits sem peso de um fluxo de informação que corre em circuitos sob forma de impulsos electrónicos. O ideal estético da leveza parece, pois, encontrar um autêntico suporte científico e ontológico capaz de confirmar a sua essencialidade. E não só na era pós-industrial ou pós-moderna. Mesmo nas suas origens mais remotas, como no tempo de Lucrécio ou de Ovídio, a leveza era um modo poético e escrito de ver o mundo que se fundava quer na filosofia quer na ciência. Lucrécio (De rerum natura), em Epicuro. Ovídio, em Pitágoras (1988: 9-12). A leveza possui, pois, uma dimensão mais profunda do que o simples estilo narrativo, a textura verbal ou a pregnância das imagens figurativas. Possui uma dimensão ontológica onde se apoia mais profundamente esse «dispositivo antropológico que a literatura tende a perpetuar»: o nexo, qual constante antropológica, entre levitação desejada e privação sofrida (1988: 28). Daqui a «função existencial» da literatura: «a procura da leveza como reacção ao peso do viver», como na tristeza que se transforma em melancolia ou no cómico que se torna humour, quando se dissolvem os últimos resíduos da opacidade corpórea (1988: 21). Na dança, esta categoria é absolutamente decisiva, sendo até um dos passos da dança clássica designado por “Ballon”, suspensão no ar do bailarino, contrariando decisivamente a lei da gravidade dos corpos.
RAPIDEZ «Il discorrere è come il correre e non come il portare» (Galileu).
Valor gémeo da leveza é a rapidez. Ambas coexistem num Perseu de pés alados como um dos seus dois deuses protectores, Hermes (e Atena). Hermes-Mercúrio é, aliás, o patrono de Calvino: «Mercúrio, com as asas nos pés, leve e aéreo, hábil e ágil, versátil e desembaraçado, estabelece as relações dos deuses entre si e com os homens, entre as leis universais e os casos individuais, entre as forças da natureza e as formas da cultura, entre todos os objectos do mundo e todos os sujeitos pensantes. Que melhor patrono poderia escolher para a minha proposta de literatura?», conclui Calvino (1988: 50‑51). Como se compreende, a rapidez de Hermes-Mercúrio serve à leveza do discurso, porquanto exerce a função mediadora entre o universal e o individual sem acréscimo de meios, de modo instantâneo. «O meu trabalho de escritor, diz Calvino, foi orientado, desde o início, a seguir o fulmíneo percurso dos circuitos mentais que capturam e ligam pontos longínquos do espaço e do tempo» (1988: 47). O carácter fulmíneo, instantâneo, «sem passagens» de um circuito mental é, de facto, atributo divino. E não só do deus da mitologia greco-latina Hermes-Mercúrio. O raciocínio instantâneo é também, para o copernicano Salviati, no galileiano Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632), próprio da mente divina. De qualquer modo, a rapidez é, em Galileu (1564-1642), essencialmente um valor anti-académico-metafísico representado, sobretudo, por um Sagredo antiptolemaico e de «velocíssimo discurso». “Il discorrere”, diz Galileu em Il Saggiatore (1623), “è come il correre, e non come il portare». Correr sem pesos que acentuem a gravidade dos corpos. Rapidez, todavia, não se identifica com visão imediata, que é fonte de peso e opacidade, mas com processo lógico relacional que estabelece conexões essenciais entre elementos diversamente colocados no espaço e no tempo. Rapidez significa aceleração do tempo e das suas conexões. Tal como o discurso científico, mas com aspiração ao carácter absoluto e instantâneo da mente divina. E, depois, a rapidez não é modelada exclusivamente segundo os processos relacionais e dedutivos da ciência moderna e a dimensão fulmínea da mente divina. Ela não é só processual, mas também, como dizer, comportamental: «as fadas são muito rápidas nas suas tarefas»; e ôntica (ou mesmo ontológica): «a rapidez da sucessão dos factos dá uma sensação de inelutabilidade» (1988: 35).
A rapidez de que fala Calvino envolve duas ordens da narrativa: a ordem processual, no plano da captação discursiva da essencialidade das relações ‑ e nisto cruza-se com o valor da exactidão ‑ que alimentam a narrativa; a ordem da realidade, ôntica e ontológica, no plano do conteúdo, do evento propriamente dito, do «objecto» descrito. E aqui toca-se a essência dual deste valor: «o tema que aqui nos interessa”, diz Calvino, “não é a velocidade física, mas a relação entre velocidade física e velocidade mental» (1988: 42), ou seja, a relação entre o tempo do evento ou do objecto narrado e o tempo processual ou narrativo, ou, com Galileu, a relação entre o correr e o discorrer.
MULTIPLICIDADE «Quella che prende forma nei grandi romanzi del XX secolo è l’idea d’una enciclopedia aperta».
Que esta relação seja determinante na concepção de Calvino está a prová-lo o conceito interactivo da relação palavra-mundo: «seguimento perpétuo das coisas, adequação à sua variedade infinita» (1988: 28). Deste conceito resulta um outro valor essencial para o próximo milénio: o da multiplicidade. Um valor que está mais do lado da sensibilidade, da irracionalidade, do caos, da complexidade irredutível do mundo da vida, da diferença, das várias ordens do saber e dos vários códigos a que a literatura dará unidade «numa visão multíplice e facetada do mundo», em particular agora que «a ciência desconfia das explicações gerais e das soluções que não sejam sectoriais e especialísticas». Um valor que, de algum modo, sirva de contraponto à tendência homológica dos outros valores e introduza na obra de arte a diferença não só sensível, mas também lógica e, assim, evite a irrupção da unilateralidade narrativa, estilística e interpretativa. Calvino fala dos grandes romances do séc. XX ‑ A Montanha Mágica, de 1924, de Thomas Mann, considerada, não sem razão, «a mais completa introdução à cultura do nosso século» (1988: 113) ‑ como de enciclopédias abertas, múltiplas em métodos interpretativos, modos de pensar, estilos de expressão e animadas por uma força centrífuga interna que garante a sua irredutibilidade a um só centro e a uma potencial unilateralidade interpretativa. Mas já mesmo antes deste século era visível a vocação enciclopédica da literatura: Goethe (1749-1832) queria escrever um «romance sobre o universo»; Novalis (1772-1801) um «livro absoluto»; Alexander von Humboldt (1769-1859) escreveu «Kosmos» (4 vols., 1845-1858); Mallarmé (1842-1898) preparava «um livro absoluto como fim último do universo»; Flaubert (1821-1880), que queria escrever «un livre sur rien», afinal, acabou por escrever o «romance mais enciclopédico que jamais foi escrito», Bouvard et Pécuchet (publicado em 1881).
«O conhecimento como multiplicidade» diz Calvino, «é o fio que liga as obras maiores, tanto do que chamamos modernismo quanto do que chamamos postmodern, um fio que (…) gostaria que continuasse a desenvolver-se no próximo milénio» ( 1988: 113). Ou seja, a literatura procura incansavelmente traduzir o sincretismo do mundo da vida e a sua riqueza multifacetada. A arte tem uma vocação sincrética e não se compadece com visões especializadas do mundo da vida. E tem porque procura sempre desenhar e aceder aos nexos essenciais da existência, aqueles que são transversais ao ser humano na expressão sua humanidade.
EXACTIDÃO «Il cristallo, con la sua esatta sfaccettatura e la sua capacità di rifrangere la luce, è il modello di perfezione che ho sempre tenuto come un emblema».
A multiplicidade temática, de estilo, interpretativa, a força centrífuga que anima o grande romance moderno ou pós-moderno não seriam, todavia, esteticamente realizáveis se não se conservasse um outro valor-guia fundamental: a exactidão. Valor tanto mais precioso quanto maior for a «perda de forma» que se constatar na vida. Esta exactidão literária, sob o pressuposto do valor estrutural da multiplicidade e da diferença, e precisamente por isso, define como normas imperativas: a) «um desenho bem definido e bem calculado da obra»; b) a precisão da linguagem como léxico e como realização das «nuances» do pensamento e da imaginação; c) «a evocação de imagens visuais nítidas, incisivas, memoráveis», numa palavra, icásticas (1988: 57). Mesmo onde o tema, o objecto, seja o subtil sentimento do indefinido, do indeterminado, do vago, portanto, onde parece ser regra uma intencional indefinição ou indeterminação da linguagem, é precisamente aí que a exactidão se torna imperativa: «o poeta do vago só pode ser o poeta da precisão» (1988: 61). Da precisão como, por exemplo, Jorge Luís Borges: exacto na imaginação e na linguagem segundo a rigorosa geometria do cristal e a abstracção de um raciocínio dedutivo (1988: 115); ou como Georges Perec, para quem «a exactidão terminológica era a sua forma de posse» (1988: 119). De posse, obviamente não proprietária, mas originária e criativa, enquanto essa posse é vista não como apropriação, mas como descoberta, e não física, mas mental, precisamente no sentido em que «a palavra liga o indício visível à coisa invisível, à coisa ausente, à coisa desejada ou temida, como uma frágil ponte de acaso lançada sobre o vazio» (1988: 74). A aproximação simbólica é, assim, tanto mais forte ou significativa quanto mais exacto for o registo. Por isso mesmo, é a exactidão que melhor pode dar o sentido de uma forte presença do criador no mundo da vida, se essa exactidão estiver ao serviço da ordem multíplice do mundo da fantasia e da agilidade do «poeta-filósofo que se eleva sobre o peso do mundo, demonstrando que a sua gravidade contém o segredo da leveza» (1988: 13).
ESTAS SERIAM AS PALAVRAS QUE CALVINO escolheria se devesse formular um «símbolo augural» para o novo milénio que já começou. E, como se vê, nele teria um posto central a «leveza», qual valor libertador do peso, do ruído, da rispidez e rugosidade dos corpos opacos e dos resíduos «enferrujados» de uma civilização do consumo prisioneira do círculo vicioso e sedutor do imediato. A defesa deste e dos outros valores não implica, para Calvino, uma real desvalorização dos seus opostos. É, simplesmente, uma escolha claramente assumida e formulada. De resto, nesta escolha Calvino não está só. E não apenas na literatura, se é verdade que um dos mais famosos arquitectos italianos, Renzo Piano, o arquitecto do Beaubourg, dos espaços arquitectónicos da música de Luigi Nono e do fabuloso projecto do aeroporto insular de Osaka, põe no centro do seu conceito de arquitectura precisamente esse conceito calviniano de leveza, daquela leveza das suas «città invisibili», não só pela compreensível razão da funcionalidade ou pelas ilimitadas potencialidades do software, mas também, ou sobretudo, pelo valor estético intrínseco do conceito, no exacto sentido em que Calvino o definiu. @Jas2021
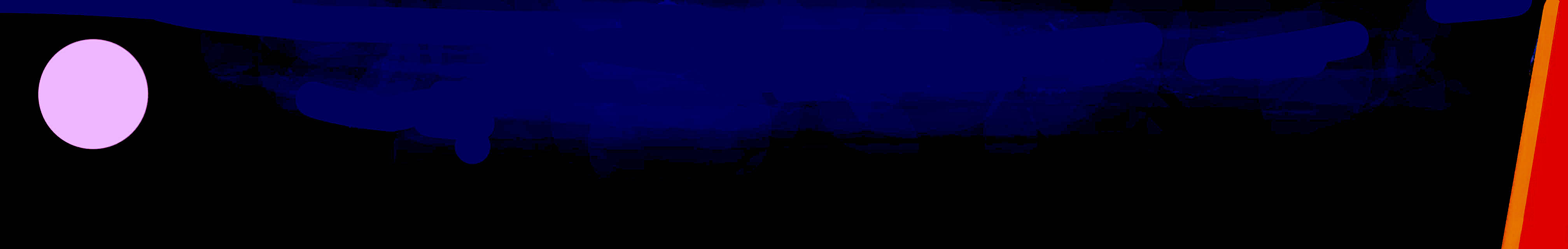
“S/Título”. Detalhe.
UM ADMIRÁVEL MUNDO NOVO
Verdade e Pós-verdade
Por João de Almeida Santos

“A Pós-Verdade”. Jas. 06-2021.
A QUESTÃO que continua em debate é, pois, a do artigo 6.º da Lei 27/2021. Sobre ela, reflecti aqui na passada Quarta-Feira: “A agorá digital e a democracia”. O que causa perplexidade é a questão da desinformação e o modo como a lei a trata. E, pelos vistos, ainda mais o modo como o PS a pretende regulamentar com um projecto de lei. Mais concretamente, como quer regulamentar esse artigo n.º 6. Em palavras simples, o que parece é que o país vai assistir à criação de comités de combate à desinformaçãoque grassa nesse lamaçal digital que é a rede, e em particular as redes sociais. Comités de fact checking(que bem que fica esta expressão num projecto de lei português), de “verificação de factos”, apoiados pelo Estado, estarão aí, à esquina de cada rede social, como autênticos caça-fantasmas (ghostbusters, já agora, para rimar com fact checking), à espera de fake news, da pós-verdade (e que bonito também chamar assim a mentira), para a denunciar e a fustigar. Assistiremos a uma verdadeira competição entre agências especializadas de combate à desinformação para ver quem caça mais fake news, mais boatos digitais. Serão criados rankings de caça-fantasmas por especialidade e, no fim, até haverá condecorações atribuídas por um eventual Ministério da Verdade, o que terá a tutela da nova realidade, com os seus sacerdotes encartados, os “novos cães de guarda” do espaço público, como lhes chama Serge Halimi, num livrinho que glosa o famoso livro de Paul Nizan, “Les chiens de garde”, neste caso, os intelectuais iluministas. Os media, esses grandes defensores da verdade, da objectividade, da imparcialidade, da neutralidade e da relevância (princípios fundamentais dos códigos éticos), em particular as televisões generalistas, e ainda mais em particular, os telejornais de prime time, serão os Grandes Verificadores, os Arqui-Inimigos da pós-verdade, os caçadores de fake news, os ghostbusters, os Sacerdores do Templo de Alêtheia, e disso serão recompensados pela sociedade e pelo poder em exercício, como, mais prosaicamente, previsto no artigo 2.º do Projecto de Lei.
“INFODEMIA”
Eu não entendo bem o que se está a passar. Mas parece-me ver que há uma santa aliança entre o poder político e os media, duas faces da mesma moeda, a do poder. Agora, o inimigo público número um é o digital, as redes sociais, esse caótico mundo livre onde prolifera a pós-verdade, o boato digital, a gritaria e onde parece estar a germinar uma nova rebelião das massas que é preciso travar. Insurgência digital – o novo inimigo externo que nos deve unir no combate. E se o antídoto se faz da mesma matéria do veneno, então que sejam os media a combater, com a arma da verdade, a desinformação, entidade fetiche que espreita em cada esquina digital. Mas a verdade – e passe a redundância – é que tudo isto mais parece branqueamento protector dos media, das suas responsabilidades (o tabloidismo desbragado, o justicialismo electrónico, a permanente transgressão dos códigos éticos e, já agora, a crise profunda por que estão a passar), cumplicidade interesseira e disfarçada, “piscar de olho”, com o poder político a incitá-los a controlar o inimigo público através de polígrafos a fundo perdido, passando de praticantes da liberdade a vigilantes por conta do poder e também por nossa conta e à nossa conta. Com a chancela do poder político, Portugal vai mobilizar-se contra a pós-verdade, contra a “infodemia” digital como se mobilizou contra a COVID19, onde médicos e enfermeiros serão substituídos por jornalistas, free lancers, associações e outros que tais que se associarão nessa grande cruzada contra o inimigo “infodémico”, o invasor, o trapaceiro cognitivo.
Nesta mobilização não deixarão de estar presentes os apóstolos das boas práticas, das políticas identitárias e da linguagem neutra e inclusiva. Serão aprovados institucionalmente manuais anti-infodémicos e anti-pós-verdade e serão produzidos aos milhões kits de emergência para combater o inimigo. Haverá mesmo catedrais digitais onde será celebrada missa de corpo ausente por alma dos caídos da “infodemia”.
O POLÍGRAFO E SEUS AMIGOS
E eu a julgar que só se tratava de questões de fronteira que poderiam ser tratadas politicamente entre os Estados nacionais ou as instituições europeias e as grandes plataformas através de protocolos consensualizados para travar riscos e ameaças estruturais. Bastaria, para tal, aprofundar e melhorar a experiência já existente ao nível da União. Além disso, até já existe legislação que permite às autoridades judiciárias intervirem neste campo quando se trate de matéria de natureza penal. Mas não, Portugal quer assumir-se como pioneiro no combate à “infodemia” digital, mobilizando o país contra o inimigo público numero um: a pós-verdade. Quase se poderia dizer que o país se vai mobilizar para uma guerra filosófica. Uma denodada luta pela conquista da verdade entregue aos “novos filósofos”, aos guardiões do Templo de Alêtheia. A ser assim, até já nem sei se o que estou aqui a escrever criticamente sobre esta estratégia do poder público, sobre esta política pública e sobre o bem público ”verdade” não poderá ser considerado pós-verdade a ser desmascarada, desde já, pelo polígrafo da SIC e pelo seu timoneiro, o isento jornalista Bernardo Ferrão. Fico tranquilo, porque o Polígrafo, afinal, tem temas mais elevados para tratar em defesa da cidadania. Por exemplo: “José Castelo Branco é o mandatário da Cultura do PS para a Câmara do Barreiro nas autárquicas?” (Polígrafo SIC, 31.05.2021). Ou então: “Os centros de saúde oferecem estendais a enfermeiros?” (Idem, 31.05.2021). No vasto mundo da rede, material para investigar não faltará. Mas, se faltar, criam-se factos virtuais para investigar e, depois, denunciar. Haverá sempre um Castelo Branco à esquina de cada rede social. A pergunta que surge espontânea é a seguinte: quem os verifica a eles, aos media, aos “novos filósofos”, aos apóstolos da verdade, aos inimigos jurados da pós-verdade, se é verdade (passe a cacofonia, porque é mesmo verdade) que a ERC, essa fantasmagórica entidade reguladora, não verifica nada de nada?
UM ADMIRÁVEL MUNDO NOVO
Teremos, pois, um exército de “polígrafos” a combater a pós-verdade, os boatos digitais, as fake news para tranquilidade da cidadania, que não precisará de exercer o seu espírito crítico e selectivo na procura de informação porque tudo lhe será oferecido pelos exércitos da info-salvação nacional. Viveremos, assim, no melhor dos mundos, o mundo da verdade com selo de garantia atribuído pelo Ministério da Verdade.
Uma pergunta, para finalizar: este cidadão, que não tem de exercer a crítica, que não tem de escolher entre a verdade e a mentira (alguém o faz por ele com ajuda do Estado), que não tem de selecionar notícias credíveis, recusando e refutando as que não têm fundamento, não correrá o risco de ficar pouco atento, intelectualmente preguiçoso, para não dizer totalmente acéfalo por falta de ginástica mental e de exercício crítico? Já lhe davam manuais para saber como comportar-se no uso da linguagem e agora até já lhe oferecem verdade certificada. Um admirável mundo novo, transparente, verdadeiro e linguisticamente certificado, de onde a mentira digital será erradicada (a outra não, porque mentir, tal como errar, é próprio do homem, perdão, do ser humano). A nova democracia que nos é oferecida. Obrigado, eu dispenso a oferta.

“A Pós-Verdade”. Detalhe.
A AGORÁ DIGITAL E A DEMOCRACIA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 06-2021.
ANDA POR AÍ UM DEBATE, muito polarizado à direita, acerca da Lei 27/2021, de 17.05, ou seja, sobre a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Mas talvez o debate devesse começar logo pelo nome da lei. A Carta não deveria ter como título “Carta Portuguesa de Direitos e Deveres na Era Digital”? No meu entendimento, humanos está a mais e deveres, ou responsabilidades, a menos. O politicamente correcto infiltrou-se logo no título: os direitos, se não são humanos, o que são? Mesmo os dos animais são definidos pelos humanos. Ou não? Afinal, trata-se de uma lei sobre direitos (e deveres) específicos. Ou seja, a palavra não era necessária. Mas está lá: um revelador tique linguístico, como tantos outros da linguagem identitária, neutra e inclusiva, que já cansam. Não é pela palavra, claro, mas pelo que ela revela e pelo histórico que traz consigo (por exemplo, a alteração de títulos, historicamente datados, onde figura a palavra homem para designar humano). Depois, em Portugal fala-se muito em direitos, liberdades e garantias e pouco, ou nada, em deveres e responsabilidades. Uma falha da esquerda detectada pelo Anthony Giddens, quando ganhou vida a tão execrada “terceira via” pelos ortodoxos da social-democracia, e que o levou a dizer: “no rights without responsabilities”.
DUAS VISÕES OPOSTAS
O debate acontece entre os que acham que a Rede (mas sobretudo as redes sociais) é a praça pública da turba ululante, o reino selvático dos ignorantes e da “gritaria” e os que acham que esta é a praça da liberdade onde tudo pode ser dito sem qualquer controlo ou responsabilidade. Mas é claro que quando a liberdade aumenta também a exigência de responsabilidade cresce. Os primeiros são os que sempre se acharam donos do espaço público, detendo o monopólio do acesso a este espaço, os famosos “gatekeepers”; os outros são os guardiões da primeira emenda da Constituição americana, os que definem a liberdade de forma negativa, ou seja, os que atribuem ao Estado uma mera função supletiva e, portanto, os que defendem que o Estado não se deve intrometer nos assuntos da sociedade civil e sobretudo da nova praça pública. É nesta linha que se inscreve o artigo de Rui Ramos no Observador (“A oligarquia não quer que lhe gritem”), de 28.05.2021. Um artigo sério, que, no essencial, não partilho, mas que contém algumas posições acertadas.
Eu diria, para que fique já clara a minha posição, que nem tanto ao mar nem tanto à terra: nem saudosistas do monopólio de acesso ao espaço público nem defensores da lei da selva digital. Uma coisa é certa: a realidade digital veio para ficar e é transversal a todas as actividades. É assunto relevante, portanto. E tem de ser discutido com seriedade e sem radicalismos.
A NOVIDADE
As TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, são conhecidas como as tecnologias da liberdade. Porquê? Porque permitem acesso livre da cidadania ao espaço público no duplo sentido da obtenção da informação e da prestação de informação. À escala mundial. A palavra que já se usa para designar os utilizadores é “prosumer”, produtor e consumidor de informação.
Ora a questão em causa é a de saber se se deve ou não regular especificamente esta área, quer por parte do Estado, legislando, como agora aconteceu com a Lei 27/2021, quer por parte das grandes plataformas, através de códigos éticos ou de protocolos a estabelecer com as autoridades políticas nacionais ou supranacionais, como também já aconteceu durante as últimas eleições para o Parlamento Europeu. Questão esta ligada à definição da identidade das plataformas em matéria de comunicação, designadamente em termos comparativos com os clássicos media. Uma coisa é certa: as plataformas não editam conteúdos, porque são os utilizadores a fazê-lo. São pois muito diferentes dos media, neste aspecto. E também noutro: não se trata de comunicação de tipo broadcasting unidireccional e vertical, mas sim de comunicação horizontal entre os utilizadores, de forma não hierárquica. Na verdade, as plataformas são espaços privados, mas abertos, onde os utilizadores podem agir livremente e sem custos (e deixo aqui, intencionalmente, por tratar as questões levantadas pelo libro da Shoshana Zuboff e pelo Documentário da NETFLIX, questões que aqui tenho vindo a tratar em vários artigos). O que sobra é, pois, a questão da regulação da rede, da intervenção do Estado e das plataformas em matéria de conteúdos.
A LEI 27/2021
No essencial, no debate trata-se do que a lei designa por desinformação (art. 6 da Lei 27/2021). Coisa, de resto, não nova. Os media têm (desde finais do século XVII) códigos éticos de diferentes autorias que regulam a prática informativa (com princípios como a objectividade, a neutralidade e a imparcialidade, por exemplo); existem entidades reguladoras públicas com poder sancionatório e existem leis que tipificam os crimes por abuso da liberdade de imprensa. Qual é, pois, o problema em aplicar esta realidade ao universo digital, de resto, num plano muitíssimo mais mitigado porque se trata exclusivamente de comportamentos de fronteira legalmente sujeitos a sanção? A questão não se pode pôr apenas a jusante e mediante intervenção do poder judicial, como quer Rui Ramos, pela simples razão de que isso não seria suficiente para evitar os abusos e as malfeitorias. O mal já estaria há muito feito e teria produzido os seus efeitos. Todos conhecemos a lentidão da justiça e todos sabemos que é necessário criar mecanismos que previnam comportamentos desviantes ou criminalidade. E isso já existe na sociedade. Mas também sabemos que o poder democrático é um poder legítimo e que, em princípio, não está lá para perseguir a cidadania, mas sim para a servir. Seja à direita seja à esquerda. E, neste caso concreto, não me parece que o PS seja um partido com vocação autoritária. Se fosse como Rui Ramos diz nem se compreenderia a existência das próprias entidades reguladoras e dos poderes que lhes estão cometidos (e isto apesar da sua evidente ineficiência). Nem sequer a existência de “contratos de concessão de serviço público de televisão” com todas as cláusulas de salvaguarda de uma informação isenta. Como não se compreenderia que as plataformas não pudessem impedir, em terreno de sua propriedade, como de resto acontece com os media, comportamentos atentatórios de princípios base de convivência civil, legalmente sancionáveis. Pois bem, esta lei vem definir o quadro de princípios que não pode ser violado, inclusivamente pelas plataformas, oferecendo uma orientação normativa que estas deverão respeitar na suas intervenções de gestão e controlo. Como disse, a assinatura de protocolos entre as plataformas (Google, Facebook, Twitter e Youtube) e a Comissão Europeia contra a desinformação já se verificou pelo menos uma vez e com resultados satisfatórios. E um relacionamento entre o poder político democrático e as plataformas com vista a uma regulação do uso deste espaço público não só é possível como desejável. Não há liberdade que não traga consigo o compromisso da responsabilidade. Liberdade máxima, responsabilidade máxima. O que nem sequer é o caso. Who cares?
UM CORREDOR PARA O AUTORITARISMO?
Não me parece que esta lei possa constituir um perigoso canal de passagem para o autoritarismo comunicacional e político; não é impositiva em matéria de linguagem e o que se espera é que os avanços do politicamente correcto não acabem por contaminar as práticas governativas também nesta área (e na lei há marcas disso); é muito positiva na promoção das condições de acesso ao digital nas várias frentes que este acesso implica, desde as infraestruturas até à literacia digital; é clara e directa na definição do que considera desinformação para efeitos de controlo impositivo. Tudo aspectos que há que valorizar.
Mas há alguns aspectos que merecem um sério reparo. Um deles, que me parece absolutamente inaceitável, o disposto no n. 6 do art. 6.º, diz isto: “O Estado apoia a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados”. Um hino aos polígrafos conduzidos por jornalistas pouco praticantes dos seus próprios “códigos éticos”? Os órgãos de comunicação social promovidos pela lei a polícias da rede? Um incentivo de má memória que quer a sociedade a policiar-se a si própria? Qual é, afinal, o papel da ERC? As entidades reguladoras surgiram para proteger os media das injunções do Estado e para proteger os jornalistas, mas, hoje, com a privatização generalizada da comunicação social, elas têm mais como função proteger a cidadania dos abusos informativos dos media. Agora são os media a policiar a cidadania e as suas acções em ambiente digital? Onde é que isto vai parar? O legislador foi longe demais, não se sabe bem se para proteger os media do concorrente digital, atribuindo-lhe um estranho poder com chancela institucional, se por interesseira e lamentável cumplicidade. Também não se compreende o alcance do n.º 2 do art. 6 quando fala de desinformação relativamente “aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos”. Sim, isto pode ser interpretado como a lógica do cavalo de Tróia. Desinformação é desinformação quer seja sobre políticas públicas ou sobre outra matéria qualquer. E tem de ser desinformação punível por lei penal porque gravemente atentatória da convivência civil. Por que razão são referidas as políticas públicas e os bens públicos, matéria que é do foro do posicionamento e do combate político? Há, aqui, um claro excesso de zelo que acaba por desvirtuar este quadro normativo e por induzir fracturas politicamente indesejáveis. Como se vê na polarização política de uma matéria que deveria ser consensual.
CONCLUSÃO
Posto isto, não me parece aceitável olhar para esta realidade como faz Rui Ramos no seu artigo, ou seja, considerando a lei “grotesca” e defendendo uma total desregulação deste sector, hoje acessível à maioria dos cidadãos e garantindo a lei direitos de acesso universal nos vários planos em que o digital se processa. Mas também não me parece aceitável a guerra aberta que os poderes convencionais vêm declarando às plataformas, consideradas não só como um poder ameaçador, mas também, ou sobretudo, como dando voz ao poder da rua sobre as instituições. Na minha opinião o que é preciso dizer é que esta realidade mudou e que o espectro do espaço público se alargou, dando possibilidade à cidadania de se exprimir sem pedir licença aos antigos donos do espaço público. Mas é claro que uma revolução como esta traz também consigo outras exigências. E uma delas é a da necessidade de regulação relativamente aos riscos que uma liberdade desta dimensão traz consigo. Regulação do uso, regulação relativamente à instrumentalização dos dados dos utilizadores, regulação do controlo. Sim, mas é também necessário preservar o essencial, ou seja, a abertura do espaço público ao sujeito singular sem que este tenha de pedir licença a controleiros encartados ao serviço das respectivas empresas de comunicação social e pouco respeitadores dos códigos éticos. E este espaço, para que seja efectivamente um espaço de liberdade, não pode ser um imenso território onde poderes fortes e altamente organizados atentem gravemente contra os valores de uma cidadania responsável. Devem, pois, ser os poderes públicos legítimos e democráticos a garantir, através de regulação, uma vida normal em ambiente digital, dialogando, para isso, com as plataformas no que diga respeito às prerrogativas da cidadania em território nacional.
Portanto, regular, sim, mas preservando o essencial, ou seja, a superação do monopólio da intermediação e o processo de progressiva desintermediação e instalação da comunicação em rede. Em síntese, condições para uma progressiva emancipação da cidadania. Por isso, eu vejo nesta lei (com as devidas correcções) a oportunidade para pôr ordem no caos digital, para valorizar este ambiente e para alargar os canais de participação política da cidadania. O que se espera é que o politicamente correcto não comece, também aqui, a ditar lei, como já vem acontecendo em tantas matérias da esfera pública. De resto, creio mesmo que é a este perigo que os críticos se referem, não a uma eventual matriz autoritária do PS.

“S/Título”. Detalhe.
UM RASTO DE INQUIETAÇÃO
Reflexões sobre a Poesia
Por João de Almeida Santos

“Palácio das Artes no Monte Parnaso, ao entardecer”. Jas. 05-2021
“Saber interpor-se constantemente entre si próprio e as coisas é o mais alto grau de sabedoria e prudência”. Bernardo Soares
A POESIA É DESASSOSSEGO...
Ou nasce dele. Dá forma à dor, revivendo-a e transfigurando-a em palavras, sendo, ao mesmo tempo, a sua sublimação semântica e a sua notação musical, a sua melodia. Não foge da dor, mas metaboliza-a para a superar. Dor? Porquê sempre dor? Porque a poesia, sendo sensitiva, também é privação sensorial, porque vive num intervalo, ligeiramente recuada relativamente ao real. Ou resulta dela, da privação. É uma linguagem que é quase um sentir puro, em “carne viva”. Um comportamento, esteticamente desenhado e cantado… em surdina. “Comporta-te poeticamente”, poderia ter dito o Hans-Georg Gadamer de “Verdade e Método”. Ou o velho Schiller das “Cartas sobre a educação estética do ser humano”. Vive a vida assim, poeticamente, sem te deixares ir nessa volúpia devoradora dos sentidos que te pode sugar e engolir a alma e a distância contemplativa. Caindo numa circularidade de onde não se pode sair por não haver pontos de fuga, como os da linha elíptica. Põe os sensores em movimento, mas cria distância, intervalos por onde possas ressuscitar do mortal torpor quotidiano. Mas não corras demais. A velocidade cega, ouviste? Quem vive a correr não sente o pulsar da vida, o seu lado mais profundo. Corre só o suficiente para não ficares parado e para agarrares a vida pelo seu lado mais denso e profundo. Respirando-a e bebendo a seiva dos seus frutos mais puros. Aqueles que só podes encontrar em ti, enquanto ser humano, apesar de serem comuns e universais. Eles estão aí, pois estão, mas é preciso sensores para os encontrar e os decantar esteticamente. Coisa não fácil. Mas isso acontecerá quando te aproximares das fronteiras da existência, desses abismos que ameaçam sugar-te irremediavelmente. Dessas pulsões mais intensas que podem magnetizar-te, porque, à partida, são mais fortes do que tu. Se for preciso pára e escuta, não queiras ir logo, em correria, impaciente, até ao fim. Se fores, o que farás depois? Sentas-te à espera que regressem as pulsões e chegue inspiração para novas metas? Não. E, não, porque será sempre ilusório chegar rapidamente a um fim desejado. Se o atingiste e o esgotaste, esse fim era falso, era uma miragem. Cria, pois, um intervalo entre ti e a vida para melhor a observares sem deixar de a viver, de a tocar, nem que seja só com a ponta dos dedos. E deixa-te ficar nele, com os sensores ligados ao máximo, sem tentações perigosas. Era mais ou menos isto o que dizia o famoso Bernardo. Nesse intervalo podes tocar com as mãos o real e fazer a sua notação poética, convertê-lo numa forma que quase o não é, porque pode dizer tudo com quase nada (de forma). Até mais do que a própria imagem. E se alguém disser que uma imagem vale mil palavras, responde que um verso pode valer mil imagens, porque nele a palavra poética soa a melodia do silêncio… que só pode ser ouvida a partir desse intervalo. Só a palavra poética se pode aproximar à fala do silêncio, o murmúrio.
PRIVAÇÃO
Na poesia há privação. Há, sim. Se te saciares de real não precisas de poesia. Nem sequer a podes compreender. Ela é um intervalo denso e intenso entre o desejo, a impossibilidade e aquilo a que renunciamos: é vida transfigurada em palavras sincopadas ao ritmo de uma difusa dor interior. É levitação desejada por privação sofrida. Uma moinha que só não te devora porque a vais dizendo metódica e melodicamente ao ritmo que te impõe. Porque a adoptas em vez de a reprimires. Com uma paradoxal alegria melancólica, a da beleza sentida de um poema. É assim que eu a sinto. Foi assim que a senti desde o princípio. E por isso me deixei ir, dizendo-a para a conservar, metabolizando-a e transformando-a em energia interior. A dor sublima-se, não se reprime nem se foge dela, se houver poesia para a adoptar.
“A arte”, diz Bernardo Soares, “é a expressão intelectual da emoção”. E diz mais: “o que não temos, ou não ousamos, ou não conseguimos, podemos possuí-lo em sonho, e é com esse sonho que fazemos arte”. Sim, o sonho, onde vivo o impossível, onde nunca atinjo a meta, onde nunca chego ao fim… pois quando estou a atingi-lo, acordo. Essa é que é essa. Irremediavelmente. Lembra-me o Calderón de la Barca e o seu “La vida es sueño”. E, por isso, também se pode acordar da vida para a dura realidade. Que o diga Segismundo. A arte está lá nesse intervalo por onde irrompe o sonho, sob a forma de palavra, risco, cor, som. Quando nos sentimos orquestra e nos tocamos. Ah, como é bom sentir-se orquestra, com todos os sentidos a executarem uma sinfonia. E o compositor mais próximo talvez seja Mahler. Para mim é mesmo. Tenho a certeza, sem ser necessário ir a Veneza ou ter uma conversa com o Luchino Visconti ou com o Thomas Mann (mas, com este último, mais lá para a frente do artigo, falarei).
A poesia é sonho de olhos abertos, sonho sensitivo, mas com alma sofrida por renúncia ou por impossibilidade. Neste intervalo também se constrói a liberdade, sob forma de arte: não me pode ser tirado o que eu reconstruí neste intervalo sofrido de privação, como arte, diria, de certeza, Bernardo Soares. Sim, porque o reconstruí em ausência. E neste estado de privação “nada me pode ser tirado nem diminuído”. Bem pelo contrário, sou eu que lanço ao mundo essa vida revisitada e recriada com a minha sensibilidade, a partir desse sentimento (doloroso) de privação. Canto e dou música ao mundo. E o mundo fica mais belo do que já era, diria a minha amiga Marguerite Yourcenar: maintenant tu es plus beau que toi-même, Gherardo. Mundo ou Gherardo, tanto faz. O que importa é a recriação em ausência. Ou, como dizia o Italo Calvino, nas famosas “Lições Americanas”: “creio que seja uma constante antropológica este nexo entre levitação desejada e privação sofrida. É este dispositivo antropológico que a literatura perpetua”. Diria mais, com ele: a poesia é uma “função existencial” que procura a leveza como reacção ao peso doloroso do viver. A leveza dos sonhos a olhos abertos, cantados em palavras e lançados ao vento que há-de mover, como chamamento, as copas das árvores… ou dos arbustos. Ou talvez não.
RENÚNCIA
Comprei, pois, para tirar dúvidas, uma nova edição do “Livro do Desassossego” do Fernando Pessoa ou, se quiserem, do Bernardo Soares. Porque gosto deste livro e porque quero olhar para a minha poesia, agora que a vou pôr em livro (100 poemas), acompanhado por ele. Por este Fernando Pessoa, filósofo. Revisito-o com regularidade, como quem vai ali ao PUB conversar com os amigos sobre as coisas da vida para depois escrever sobre elas. Por necessidade interior. Irmanado nessa renúncia que é privação sofrida… à procura de leveza. Que vou encontrando à medida que caminho entre o silêncio e o sonho, montado em palavras, riscos e cores intensas, ao som de versos entonados e paradoxais, que me vão desenhando e iluminando esta vereda tão estreita da minha vida. E porque compreendi que Pessoa chegou perto dos nexos fundamentais da existência, naquilo que ela tem de mais sublime, de mais elevado. Neste livro anda por lá essa ideia que tanto me fascina, do ponto de vista estético: a ideia de renúncia. Tal como no meu, que foi, afinal, a solução para a renúncia. A escrita poética como solução da própria vida quando a vida anda aos pulos e não conseguimos pará-la. Sim, essa ideia de renúncia (ou mesmo de impossibilidade) que, um dia, me pôs em intervalo criativo. Não a do eremita, daquele que foge da vida para se aproximar de deus, da natureza ou da eternidade. Não, essa não, mas a daquele que se afasta um pouco da vida para entrar nela com mais profundidade, compreendê-la e vivê-la numa dimensão que está para além do imprevisível tempo do acaso, do presente efémero e circular, da volúpia orgástica ou do império dos sentidos. Digamos, vivê-la em alvoroço poético. Claro que não sou tão radical como ele. Nem tão pesado nos juízos. Mas sei bem que só radicalizando poderemos compreender o essencial para, depois o dizermos, com sabedoria e beleza sedutora. Não como mero exercício intelectual. Nestas condições, a arte permite isso. Porque não é do domínio do pragmático e do útil. Porque não serve, aparentemente, para coisa alguma, a não ser como adereço? Não. Ela serve, sim, mas noutra dimensão. Encontra-se num dispositivo que, sendo universal, procede em registos únicos, com aura. “Subjectividade universal”, diria o Kant dessa extraordinária “Crítica do Juízo”. Assunto tão relevante que, um dia, o Schiller haveria de propor um “Estado Estético” que fundasse a harmonia social na educação estética, ou seja, na celebração social e quotidiana do belo. Já reflecti sobre esta ideia de Schiller no meu livro “Os Intelectuais e o Poder”. Mas nunca mais ouvi falar desta sua ideia. Talvez porque se trate de uma utopia impraticável ou até mesmo perigosa para uma certa visão do poder; ou talvez porque a estética, na verdade, seja impolítica e, por isso, nunca possa estar lá no horizonte estratégico de quem governa. Desta dicotomia, quase antinomia – política versus estética -, falou Thomas Mann abundantemente nas suas “Considerações de um Impolítico” (1918), apesar de nela encontrar, além de antinomias, uma convergência: ambas “têm uma posição intermédia e mediadora entre a vida e o espírito” (Thomas Mann, Considerazioni di um impolítico, Milano, Adelphi, 1997, p. 575). Sem dúvida, ainda que em registos diferentes. Eu diria assim: a mediação pela arte visa elevar a vida ao espírito, enquanto a mediação pela política visa levar o espírito à vida. A boa política. A arte não pertence, de facto, à esfera da praticidade, não procura influenciar e a sua magia consiste precisamente em superar “o conteúdo através da forma”, ou seja, desvitalizando-o para o fazer levitar na beleza formal. Por isso ela é “irresponsável”, permitindo que o artista se retire para os seus domínios quando na esfera prática as coisas não lhe correm bem, quando não se entende com a realidade nem a realidade com ele. Afinal, o artista tem “direito à paixão” e por isso, o mundo, inclusivamente ele próprio, tolera isso, desculpa-o, aceita-o assim (1918: 544). Ora aqui está, dito pelo autor dessa extraordinária “Montanha Mágica” (1924), essa enciclopédia do século XX de que as “Considerações” constituem uma bela e elucidativa antecipação. Um lugar especial para a “irresponsabilidade” da arte e em particular a do poeta.
Talvez esta ideia de renúncia tenha a ver precisamente com esse direito exclusivo à paixão e com o desinteresse pelos efeitos da obra de arte que dela resulta. Não renunciar exige responsabilidades que o artista não tem condições para honrar, sob pena de suicídio estético. O poeta apaixona-se por uma imagem e, depois, pinta-a com palavras. Não é assim, Bernardo?
SILÊNCIO
É uma grande obra, esta, a do “Desassossego”. Desta vez reli, pela enésima vez e de forma altamente interesseira, uns textos sobre a relação entre a poesia e a prosa. Também eu ando por ali e quis medir bem o que o Bernardo dizia, esse que preferia a prosa ao verso, pela simples razão de ser “incapaz de escrever em verso”. Que era o que eu próprio sentia até há cerca de sete ou oito anos. Prosa e mais prosa. Pior: teoria. Até que se deu o clique. Ao olhar para um arbusto cheio de carga simbólica e ao observar um estranho enlace. Algo inesperado, mas que não me apanhou totalmente impreparado, pois há algum tempo que vinha sentindo falta de alguns personagens do meu romance “Via dei Portoghesi”, que tinha acabado de escrever. E vi neste estranho enlace a minha salvação. Mais propriamente, uma espécie de “fissão poética”, com libertação de energia criativa e até mesmo com potência destrutiva. Ah, sim. Sei bem do poder de um poema. E sei quase tudo sobre quem os não sabe ler como resultado do tal intervalo e fica sempre ao pé da letra. Sem arredar pé dali, da letra. A julgar o mundo por uns pobres versos escritos em estado de necessidade. Como se de prosa se tratasse, nem sequer ficcional. Ora bolas, que desperdício!
Percebi que o que não é possível dizer em prosa pode ser dito em poesia, sendo também claro que a prosa não tem o mesmo poder performativo. Dizer o indizível com a força de um acto. Aumenta o espaço de liberdade, aumenta sim, e até pode adquirir um carácter substitutivo. E não só porque o poeta é um fingidor que sente pelo menos metade do que diz, fingindo que mente só porque o diz num poema. Mas diz o que diz, com asas, em voo sobre o vale da vida. E isso deveria ser o suficiente para arredar dali, da letra. Ou seja, a poesia torna-nos mais livres e mais leves, também porque dizemos o que sentimos de forma livremente auto-referencial, sem grandes responsabilidades pessoais, embora nesse registo universal com que traduzimos, em arte, o nosso próprio registo sensorial ou a nossa experiência vivida. O que é suficiente para dar autonomia à narrativa poética retirando-lhe eventuais excessos de subjectividade. E até porque o que sob esta forma se diz tem a pretensão de ser mais do que o que simplesmente se quer dizer, se comunica sob qualquer outra forma: ser simplesmente belo e sedutor. Indo para além do registo sensorial, denotativo e conceptual. Dizer de forma cifrada, leve e musical, onde a própria linguagem é mais, muito mais do que meio de expressão. Dizer tudo, parecendo nada dizer. Parecendo simples murmúrio. Mas não só por isso. Sobretudo porque é uma linguagem plena que pode dizer quase tanto como o que diz o silêncio. Quase um contraponto, um intervalo musical. A poesia é a linguagem mais próxima dele, do silêncio. É silêncio murmurado, balbuciado, mas composto, musicado, conservando ao mesmo tempo uma dimensão polissémica, mas sem pretensões denotativas, tal como a música. Mesmo que haja referentes (e há sempre) que nela se possam vir a reconhecer. Mas ela é mais do que isso: aspira a um reconhecimento subjectivo universal, filtrado, claro, pelo dispositivo sensorial de todos e de cada um. A arte, sendo universal, interpela singularmente cada um de nós, através da sensibilidade. A poesia não é, pois, para as massas, mas para cada um, singularmente considerado. E aqui a antinomia política/arte acontece. Que se lixem os efeitos se o que digo em arte é belo. Pronto, é isto.
MÚSICA
O Bernardo Soares diz que o verso é uma passagem da música para a prosa. Genial intuição. Ou seja, a poesia não só está entre a música e a prosa como permite a passagem de uma para a outra, sem se reduzir a simples meio ou instrumento. Tem elementos de ambas. E, por isso, reside nesse intervalo com corporeidade, substância e vida própria. Mas julgo ser possível dizer também que entre o silêncio e a poesia talvez esteja a música. A música é a voz do silêncio, porque ainda não diz, mas deixa espaço à poesia para dizer, como melodia cantada, o que é (quase) indizível. A poesia também é música ela própria e é silêncio já em forma larvar. Ela acrescenta semântica à música e música ao silêncio, num só registo, o registo poético. E é na sua quase indizibilidade melódica, nesta fisicidade, que reside o poder da poesia. É por isso que o silêncio e a música se podem exprimir como semântica de forma larvar na poesia, sendo cada poema a borboleta que esvoaça sobre as nossas vidas e a nossa imaginação para interpelar a fundo o nosso pólen, a nossa sensibilidade individual. Sim, cada poema é uma borboleta à procura de pólen…
EM SUMA, UM RASTO DE INQUIETAÇÃO…
É nestes intervalos que o poeta se coloca ao cantar a música da vida com a pauta da poesia. Um canto sofrido, porque fruto do desassossego, da privação, da dor, mas por isso mesmo obra de jograis vadios, nómadas, irresponsáveis, sempre em movimento, atravessando fronteiras à procura do que nunca encontram e nem querem encontrar, porque se encontrassem perder-se-iam no encontro. Um quase suicídio. O Vinicius não disse ao passarinho que já não havia poeta nem poesia porque ficara feliz? O passarinho que estava ali para o acompanhar no canto e matizar na dor foi-se embora do parapeito da sua janela à procura de outras dores e de outros cantos. A poesia é o modo de comunicar a partir desse intervalo perpétuo em que vivem: em permanente privação, com um passarinho por companhia. Não digo, ironicamente, com um passarinho na cabeça, seria demais, digo, por companhia, se possível ali no parapeito da janela, de onde possa sempre voar. Talvez para a terra do nunca. Os seus poemas são cantos com que querem encantar para logo partir, deixando um rasto de inquietação, que é ao que de mais belo a poesia pode aspirar.

“Palácio das Artes”. Detalhe.
PROGRESSISTAS E TIROS NO PÉ
(Com versão em italiano e o artigo de “Il Fatto Quotidiano”)
Por João de Almeida Santos

S/Título”. Jas. 05-2021.
HÁ MUITO que me parece que o Partido Socialista Europeu se reduz exclusivamente às cimeiras que antecedem os Conselhos Europeus e à sua expressão institucional no Parlamento Europeu. Não se lhe conhece vida própria. O que é muito pouco se considerarmos que a Internacional Socialista na prática desapareceu. Papandreu, Presidente, e o eterno Luís Ayala, Secretário-geral, andam desaparecidos e ao Vice-Presidente português, Carlos César, nunca lhe ouvi uma palavra sobre o assunto. E não falo do défice ideológico e de pensamento que afecta os próprios partidos socialistas europeus. Depois dos tão criticados “New Democrats”, “Third Way” ou “Neue Mitte” parece ter sobrado um imenso deserto de ideias. E o suposto resgate de esquerda de Jeremy Corbyn deu no que deu, mais derrotas, Brexit e triunfo de Boris Johnson. Resta o quê? Uma quase desconhecida Fundação presidida por uma ex-eurodeputada portuguesa de nome Maria João Rodrigues: “Fundação Europeia de Estudos Progressistas”. Certamente por falha minha, não conheço trabalhos ou iniciativas relevantes desta Fundação sobre o socialismo europeu, num tempo em que a crise do socialismo democrático e da social-democracia é verdadeiramente preocupante, estando os partidos socialistas e sociais-democratas europeus em perda eleitoral contínua e em risco de irrelevância política e ideológica.
OS PARTIDOS SOCIALISTAS EUROPEUS
O PARTIDO ÂNCORA do socialismo europeu, o SPD, está a tornar-se um partido irrelevante com uma consistência eleitoral pouco superior à do partido de extrema-direita, “Alternative fuer Deutschland” (na última sondagem estava com 13% e o AFD com 11%). O partido socialista francês quase desapareceu, o mesmo se verificando com o PASOK. O Labour já perdeu quatro eleições sucessivas e Tony Blair viria a afirmar, há dias, a propósito da nova liderança de Keir Starmer: “But the Labour party won’t revive simply by a change of leader. It needs total deconstruction and reconstruction. Nothing less will do”. É necessário, segundo Blair, um novo movimento progressista, uma nova agenda progressista e a construção de uma nova coligação de governo, sobretudo em diálogo aberto com os demo-liberais (The Guardian, 12.05.2021). Sublinho: um novo movimento progressista e uma nova agenda progressista. Ou seja, o progressismo de que deveria falar a FEEP, ainda que o caso da famosa Internacional Progressista que reuniu Bernie Sanders e Varoufakis já tenha alertado para a inacção quer da IS quer do PSE. Mas também o PSOE, que governa Espanha, acaba de sofrer uma pesada derrota em Madrid, para os populares, colocando-o, as sondagens, no mesmo plano eleitoral do PP (27,1% contra 25,43% do PP), com o VOX em terceiro lugar, com cerca de 17% (média de 14 sondagens de 9 empresas diferentes, entre 11.04 e 10.05, segundo “Electocracia”). Em Itália, segundo um conjunto de 7 sondagens de Março, o Partito Democratico não descola dos cerca de 18,5%, sendo o segundo partido, a seguir à Lega, com 23, 4%, e com pouco mais do que Fratelli d’Italia, já com 17%. A extrema-direita soma, assim, 40, 4% (sem contar com Forza Italia, 6,9%, enquanto a soma do PD com o M5S e com Liberi e Uguali se fica pelos 37%. Em sondagens de Maio há pequenos ajustamentos que não alteram o essencial. Mesmo assim, sublinho um ligeiro aumento para o PD (19,4) e para o M5S (16,9), verificando-se alteração na extrema-direita: menos 1,6% para a Lega e mais 1,5 para FdI. Em Portugal é o que sabemos – o PS governa com uma média de cerca de 37/38%, uma aldeia “gaulesa” no panorama socialista europeu.
O CASO D'ALEMA
TUDO ISTO PARA DIZER que o panorama dos partidos socialistas europeus é preocupante e que necessita de um trabalho de reflexão sobre esta lenta, mas persistente queda e sobre que mudanças será necessário promover para voltarem a ganhar a confiança dos cidadãos, aspirar à hegemonia ético-política e cultural, para usar o conceito de Gramsci, e um lugar proeminente na história futura da União Europeia. E, aqui, a Fundação do PSE deveria servir para relançar um vigoroso processo de reformas para o relançamento do socialismo europeu. Mesmo que se assumisse como subsidiária em relação às fundações nacionais que sejam, na realidade, mais do que mero nome ou anúncio de intenções.
Pois bem, em vez disso, estamos a assistir a um lamentável e incompreensível striptease da FEEP, a um processo desta Fundação contra o ex-Primeiro-Ministro italiano Massimo D’Alema, que foi durante sete anos seu presidente. A crer nas notícias vindas a público no jornal italiano “La Repubblica” e em “Il Fatto Quotidiano”, a história conta-se em poucas palavras. Até 2013, D’Alema foi Presidente com remuneração zero, sendo deputado. Depois, até 2017, tendo deixado de ser deputado, foi remunerado com 120 mil euros (brutos) anuais (correspondentes a 5000 euros mensais líquidos), em contrato celebrado com o Secretário-Geral da Fundação. Este contrato previa a remuneração não pela função, mas por trabalho efectivamente desenvolvido em regime de exclusividade, tendo havido parecer favorável de uma sociedade especializada belga sobre a regularidade deste contrato. A Fundação pede agora a D’Alema que reponha o total de 500 mil euros, porque não teria direito a remuneração pelo exercício do cargo, como acontecia antes e como acontece agora, com a actual Presidente. Para isso pôs uma acção em tribunal, na Bélgica.
Das notícias, sabe-se que as 25 Fundações dos partidos socialistas foram chamadas a pronunciar-se, tendo 23 votado a favor da posição da Fundação e duas tendo-se abstido.
Esta história, em qualquer dos casos, não é edificante e mostra claramente com que assuntos a FEEP se preocupa: levar a tribunal um seu antigo Presidente (durante sete anos) e ex-Primeiro-Ministro de Itália por ter sido remunerado durante o exercício do cargo de presidente da Fundação (pelo trabalho desenvolvido em regime de exclusividade), não auferindo outra remuneração por já não ser deputado, não desempenhando funções em nenhuma instituição europeia em Bruxelas, como provavelmente será o caso da Doutora Maria João Rodrigues. Uma remuneração que foi objecto de contrato entre D’Alema e o Secretário-Geral da Fundação, o alemão Ernst Stetter, que, ao que parece, nem sequer foi ouvido neste processo.
A crise dos partidos socialistas e das suas fundações é grave e exige um enorme esforço de todos para a superar, até porque esta crise afecta também gravemente a própria União Europeia, enquanto os partidos socialistas são um seu pilar essencial, político e ideal. Mas, não, a única notícia que nos chega da Fundação é um processo em tribunal contra D’Alema. Algo está mal nisto, porque não só danifica a imagem dos socialistas europeus, mas também porque dá conta das preocupações que animam a direcção da FEEP. Silêncio sobre o essencial, ruído público sobre questões internas de procedimento administrativo, não se sabendo se a razão está na actual FEEP ou no seu ex-Presidente, ex-líder do PDS e dos Democratici di Sinistra e antigo Primeiro-Ministro de Itália.
Conheço muito bem o trajecto de Massimo D’Alema (e até o conheci pessoalmente) desde os tempos em que era um dos dois dirigentes do PCI do saudoso Enrico Berlinguer (o outro era Walter Veltroni) que estavam destinados a protagonizar o futuro da esquerda italiana. Não concordei com a cisão que promoveu no PD aquando do famoso referendo promovido por Matteo Renzi, ainda que hoje, vendo como age politicamente este último, compreenda melhor as suas razões. Mas respeito-o politicamente. Em toda aquela confusão que se seguiu a Tangentopoli não tenho memória de o ter visto envolvido em casos de corrupção. A remuneração que concordou com o secretário-geral da FEEP, a partir do quarto ano em que foi seu Presidente, nem sequer me parece imoral ou injustificada. De resto, D’Alema já o justificou ontem (14.05.2021), em entrevista ao jornal “La Repubblica”.
EM SÍNTESE
ESTEJA A RAZÃO procedimental com quem estiver, o que resultará deste imbróglio será uma imagem pouco edificante desta Fundação e a ideia de que em vez de se preocupar com o que realmente interessa, o futuro do socialismo democrático e da social-democracia, a consolidação e o aprofundamento da União Europeia e a construção de uma cidadania europeia, preocupa-se com guerrilhas internas de sabor contabilístico sem grandes cuidados com os efeitos que isso terá na sua própria imagem e na imagem de alguém que foi Primeiro-Ministro de um grande e importante país da União Europeia. #Jas@05-2021.
VERSÃO ITALIANA
I PROGRESSISTI SI SPARANO SUI PIEDI
Da molto tempo mi pare che il Partito socialista europeo (PSE) sia ridotto ai vertici che precedono i Consigli europei e alla sua espressione istituzionale nel Parlamento Europeo. Non sembra che abbia vita propria. Il che è tanto più grave se si considera che l’Internazionale Socialista (IS), in realtà, è scomparsa. Papandreu, presidente, e l’eterno Luís Ayala, segretario generale, sono scomparsi e il vicepresidente portoghese, Carlos César, non ne ha mai parlato. E non mi riferisco al deficit ideologico e di pensiero che colpisce gli stessi partiti socialisti europei. Dopo i tanto criticati “New Democrats”, “Third Way”” o “Neue Mitte”, sembra che sia rimasto un enorme vuoto di idee. E il presunto salvataggio della sinistra di Jeremy Corbyn è finito male: più sconfitte, Brexit e il trionfo di Boris Johnson. Che cosa rimane? Una Fondazione quasi sconosciuta presieduta da un’ex eurodeputata portoghese di nome Maria João Rodrigues: “Fondazione Europea degli Studi Progressisti”. Certamente per colpa mia, non conosco opere o iniziative rilevanti di questa Fondazione sul socialismo europeo, in un momento in cui la crisi del socialismo democratico e della socialdemocrazia è davvero preoccupante, con i partiti socialisti e socialdemocratici europei in continuo calo elettorale a rischio di irrilevanza politica e ideologica.
I PARTITI SOCIALISTI EUROPEI
L’ANCHOR PARTY del socialismo europeo, la SPD, sta diventando un partito irrilevante con una consistenza elettorale soltanto leggermente superiore a quella del partito di estrema destra “Alternative fuer Deutschland” (nell’ultimo sondaggio la sua quota era del 13% e quella di AfD era del 11%) . Il partito socialista francese è quasi scomparso, così come il PASOK. I laburisti hanno già perso quattro elezioni consecutive e Tony Blair avrebbe detto, pochi giorni fa, sulla nuova leadership di Keir Starmer: ” But the Labour party won’t revive simply by a change of leader. It needs total deconstruction and reconstruction. Nothing less will do ”. È necessario, secondo Blair, un nuovo movimento progressista, una nuova agenda progressista e la costruzione di una nuova coalizione di governo, soprattutto in un dialogo aperto con i demo-liberali (The Guardian, 12.05.2021). Sottolineo: un nuovo movimento progressista e una nuova agenda progressista. Ovvero il progressismo di cui dovrebbe parlare la FESP, anche se il caso della famosa Internazionale Progressista che ha riunito Bernie Sanders e Varoufakis ci ha già messo in guardia dall’inazione sia dell’IS che del PSE. Ma anche il PSOE, che governa la Spagna, ha appena subito una pesante sconfitta a Madrid, a vantaggio dei popolari, avendo la stessa quota elettorale del PP (27,1% contro 25,43% del PP), con VOX in terzo posto, con circa il 17% (media di 14 sondaggi di 9 società diverse, tra l’11.04 e il 10.05, secondo “Electocracia”). In Italia, secondo una serie di rilevazioni del mese di marzo, il Partito Democraticonon decolla dal 18,5%, essendo il secondo partito, dopo la Lega, con il 23,4%, e con poco più di Fratelli d’Italia, già con il 17%. L’estrema destra sale quindi al 40,4% (senza includere Forza Italia, com 6,9%), mentre la somma del PD con M5S e Liberi e Uguali si attesta al 37%. Nei sondaggi di maggio ci sono aggiustamenti minori che non cambiano l’essenziale. Anche così, sottolineo un leggero aumento per il PD (19,4%) e per il M5S (16,9%), con una variazione all’estrema destra: 1,6% in meno per Lega e più 1,5% per FdI. In Portogallo, la situazione è quella che sappiamo – il PS governa in media con circa il 37/38%, un villaggio “gallico” nel panorama socialista europeo.
IL CASO D’ALEMA
IL TUTTO PER DIRE che il panorama dei partiti socialisti europei è preoccupante e che necessita di un lavoro di riflessione su questa lenta, ma persistente, caduta e su quali cambiamenti sarà necessario promuovere per riconquistare la fiducia dei cittadini, per aspirare a una egemonia etico-politica e culturale, per usare il concetto di Gramsci, e un posto di rilievo nella storia futura dell’Unione europea. E qui la Fondazione del PSE dovrebbe servire per promuovere un vigoroso processo di riforma per il rilancio del socialismo europeo. Anche assumendosi come sussidiaria rispetto a fondazioni nazionali che siano, in realtà, più di un semplice nome o annuncio di intenzioni.
Ebbene, invece, stiamo assistendo a uno spiacevole e incomprensibile “spogliarello” della FESP, a un processo di questa Fondazione contro l’ex premier italiano Massimo D’Alema, che ne è stato presidente per sette anni. A credere nelle notizie rese pubbliche dai quotidiani italiani “La Repubblica” e “Il Fatto Quotidiano”, la storia può essere raccontata in poche parole. Fino al 2013, D’Alema è stato Presidente senza remunerazione, essendo deputato. Poi, fino al 2017, non esendo più deputato, gli venivano corrisposti 120 mila euro (lordi) annui (corrispondenti a 5000 euro mensili netti), in un contratto firmato con il Segretario generale della Fondazione. Tale contratto prevedeva una remunerazione non per la funzione, ma per il lavoro effettivamente svolto in esclusiva, con il parere favorevole di una società specializzata belga sulla regolarità del contratto. La Fondazione chiede ora a D’Alema di restituire il totale dei 500 mila euro, perché non avrebbe diritto a compensi per l’esercizio della sua carica, come accaduto prima e come accade ora, con l’attuale Presidente. Per questo la Fondazione ha intentato una causa in Belgio. Dalle notizie si sa che furono chiamate a pronunciarsi le 25 Fondazioni dei partiti socialisti, con 23 voti favorevoli e due astensioni.
Questa storia, in ogni caso, non è edificante e mostra chiaramente di cosa si occupa la FESP: portare in tribunale un ex Presidente (per sette anni) della Fondazione ed ex Primo Ministro italiano per essere stato pagato durante l’esercizio della carica. Cioé, per il lavoro svolto, in regime di esclusività, non percependo nessun altro compenso per non essere più deputato e non svolgere funzioni in nessuna istituzione europea a Bruxelles, come, invece, probabilmente sarà il caso dell’attuale presidente, Maria João Rodrigues. Un compenso che è stato oggetto di un contratto tra D’Alema e il segretario generale della Fondazione, il tedesco Ernst Stetter, che, a quanto pare, non è stato nemmeno ascoltato in questo processo.
La crisi dei partiti socialisti e delle loro fondamenta è grave e richiede uno sforzo enorme da parte di tutti per superarla, anche perché questa crisi colpisce gravemente la stessa Unione Europea, dal momento che i partiti socialisti sono il suo pilastro essenziale, politico e ideale. Ma, no, l’unica notizia che arriva dalla Fondazione è un procedimento giudiziario contro D’Alema. C’è qualcosa di sbagliato in questo, perché non solo danneggia l’immagine dei socialisti europei, ma anche perché rende conto delle preoccupazioni che occupano l’attuale leadership della FESP: silenzio sull’essenziale, clamore pubblico su questioni interne di procedimento amministrativo, mentre non si sa se la ragione stia dalla parte della FESP o del suo ex presidente, ex leader del PDS e dei Democratici di Sinistra ed ex premier italiano.
Conosco la traiettoria di Massimo D’Alema (e l’ho conosciuto anche di persona) dai tempi in cui era uno dei due dirigenti del PCI del compianto Enrico Berlinguer (l’altro era Walter Veltroni) che erano destinati a recitare un ruolo da protagonisti nel futuro della sinistra italiana. Non sono stato d’accordo con la scissione da lui ispirata nel PD durante il famoso referendum promosso da Matteo Renzi, anche se oggi, visto come agisce politicamente quest’ultimo, capisco meglio le sue ragioni. Ma lo rispetto politicamente. In tutta la confusione che seguì Tangentopoli, non ricordo di averlo visto coinvolto in casi di corruzione. Il compenso concordato con il segretario generale della FESP, dal quarto anno in cui ne era il presidente, non mi sembra neppure immorale o ingiustificato. D’altronde, D’Alema lo ha giustificato ieri (14.05.2021), in un’intervista al quotidiano “La Repubblica”.
IN SINTESI
Da qualunque parte stia la ragione, ciò che risulterà da questo caso sarà un’immagine poco edificante della Fondazione e l’idea che invece di preoccuparsi di ciò che conta davvero, il futuro del socialismo democratico e della socialdemocrazia, il consolidamento e l’approfondimento dell’Unione Europea e la costruzione di una cittadinanza europea, si occupa di guerriglie interne dal sapore contabile senza grandi preocupazioni sugli effetti che questo avrà sulla propria immagine e su quella di chi è stato Primo Ministro di un grande e importante Paese dell’Unione Europea. # Jas @ 05-2021.
L'ARTICOLO SU "IL FATTO QUOTIDIANO"


“S/Título”. Detalhe.
IGUALDADE DE GÉNERO E LUTA DE CLASSES
Por João de Almeida Santos
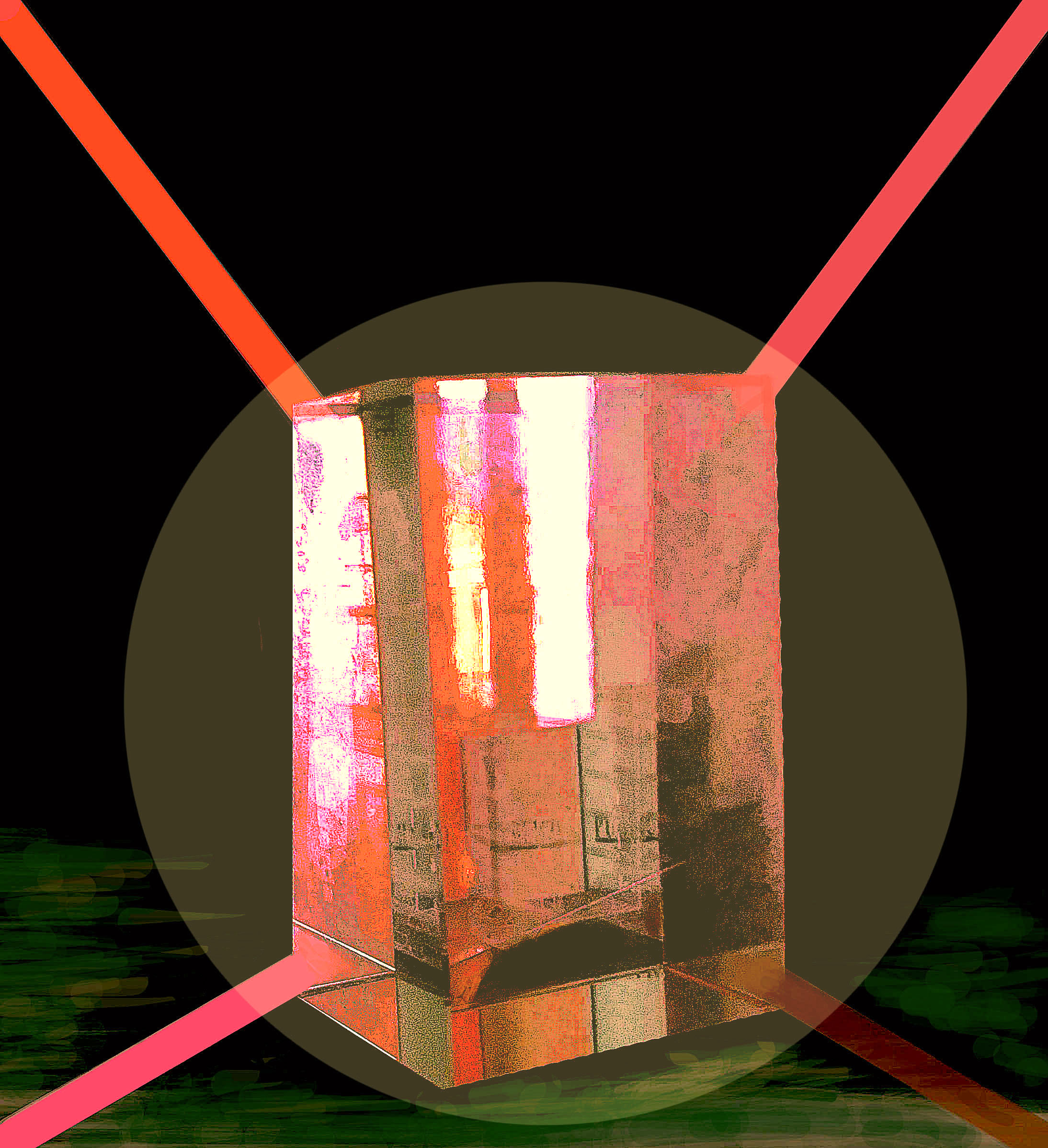
“S/Título”. Jas. 05.2021.
NÃO É ASSIM TÃO RARO encontrar tomadas de posição pelas defensoras de uma política para a igualdade de género que, de tão radicais, mais parece estarem a transpor para a luta política a lógica da luta de classes. Uma luta pelo poder entre quem o tem e quem o não tem. Assim, sem mais. Ou seja, a mesma filosofia e lógica que via a classe operária como classe explorada pela revolução industrial e pelo poder dela derivado. Marx explicou bem a razão desta posição. As duas classes centrais na sociedade e na história eram a classe dos proprietários dos meios de produção e a classe dos produtores. Uma detinha todo o poder, a outra sofria-o. Hoje, nesta visão aggiornata, as mulheres representariam o grupo social dominado e explorado pela própria dinâmica interna de um sistema construído segundo a lógica do poder masculino. Um sistema, afinal, muito mais antigo do que a própria revolução industrial. No discurso feminista radical esta foi, é e continua a ser a contradição principal, apesar da igualdade perante a lei e das conquistas que foram alcançadas sobretudo ao longo do século XX. E convenhamos que, apesar dos enormes progressos alcançados relativamente ao que se verificou durante séculos e séculos, a generalidade das sociedades desenvolvidas ainda não conseguiu atingir a igualdade substantiva, que não a legal, entre homens e mulheres. Até porque a lei não está concebida para tratar das identidades de forma diferenciada, porque, por definição, é geral e abstracta, sendo o seu referente a cidadania, e não as identidades. Não há, na matriz liberal do direito, nem um direito de classe, como queriam os teóricos do chamado direito soviético, nem de género ou de raça. E isto faz a diferença.
DA DESIGUALDADE À IGUALDADE DE CONDIÇÕES E DE OPORTUNIDADES
PODERIA FAZER aqui uma exaustiva análise das etapas de evolução da relação homem-mulher, desde o conceito romano de filiae loco (e não de uxor) até Kant, onde à mulher não é reconhecida “personalidade civil”, sendo a sua “existência de qualquer modo somente inerência”, “porque a conservação da sua existência” não depende do próprio impulso, mas do comando de outrem (“Metafísica dos Costumes”, II, §46). Por isso, não lhe é reconhecido, pelos liberais em geral, o direito de voto. Ou, depois, a situação nos USA até à XIX Emenda da Constituição, de 1920, onde finalmente acabaria por lhe ser reconhecido o direito de voto. Ou ainda toda a legislação que determinou uma sua dependência formal do marido. E por aí em diante, numa clara discriminação histórica de metade da humanidade. Bastaria ver a evolução do sufrágio universal para se ficar logo com uma visão dos termos e da iniquidade política desta relação ao longo da história.
Na verdade, se as desigualdades subsistem – e não é só, ou particularmente, entre homens e mulheres, mas entre homens e homens e entre mulheres e mulheres -, o objectivo deverá ser o da promoção progressiva de condições gerais que tornem possível a qualquer cidadão dispor das mesmas oportunidades. O Tocqueville chamava-lhe “igualdade de condições”. O Estado e a lei devem distribuir os bens públicos necessários a essa igualdade geral de condições e de oportunidades. Mas isso não significará automaticamente que todos aproveitem essas condições de base para atingirem os mesmos resultados, por várias e complexas razões. Justiça distributiva e justiça comutativa, são os dois conceitos que distinguem, neste aspecto, a visão liberal da visão social-democrata e socialista. No caso da relação homem-mulher a questão é mais clara e pode ser isolada, removendo finalmente todos os obstáculos a que uma mulher, seja de que condição for, possa atingir com sucesso os mesmos resultados que os homens. E a primeira dessas condições deve ser, claro, a igualdade perante a lei, devendo-se, depois, proteger as diferenças específicas de género de modo a que não sejam impeditivas de obter resultados equivalentes. Por exemplo, a condição de mãe e todas as variáveis que decorrem dessa condição.
Políticas progressivas na relação homem-mulher tal como nas relações de cidadania são necessárias. Até mesmo recorrendo a medidas de discriminação positiva que ajudem a promover a igualdade de condições e de oportunidades, na relação homem-mulher ou, por exemplo, nas relações entre um interior deprimido e um litoral desenvolvido, desde que isso não se transforme em regra, castigando a universalidade e o carácter abstracto da lei.
A NATUREZA DA RELAÇÃO HOMEM-MULHER
MAS O QUE NÃO ME PARECE ACEITÁVEL é identificar a relação homem-mulher simplesmente como uma relação de poder, centrando nela toda a atenção e transformando-a na clivagem central das sociedades desenvolvidas. Até porque nestas sociedades o que legalmente é possível fazer já foi feito ou está a ser feito. E se é verdade que a relação homem-mulher é central na sociedade, ela não o é porque se trate fundamentalmente de uma relação de poder de um sobre o outro. Porque esta é uma relação ontológica que garante a reprodução da espécie. Sendo uma relação social ela é também uma relação natural. E é, e também por isso, uma relação com uma dialéctica de afectos que vai para além da relação de espécie, elevando-se à dimensão universal de género, sem perder a sua dimensão natural. Sobre isto Marx tem uma página muito interessante nos “Manuscritos de 1844”, no 3.º Manuscrito. Cito duas frases (MEW, Berlin: Dietz Verlag, 1981: Schriften bis 1844, I, 535): “A relação imediata, natural, necessária do ser humano com o ser humano (“Menschen”) é a relação do homem (“Mannes”) com a mulher (Weibe”). (…). A relação do homem (“Mannes”) com a mulher (“Weib”) é a mais natural relação do ser humano com o ser humano” (Menschen zum Menschen”). Sublinho: relação natural do ser humano com o ser humano. Ou seja, nesta relação a natureza humaniza-se e o ser humano exprime-se como ser natural. Melhor ainda, com Umberto Cerroni: a relação homem-mulher “torna-se a medida de toda a civilização no específico sentido de que ela é a primeira relação natural do género humano e a primeira relação humana da sensibilidade natural” (“Il rapporto uomo-donna nella civiltà borghese”, Roma, Riuniti, , 1976: 59). Mas ela é também constitutiva dessa comunidade de base que é a família com toda a série de vínculos inerentes, a começar nas relações de parentalidade e nas responsabilidades inerentes a essa condição. Esta relação é, pois, muito mais complexa do que uma relação de poder. Identificá-la, como faz, por exemplo, a deputada socialista Isabel Moreira (num artigo no “Expresso”, de 07.05.2021), como relação de poder é amputá-la das outras dimensões ou talvez seja mesmo amputá-la da sua dimensão essencial. Uma sociedade que veja desse modo esta relação – como relação de poder – tornar-se-á uma sociedade onde não se poderá viver porque atravessada por uma tensão permanente que destruirá a própria essencialidade, complexidade, riqueza e extrema delicadeza desta relação. Ela é uma relação ontológica que traduz não só o grau civilizacional de uma sociedade, mas também a sua moralidade, a sua cultura, a sua relação com o afecto, com a sensibilidade, com a beleza e com o futuro. Numa palavra: ela é mais, muito mais do que uma relação de poder. Identificá-la assim significa diminuí-la e reduzi-la a uma mera relação política, esquecendo que ela é uma relação ontológica primordial, como muito bem viu Marx, em 1843.
RADICALISMO
CONFESSO que fiquei impressionado com este artigo da deputada, pelo seu radicalismo. Se este artigo fosse um poema, até teria gostado. Mas não, este é um grito de uma mulher que se sente assediada pelo mundo masculino mesmo na sua posição de poder, como deputada da nação, titular de soberania no poder legislativo, mas também no poder comunicacional, onde também ocupa uma posição regular. Dir-se-á: é o grito de uma representante. Só que ela não representa as mulheres, representa a Nação. Não pode, pois, pôr o Parlamento, a que pertence, a gritar contra a outra parte da Nação.
Cito o início do seu artigo, que é todo um programa de combate:
“Todas as mulheres sabem que lhes falta poder. Aquele poder. O poder que o sistema atribui por defeito aos homens. O mundo avança, mas o mundo ainda é (em tudo) ‘masculino por defeito’ (…) e qualquer comportamento nosso é filtrado, e por isso enviesado, por essa distorção”.
O poder masculino não é, pois, conquistado pelos homens, mas funcionalmente atribuído pelo sistema, “por defeito”, ou seja, automaticamente. O sistema tem sexo e é masculino. Consequência? Mudar o sistema. Pela revolução?
Outra citação:
“As múltiplas convenções internacionais (…) deviam fazer pensar que a nossa morte acontece porque há um sistema de poder machista que passa por tudo, sim, por tudo, desde a linguagem que nos omite à organização do poder político”.
É mesmo uma questão de sistema. Faça-se o que se fizer, o sistema estará sempre lá para atribuir o poder aos homens e silenciar as mulheres. Consequência? Mudar o sistema. Pela revolução?
Finalmente:
“Todas as mulheres sabem o que é não ter poder, o mesmo é dizer que todas as mulheres sabem o que é ser mulher”.
Todas as mulheres sabem o que é não ter poder. Todas? É um problema de poder dito por uma mulher de poder a milhões de homens sem poder algum. O outro lado do poder é a mulher, na sua visão. Definir o poder pela negativa, por aquilo que não é, só é possível pela definição do que é ser mulher, o seu contrário. A contradição principal que se deduz de toda esta narrativa é a que se verifica entre poder (masculino) e mulher. No mínimo, é um modo um pouco estranho de encarar o poder e as desigualdades sociais. Muda-se o sistema para resolver esta contradição e, ipso facto, resolve-se todas as outras? Marx dizia que esta era uma relação natural já com dimensão social e que era a primeira relação social com dimensão natural. Dimensões que superam de longe a relação de poder entre ambos (uma relação social), porque se trata, afinal, de uma relação constituinte, enquanto relação de espécie e relação social primigénia, onde a dimensão cooperativa é, sem dúvida, determinante.
CONCLUSÃO
A MIM PARECE EXAGERADA esta maneira de ver o mundo, sobretudo nos países desenvolvidos, onde a igualdade perante a lei, a igualdade de condição e a igualdade de oportunidades atingiram níveis de concretização muito assinaláveis. É um olhar zangado sobre o mundo. Depois, é uma visão anti-sistema, vinda de alguém que ocupa um importante lugar no sistema, pertencendo a um partido que não é, julgo eu, anti-sistema. Vendo bem, a culpa nem é da masculinidade em si, mas do sistema que a adoptou, uma espécie de “mão invisível” que tudo controla e domina. Depois, a consequência: a ruptura com o sistema e com o poder que dele resulta. E a pergunta natural: para populismo anti-sistema não chega já o CHEGA ou é preciso que os deputados eleitos nas listas do PS também passem a interpretar este papel?
Resumindo, poderia dizer que na relação homem-mulher converge o essencial da ideia de vida (Lebenswelt) e, por isso, não é me parece aceitável reduzi-la a uma mera relação de poder. #Jas@05-2021

“S/Título”. Detalhe.
IDENTITÁRIOS E POPULISTAS – A MESMA LUTA
Por João de Almeida Santos

“Identitários&Populistas”. Jas. 05-2021.
INTRODUÇÃO
O CENTRO-ESQUERDA e o CENTRO-DIREITA estão em crise, mesmo se governam. Mas não sabem. Ou parece que ainda não se aperceberam disso. Porque, em vez de alinharem as suas formas organizativas, os seus programas e a sua relação com a cidadania com os novos desafios, continuam a dar-nos mais do mesmo. A crise generalizada dos partidos socialistas por essa Europa fora é um exemplo evidente. Há por lá, em Bruxelas, uma Fundação do Partido Socialista Europeu (Fondation Européenne d’Études Progressistes), presidida por uma ex-eurodeputada do PS, encarregada de repensar o socialismo democrático e a social-democracia, mas ninguém ainda deu conta do que andam por lá a fazer. Mas quais são, além disso, os sinais da crise? Como parece ser evidente, a ascensão do populismo, sobretudo do populismo de direita. Que é fortemente anti-sistema, anti-establishment. Aqui, entre nós, a crise do PSD e do CDS é evidente. Um, em queda; o outro, em vias de extinção. Acossados pelo CHEGA (e por Iniciativa Liberal), um quase desapareceu e o outro não descola. Mas o CHEGA é só o sintoma de uma crise mais profunda. Por outro lado, sinal preocupante, sobretudo à esquerda, é a hegemonia deslizante dos movimentos identitários nas suas inúmeras frentes, dos movimentos anti-racistas até aos que professam a ideologia de género, o revisionismo histórico mais desbragado e inculto e a limpeza ética das línguas nacionais. Estes movimentos identitários são antiliberais porque põem no centro do seu discurso precisamente ideologias de identidade, fragmentando a ideia de cidadania, a sua universalidade e o universo conceptual construído sobre ela.
RAIZES - UMA QUESTÃO ANTIGA
Esta visão não é nova e remete-nos para as reacções ao legado liberal e iluminista da Revolução Francesa. Basta citar o que dizia o conservador Joseph de Maistre nas suas “Considerações sobre a França” (1797): “A constituição de 1795, tal como as suas predecessoras, é feita para o homem. Ora, não existe homem no mundo. Vi, na minha vida, franceses, italianos, russos, etc.; até sei, graças a Montesquieu, que é possível ser persa; mas, quanto ao homem, declaro que nunca o encontrei na minha vida; a não ser que exista sem que eu saiba”. Onde se lê homem, leia-se ser humano, claro. De resto, todo o pensamento romântico-conservador alinha nesta visão (De Bonald a Mueller). O marxismo, por sua vez, haveria de reconduzir a ideia de ser humano à sua condição social e ao antagonismo irredutível das classes sociais, identificando o destino da humanidade com o do proletariado, o do povo oprimido pela revolução industrial. A lógica é a do antagonismo, a da eliminação do outro pólo da dialéctica para a construção do homem novo, livre e emancipado. A abstracção (burguesa) é a fórmula adequada para encobrir as reais fracturas de classe. Marx formula bem esta ideia em “Sobre a Questão Hebraica”. Como se sabe, o marxismo ortodoxo também viria a recusar a ideia de um direito geral e abstracto, aplicado ao ser humano (à cidadania, sem distinções), contrapondo-lhe um direito de classe. Vichinsky, Stuchka e Pashukanis foram os seus mais célebres intérpretes. Hans Kelsen haveria, nos anos cinquenta, de dedicar um livro à sua crítica (The Communist Theory of Law, New York, 1955). Ambas as visões, a conservadora-romântica e a marxista, recusam, como vimos em De Maîstre, a ideia de ser humano em geral, porque abstracta e descarnada, e convergem neste ponto axial de recusa do legado iluminista e liberal. Mas também na crítica à ideia liberal de representação política (Marx fá-lo sobretudo em “Crítica do Filosofia Hegeliana do Direito Público” e em “Sobre a Questão Hebraica”, ambas as obras de 1843. À direita, o movimento que inspirou o fascismo italiano e o fascismo português, já no século XX, a Action Française, de Charles Maurras, propunha uma “politique du fait” contra uma “politique des idées”. Ficou famoso o debate, nos anos trinta, entre Paul Nizan, marxista, e Julien Benda, iluminista e liberal, em torno de ambos os patrimónios.
HIPÓSTASES - A MECÂNICA DA IDEOLOGIA
Ora, a alternativa populista e a alternativa identitária têm – mesmo que a maior parte dos seus apóstolos não saibam – raízes profundas nestas tradições alternativas, à direita e à esquerda, ao património iluminista e liberal. E sobre a convergência do pensamento conservador com o pensamento marxista fala Karl Mannheim num belo ensaio sobre “O Pensamento Conservador” (veja-se o meu “Os Intelectuais e o Poder”, Lisboa, Fenda, 1999, pp. 71-87). Não só na marcação de um inimigo comum, o Iluminismo, mas também naquele elemento comum a que Mannheim chama “quiliástico”. Estas visões tiveram, naturalmente, os seus intérpretes e a sua representação política ao longo da história, como se sabe. Por exemplo, o nacional-socialismo construiu a sua visão do mundo a partir de Arthur de Gobineau (1816-1882) e da sua teoria da raça (no Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, de 1855), ou seja, tentou reconstruir a unidade humana a partir de uma sua parte, a raça ariana. O socialismo real, fê-lo a partir da ideia de classe. Hipóstases que – tal como nos movimentos identitários – elevam artificialmente à universalidade uma parte do real, de onde, depois, toda a realidade passa a ser deduzida de forma apodíctica. O mesmo mecanismo de construção e de funcionamento da ideologia (sobre esta matéria veja-se o meu Homo Zappiens, Lisboa, Parsifal, 2019, pp. 67-85). O filósofo italiano Galvano della Volpe e a sua escola (a que me honro de ter pertencido) desenvolveram uma sofisticadíssima rede conceptual de desmontagem deste processo. Ora, a abstracção indeterminada tem exactamente a função de superar as hipóstases, elevando-se acima das partes e do particular, para que as partes e o particular possam ser por ela regulados de forma justa e equitativa. A obra de Hegel assenta precisamente na tentativa de fundação desta universalidade ao desenvolver a dialéctica do conceito não a partir da ideia de interesse particular (como acontecia nos contratualistas), mas, sim, a partir de uma exigência lógica (a relação entre a unidade e a multiplicidade). Por exemplo, a igualdade de todos (multiplicidade) concebida a partir dessa abstracção que é a lei geral e abstracta. O que não é o caso, por exemplo, do chamado direito soviético, o direito de classe, já referido, ou o caso onde as discriminações (na lei) ditas positivas, quando têm a pretensão, em nome de critérios sociológicos, de ser a regra no universo do direito ou, ainda, quando se considera que o secular património jurídico ocidental está ferido irremediavelmente pela diferença de género (a favor do género masculino).
O PATRIMÓNIO ILUMINISTA
E LIBERAL E OS SEUS INIMIGOS
Este é o enquadramento a partir do qual devem ser lidas estas duas tendências, a populista e a identitária. Acontece que a nossa civilização está há séculos configurada em torno dos princípios que constam da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Basta ler os 17 princípios, duas páginas, para constatar isso mesmo. E não só no campo político, mas também no campo da ética, do direito e até numa certa ontologia do ser humano, bem retomada, depois, na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) ou na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000-2009). E também acontece que na história houve partidos, à direita e à esquerda, que sempre interpretaram politicamente este legado: à esquerda, os partidos social-democratas e do socialismo democrático ou do socialismo liberal; e, à direita, os do centro-direita, conservadores, demo-liberais e democratas-cristãos, partidos do chamado arco governativo. Não é por acaso que hoje o modelo social europeu é partilhado sem clivagens pelo centro-esquerda e pelo centro-direita e que todo um património civilizacional é também comummente partilhado. A construção da União Europeia é filha desta visão partilhada. O que está em causa, portanto, é, por um lado, a questão da centralidade deste património e, por outro lado, uma sua nova recusa, agora, por parte do populismo e dos movimentos identitários: a ideia abstracta e universal de cidadania, traduzida nos princípios do direito, numa ética universalista e na democracia representativa ou, se quisermos, deliberativa.
Se o populismo é facilmente identificável nas suas principais características (anti-sistema, recusa das mediações, carisma), já o mesmo não acontece com os movimentos identitários e suas derivadas ideológicas que se vão também subliminarmente infiltrando na linguagem institucional e na linguagem comum, sob forma de política e linguisticamente correcto. Do que se trata verdadeiramente é de um processo de conquista da hegemonia que já vai bastante avançado porque está a ser assumido acriticamente pelas instituições nacionais e internacionais como uma forma de progressismo civilizacional, construído à revelia da matriz iluminista e liberal. Por exemplo, em plena União Europeia classifica-se uma Unidade de Investigação e Desenvolvimento (UI&D) com base na ideia de simetria de género (transpondo para a ciência um critério especificamente social), exige-se o uso generalizado de linguagem neutra e inclusiva (através de uma limpeza ética do património histórico de uma língua ou do próprio património histórico em geral), ou, como no caso ridículo da empresa EMEL, do Município de Lisboa, fazem-se inquéritos a cisgéneros masculinos e femininos, a transgéneros masculinos e femininos e, mais interessante ainda, a outros (sexos), talvez géneros neutros. Isto para não falar da credibilidade mundial que vem sendo dada às inacreditáveis iniciativas do movimento #Me Too, algo que me faz pensar a um processo de streeptease emocional em diferido (vista a distância temporal entre o acto e a sua denúncia judicial e moral). Ou seja, está a propagar-se uma tendência ideológica multiforme que já capturou as instituições nacionais e internacionais e que está a assumir a forma de controlo administrativo e moral da linguagem e dos comportamentos inscritos nessa linguagem, não explicitamente enquanto directo controlo estatal dos comportamentos (mas com graves incidências sobre o Estado), mas enquanto controlo social sancionatório dos comportamentos e da linguagem que os exprime. A isto chama-se hegemonia, no seu sentido mais amplo, que não o estritamente político. Uma hegemonia, contudo, que, mais do que ético-política e cultural (no sentido gramsciano), é imposição administrativa, moral e institucionalmente coerciva, de tipo policial (polícia dos costumes).
CONSEQUÊNCIAS
Ora, o que acontece é que o património iluminista e liberal que está na raiz da nossa civilização, e que estes movimentos estão a pôr em causa, não está a ser defendido nem pelo centro-esquerda nem pelo centro-direita, estando estes, bem pelo contrário, a sofrer, por parte das suas alas civilizacionalmente mais aguerridas, fortes infiltrações que tendem precisamente a paralisá-los em relação a esta hegemonia deslizante. Qual é a consequência? São a extrema-direita e o populismo que estão a combater com força esta hegemonia, não em nome da matriz iluminista e liberal, mas em nome de um conservadorismo neo-romântico centrado na tradição, no nacionalismo, numa certa ideia de povo, num pensamento securitário e na desconfiança sistémica em relação ao diferente.
Ou seja, aquilo a que estamos a assistir é, por um lado, a uma grave crise do património político, cultural e civilizacional que se inscreve na matriz de inspiração iluminista e liberal, e, por outro, a um forte crescimento de novas tendências que se inscrevem na matriz romântica e anti-iluminista e que na história foram sempre (com retrocessos calamitosos) derrotadas pelos que sempre defenderam o nosso património civilizacional, cultural, político e jurídico. Assim, à crise que estes estão a sofrer, por razões de inacção, devido às profundas mudanças estruturais que estão a acontecer em todas as frentes das nossas sociedades, junta-se outra incompreensível inacção política, cultural e civilizacional, devida em grande parte à redução da política a puro management, governance, sem profundidade temporal e estratégica, ou seja, sem ambições hegemónicas, ou mesmo a uma promoção da despolitização e do enfraquecimento da legitimidade electiva como aparente garantia de credibilidade social, que foram perdendo enquanto agentes políticos de plena responsabilidade.
A crise do establishment político, que se vê com clareza na fragmentação dos sistemas de partidos na Europa, no fim da polarização bipartidária, no crescimento dos partidos temáticos – na Alemanha, numa sondagem de finais de Abril, os Verdes já são o primeiro partido, com 28%, tendo ultrapassado a CDU/CSU (22%) e o SPD (13%), que já está ao nível dos liberais do FDP (12%) e de Alternative fuer Deutschland (11%) – e dos partidos de extrema-direita (AfD, LEGA, Fratelli d’Italia, Rassemblement National, VOX, ChEGA, por exemplo) e no alastramento da multiforme ideologia identitária a caminho de um perigoso utopismo em choque frontal com a melhor tradição ocidental, esta crise, dizia, pode representar uma grave ameaça aos grandes princípios que sempre fundaram a nossa civilização, em particular os princípios da liberdade e da igualdade perante a lei. Afinal, os dois grandes princípios que inauguraram a contemporaneidade contra o privilégio do Ancien Régime. No fundo, é isto que está em causa e, sinceramente, não vejo como possa estar a ser deixado à mercê dos novos profetas da novilíngua e dos aduladores da política carismática.

Identitários&Populistas. Detalhe.
SALTAR MUROS – CARTA A UMA AMIGA
Reflexões sobre a Arte
Cinco Fragmentos
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 04-2021.
I.
LEMBRO-ME DO TEU CONSELHO acerca do atrevimento de saltar muros. De sair do rotineiro e do convencional. De não acatar as normas impostas pela subjectividade social (que não a lei), vigiada pelos “chiens de garde” da moralidade dominante, agora tão diligentemente controlada pelos “nouveaux chiens de garde”, os do “política e linguisticamente correcto”, os mercenários da palavra ou os apóstolos da transparência e da brancura moral. Os da retórica angelical. Os pregadores que falam dos púlpitos do poder não electivo, seja ele qual for. E que todos os santos dias têm que apontar o dedo acusador a alguém, quando não têm tragédias para mostrar e comentar. Os novos “Intelectuais orgânicos”, para usar o conceito de Antonio Gramsci. Mas mais orgânicos do que intelectuais. Sim, lembro-me bem, pois tu sempre gostaste de saltar muros.
II.
A QUESTÃO reside no conceito de muro. Quem não gosta de saltar muros? Todos saltam muros, mas, na maior parte dos casos, fazem-no às escondidas, não querendo ser apanhados a saltar. Se fossem, deixariam de poder apontar o dedo aos outros, os que saltam muros sem se preocuparem muito com o que os outros pensam disso . Afinal, quem não gosta de saltar? Saltar faz bem à alma e ao corpo. É como a dança. E até serve para esconjurar os males da alma e para invocar chuva em tempos de seca espiritual ou anímica. Afinal, um muro é sempre um muro e a vida está cheia deles. Para avançar na vida é preciso saltar muitos muros. E os muros mais altos e difíceis são os que estão dentro de nós.
III.
QUANDO ERA CRIANÇA saltava muros, na minha aldeia, para ir à fruta, comer cerejas em cima de cerejeiras que não eram nossas. Rebeldia, risco, aventura, prazer. Que bonito! Às vezes, eram as nossas próprias árvores que assaltávamos, com os nossos amiguinhos, às escondidas dos nossos pais. As uvas, oh, essas uvas “colhão de galo” que havia na principal vinha do meu Pai eram as mais apetecidas… Em setembro, lá íamos nós, os assaltantes, os salteadores de fruta proibida, comer estas uvas, às escondidas. O meu Pai desconfiava, mas não dizia nada. Limitava-se a sorrir, no meio de alguma conversa que aludisse à vinha. Até me lembro de um proprietário que foi a minha casa acusar-me de ter saltado o muro e ter ido às suas cerejeiras, o que, por acaso, até nem era verdade. Se calhar já tinha fama de assaltante de muros em forma de cerejeira. Fiquei irritado e disse para mim: “um dia destes vou lá e apanho uma barrigada de cerejas”. Saltar esse muro fazia-me bem à alma, mais até do que as cerejas.
IV.
E POR ISSO deixa-me que te diga, a ti, cara Amiga, que quem não salta muros não é livre. A começar pelos que estão aprisionados nos muros da indiferença estética, da rigidez moralista ou do culto frívolo da aparência. E, mais, saltá-los, agora falando de arte, é como respirar, é a própria condição da criação. Salta-se muros escrevendo um poema, pintando um quadro, escrevendo uma partitura ou desenhando um bailado. E eu, por isso mesmo, e em arte, saltarei todos os muros do mundo, à frente de todos, ainda que tenha de pagar um preço por isso. É como as uvas “colhão de galo”. São boas demais para resistir a um belo salto. Às vezes, saltar muros é como arrombar portas abertas. Mas, mesmo assim, sabe bem.
A arte é liberdade. Uma liberdade não libertina, porque superior. É saltar alto, muito alto. Até às nuvens. Normalmente, até dou a arte como exemplo da liberdade que não se define pela negativa, como querem certos liberais, porque com ela se acrescenta beleza à vida. Sou livre na medida em que crio, sem amarras. Sou livre na medida em que recrio, saltando muros que a rotina nunca consegue saltar. Aqueles muros que a vida não me deixou saltar. Sim, porque a tendência dominante é confinar os comportamentos à medida da subjectividade social ou mesmo dos círculos próximos em que nos movemos, ainda que os muros sejam simbólicos. Sim, muros simbólicos, mas que apetece saltar. E quando, assim, o confinamento atinge a arte isso equivale a ditar o fim da criatividade. Pensando bem, quem mais precisa de saltar muros é quem os tem na própria cabeça. Bom, todos temos muros na nossa cabeça e por isso todos temos de os saltar. Uns mais, outros menos; muros mais altos ou mais baixos. Porque a vida é como uma maratona de obstáculos, de muros. E, também por isso, o verdadeiro desafio da arte é derrubar muros na cabeça dos que os têm e não os saltam, revelar o que está escondido atrás dos muros ou o que é proibido pela moral e pela estética comuns ou oficiais. A arte é como um drone, um veículo sem condutor que paira sobre os muros da vida revelando a beleza invisível ao olhar distraído do transeunte amuralhado. Mostra o que a sensibilidade normal ou convencional, mais ou menos confinada, não vê. Revela ou desvela, cria ou recria, livremente. Ela não é, de facto, susceptível de ser amuralhada, presidiada ou colonizada. Por quem quer que seja: família, amigos, comunidade, Estado. Se o for deixa de ser arte. Porque deixa de ser livre. E porque, assim, passa a ser cúmplice da hipocrisia, que é precisamente o contrário da arte. Não foi por acaso que Schiller propôs o conceito de Estado estético, aquele que funda a boa cidadania e a sociabilidade harmoniosa na educação estética, no culto da beleza como norma reguladora da vida em sociedade. Pode nem se acreditar, mas Kant chamou ao belo “símbolo da moralidade”, julgo que na “Crítica do Juízo”. Por isso, até poderíamos dizer que o imperativo social primário deveria ser “Comporta-te esteticamente!”, convertendo o famoso imperativo categórico em imperativo estético: age de tal modo que a máxima da tua sensibilidade possa sempre, e ao mesmo tempo, valer como princípio de beleza universal. Se assim fosse, cara Amiga, o nosso quotidiano não estaria tão sujeito a muros como está hoje (a moral torna-se exigência estética), onde a estética se tornaria exigência moral e onde a sociabilidade se fundaria, em cada um de nós, no dispositivo estético da alma, sendo, por isso, a sensibilidade o principal sensor de uma sociabilidade harmoniosa. Não se trata, como podes compreender, de uma nova moral, mas sim de uma visão do mundo alternativa, onde a opressão simbólica não tem lugar.
V.
A YOURCENAR, a das “Memórias de Adriano” ou de “A Obra ao Negro”, dizia que só se possui pela arte e que mesmo os que pecam, os que saltam os muros da vida, ainda não possuem. Ou seja, a verdadeira posse só acontece aos que, com a arte, saltam os muros da alma. Ousaria até dizer que só possui quem salta muros. E quem salta o próprio muro do corpo para se elevar até à alma. Só aí se possui. Quem não saltar o muro do corpo nunca possuirá. A verdadeira posse é espiritual porque acontece na alma. Como possuir em arte. É disto que falo. E o Bernardo Soares também, pagando o preço de não ser compreendido pelo António Lobo Antunes. Falo da alma. A pior censura é a que nem aceita que o amor seja cantado e que o sedutor som chegue ao outro lado do muro como melodia cativante. A pior censura é a que obriga a tapar os ouvidos para não se ouvir o canto das sereias e acabar possuído na alma. O Bernardo Soares era ainda mais radical. Via o amor através de um espelho que reflectia uma certa imagem de si próprio. Nunca ouviste dizer “quem amas não é isso que tu vês nele/a”, “é uma construção tua”, “ama-se no outro uma parte de nós mesmos”? Eu já ouvi isso muitas vezes. Era radical o Bernardo Soares. Saltava os seus próprios muros interiores, olhando de través para a vida. Como se o mundo fosse uma galeria de arte e ele um atento observador a perscrutar e a tomar notas sobre a essencialidade das obras expostas. A posse, para ele, era um exercício de alteridade sobre si, desenvolvido através da arte, a pretexto de uma mera imagem do real por si observado (de través, entenda-se). Ele evitava, assim, os muros exteriores, ocupando-se exclusivamente dos seus próprios muros interiores. E a estética tudo resolvia. Era um pouco radical, este Bernardo Soares. Por isso não se ajeitava com a poesia.
No que me diz respeito, eu, poeta ou pintor que seja, salto o muro todas as vezes que canto alguém, transcrevendo na minha pauta colorida os sons e as cores que sinto dentro de mim e que me dão força para levitar. E se a música for bela que importa que digam que o som chega ao outro lado do muro como a melodia das sereias aos ouvidos dos navegadores ou aventureiros da vida, dos que nunca tapam os ouvidos? Afinal, é isso mesmo que quero. O artista, quando salta o muro, não procura o corpo, mas a alma… ainda que possa também desejar o corpo que traz essa alma consigo. Mas, é verdade, o Bernardo Soares não o desejava. Só a sua imagem. Eu não me chamo Bernardo Soares. Verdadeiramente nem sei se sou eu ou outro que nasceu de uma estranha circunstância da vida… Mas isto também ele diria. Jas@04-2021.
ENSAIO SOBRE A ESQUERDA E A NATUREZA HUMANA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 04-2021.
SE É POSSÍVEL LER os «códigos genéticos» da direita e da esquerda, para além da matriz espacial dos tempos da Revolução francesa, então esta última tem de desenvolver uma nova «ontologia da relação», propondo novas leituras sobre a sociedade e sobre si própria, em linha com o seu código genético, mas também com as fortes tendências que se exprimem num mundo cada vez mais digital e global.
SUMÁRIO Uma «ontologia da relação». Fracturas e interrogações. A esquerda e a natureza humana – uma questão de fundo. Repensar a esquerda, repensando a sociedade. Uma visão «espacial» da política? A esquerda e o Estado Social. A esquerda e os intelectuais. Conclusão.
UMA "ONTOLOGIA DA RELAÇÃO"
NUM TEMPO em que da política já só restam, aparentemente, técnicas de marketing para os rostos dos líderes, tem mais sentido reflectir sobre as identidades que esses rostos de algum modo representam. Ocupo-me da esquerda. E, afinal, que questões se põem hoje à esquerda? A uma esquerda que seja tão radical nos seus pressupostos filosóficos, nos seus valores, princípios e ideais, no seu élan propulsivo, na ética da convicção, quanto moderada e realista nos programas com que se propõe governar, com pragmatismo e de acordo com uma ética da responsabilidade. Porque se a esquerda tem inscrita no seu código genético a palavra utopia, ela própria, inspirando-se em valores projectados no futuro e numa forte ética da convicção, cruza inevitavelmente, mais do que os liberais, o seu destino com o da democracia representativa ou da democracia deliberativa. E porque, ao contrário do que pensam os «decisionistas» ou os apóstolos de uma «ética da convicção» exclusiva e sem limites, a democracia implica compromisso, diálogo, interacção, isto é, uma ética da responsabilidade que modera e regula a força propulsora das convicções. Uma certa relação dinâmica entre liberdade e responsabilidade que vise alimentar uma saudável ética pública. Mas a esquerda e a democracia têm também inscrita na sua matriz a palavra igualdade. Alexis de Tocqueville viu isso como ninguém, em “Da Democracia na América”. A sua era a «igualdade de condições». Mas já a direita não pode dizer que as palavras democracia, igualdade e liberdade façam parte do seu código genético. Porque até os primeiros liberais (na altura, os progressistas) eram antidemocráticos («democráticos e quase comunistas», dizia o liberal Croce) porque anti-igualitários e avessos ao sufrágio universal (censitários; veja-se a constituição francesa de 1791, os escritos de Kant ou de Constant) e cedo (e muitos) toleraram (em Itália, por exemplo) soluções políticas autoritárias. Ao princípio, em Itália, o próprio Benedetto Croce, esse «Papa laico» italiano, como lhe chamou Antonio Gramsci. De resto, os valores matriciais da direita são a ordem, a diferença (a desigualdade) e a hierarquia (Ernst Nolte). Dizendo-o, com o Bobbio de «Destra e Sinistra» (Roma, Donzelli, 1994), a esquerda, no signo de Rousseau, afirma que, à partida todos são iguais, sendo a sociedade (e os seus mecanismos) a fomentar, quando mal organizada, as desigualdades. Que, por isso mesmo, são sociais, não naturais. Pelo contrário, a direita, no signo de Nietzsche, afirma que, à partida, todos são desiguais, sendo a sociedade quem, indevidamente, torna igual o que igual não é, tornando-se, assim, necessário o aprofundamento das singularidades e a minimização dos mecanismos sociais ou públicos de integração. É por isso que a esquerda deve sublinhar esta diferença matricial entre a esquerda e a direita. Não para se limitar a cantar e a glorificar os seus valores e ideais de referência ou para exercer, como função exclusiva, o sindicalismo dos deserdados, mas para colocar os valores da liberdade e da igualdade no seu devido lugar. Porque foi o uso arbitrário e radical destes valores que levou, por um lado, ao totalitarismo (o igualitarismo) e, por outro, ao utilitarismo mais desbragado: igualitarismo da miséria e darwinismo social, socialismo de Estado e neoliberalismo. Mas se é possível ler os códigos genéticos da direita e da esquerda, também é verdade que a leitura desses códigos não é suficiente para uma afirmação política da esquerda: esta tem de fazer uma fenomenologia crítica do existente ou, melhor, uma ontologia do presente ou, melhor ainda, uma ontologia da relação, propondo novas leituras em linha com o seu código genético. O que é uma ontologia da relação? O reconhecimento de que o modelo de relação cognitiva e social centrado no sujeito e no objecto ou no emissor e no receptor cedeu o seu lugar a um modelo de relação inscrito no espaço intermédio, a um modelo relacional onde os sujeitos se convertem em variáveis de um sistema complexo, conservando, ao mesmo tempo, a sua dimensão subjectiva ou substancial. A rede é, por isso, o melhor modelo para relançar a reflexão porque ela é, ao mesmo tempo, um sistema e um facto, ou seja, uma realidade que já está a estruturar – para além das fronteiras territoriais nacionais – novos tipos de relação que nada têm a ver com o módulo moderno e espacial de relação e de representação (sobre este assunto veja-se o capítulo de minha autoria sobre a democracia deliberativa do livro “Estudos do Agendamento”, referido no fim deste Ensaio ). É neste espaço intermédio e nesta lógica relacional que se pode identificar uma esquerda que queira superar uma lógica do sujeito, meramente instrumental, própria da sociedade de massas, da «democracia do público», da era do «spinning» e de uma visão meramente utilitarista da própria natureza. Neste espaço, que poderíamos identificar como um espaço reticular, pode emergir finalmente um indivíduo moderno livre dos tradicionais vínculos orgânicos e territoriais e capaz de irromper directamente, sem mediadores ou «gatekeepers», no espaço público, graças exclusivamente à sua competência social. Ou seja, estamos perante um novo espaço comunitário que não só não anula a individualidade como ainda a reforça. Mas este não é o espaço de uma esquerda que ainda se move por módulos comunitaristas centrados exclusivamente na «ética da convicção» e na territorialidade.
FRACTURAS E INTERROGAÇÕES
PODERÍAMOS perguntar: as fracturas sociais da sociedade pós-industrial – aquela que foi inaugurada pela revolução da microelectrónica – são as mesmas da velha sociedade industrial, com as grandes concentrações operárias, o fordismo e o taylorismo? Que efeitos sociais produziu a generalização das, humanamente desérticas, linhas de «robots» de comportamento não determinístico, vigiadas pelos poucos e novos «operários» de bata branca, os «condutores»? O novo conceito de «middle class», não patrimonial, profissionalmente instável e culturalmente nómada, que lugar ocupa na reflexão estratégica da esquerda? Que resposta tem a esquerda para os novos poderes das novas elites «manageriais» e mediáticas e para o poder imenso e universal das plataformas digitais e das agências financeiras de notação? Que balanço é feito do Estado social, visto que a sua crise se tornou crónica? A responsabilidade da sua crise reside, ou não, no excesso de procura e na debilidade da oferta, mesmo quando é a esquerda a governar? Ou seja, a sua crise resulta, ou não, de uma contradição interna, e genética, que o pode levar a uma espiral autodestrutiva? Continua a esquerda a ler as «indústrias culturais» com as velhas categorias adornianas (da «Dialéctica do Iluminismo», de 1944) e, portanto, a remetê-las para a esfera da alienação? A televisão é o novo inimigo de direita e tudo o que politicamente lhe seja funcional é (deve ser) combatido pela esquerda como deriva tablóide e populista? Qual o papel dos «media» na nova hierarquia dos poderes? A «partidocracia», à esquerda e à direita, não continua a afectar gravemente a democracia, confiscando direitos aos cidadãos? Qual é a solução? E a tão falada mediacracia que papel tem na erosão da democracia representativa e na queda tendencial do valor de uso do voto? Como se transforma a «cidadania passiva» em «cidadania activa»? Como libertar o cidadão da nova «gaiola electrónica» que substituiu essa «gaiola de aço» de que falava Max Weber? A esquerda incorporou radicalmente na sua matriz o individualismo moderno ou pretende superá-lo promovendo novas expressões de sociabilidade comunitária? A esquerda moderada e de governo assume definitivamente causas electivas ou mantém-se prisioneira do pragmatismo? E a Internet e as comunicações móveis, revolucionando radicalmente as relações, que lugar devem ocupar no pensamento da esquerda? O espaço intermédio que elas hoje estruturam não exige que a esquerda formule uma nova ontologia da relação, para além da relação sujeito-objecto, emissor-receptor, meio-fim e de qualquer conceito instrumental das relações humanas? Há muito que se fala de crise de representação e ninguém responde a esta crise. Agora até já se fala de democracia pós-representativa e poucos são os que se preocupam com a mudança de paradigma político que já estamos a viver. O protagonismo político dos «media» rivaliza hoje com o dos partidos, mas ninguém os confronta com a questão da legitimidade. O populismo de hoje é coisa antiga e superada ou é o ressurgimento aggiornato de uma nova resposta à crise generalizada do establishment político que nos tem governado?
Estas questões só podem ser respondidas com uma nova ontologia da relação e com os seus novos pressupostos.
A ESQUERDA E A NATUREZA HUMANA - UMA QUESTÃO DE FUNDO
A ESQUERDA sempre se confrontou com um desafio a que nunca foi capaz de responder claramente: o desafio de assumir uma ideia complexa de natureza humana. Por uma razão essencial: esta ideia era considerada incompatível com a dinâmica transformadora do processo histórico-social. Porque a esquerda sempre viu o processo humano como processo histórico-social em devir, onde a componente natural ocupava sempre uma posição puramente subalterna ou mesmo residual. Outra coisa era atribuir-lhe leis de desenvolvimento de tipo determinístico, como viria a fazer o marxismo ortodoxo. Se tivesse de falar de natureza humana, a esquerda clássica diria sempre que ela é o resultado de um processo, não estando, pois, pré-determinada. Vemos bem os resultados desta visão quando nos confrontamos com a questão climática e com os problemas do eco-sistema.
A verdade é que, no imediato pós-guerra, os existencialistas traduziram esta ideia através daquela conhecida fórmula de que «a existência precede a essência». E, antes, Gramsci traduziu-a por aquela outra feliz expressão de que o homem é aquilo em que se torna («è ciò che può diventare»). Mas a verdade é que há, em Marx, páginas muito interessantes, nos «Manuscritos de 1844», onde a dimensão natural da vida em comunidade é muito valorizada e onde a natureza é considerada como «corpo inorgânico do homem», sendo, por isso, o homem considerado a cabeça orgânica da natureza. Um só corpo, pois. Claro que quando se fala de homem quer dizer-se ser humano. De qualquer modo, a ideia de que existem no ser humano determinadas características estruturais comuns que, na sua aleatoriedade, tendem a manifestar-se recorrentemente na vida em sociedade, sendo reconduzíveis aos próprios indivíduos singulares, nunca foi muito acarinhada conceptualmente pela esquerda. Era dominante a ideia de supremacia da vontade e do poder humano sobre a natureza. As características comuns, naturais e morais, eram tendencialmente distribuídas por classes sociais, tendo, depois, uma sua expressão política. A ideia genérica de que o «homem é o lobo do homem» («homo hominis lupus») tem, na visão da esquerda clássica, uma concreta tradução de classe: o homem-lobo e o homem-cordeiro representam classes antagónicas. A natureza humana na lógica da esquerda fracturava-se em função das classes, até porque na natureza também se encontra fortes e fracos, caçadores e presas. Se, no utilitarismo, a pulsão egoísta orientada para o útil podia converter-se em benefício colectivo em virtude de um mecanismo espontâneo, à esquerda este só podia ser obtido por intervenção da «razão pública», não por um qualquer mecanismo estrutural ou por uma dialéctica da chamada “mão invisível”, aquela a que se referia Adam Smith em “A Riqueza das Nações”. A esquerda sempre acreditou na força criativa da sociedade contra os determinismos conservadores que habitualmente legitimam a ordem vigente. Sempre acreditou na ideia de um progresso contínuo e sem limites. Esta crença no valor taumatúrgico da dinâmica social levou-a, contudo, a desvalorizar a força das pulsões estruturais que sempre persistem e condicionam o processo social, para além do princípio da razão. Lá onde a esquerda tem procurado usar a razão para canalizar um processo histórico-social considerado progressivo, muitas vezes tem esquecido o papel resistente dessas pulsões estruturais que também condicionam o curso histórico. Razão versus pulsão, ideias versus sentimento. O nosso António Damásio tem travado o combate pela primazia ontológica da pulsão e do sentimento. A força do elemento dionisíaco. Em vão. Alguém dizia que a ideologia é eterna e que, mesmo quando parece que morre, sempre há-de ressurgir, de novo vigorosa, em tempos futuros. Também Jürgen Habermas, nos chamados «Seminários de Istambul», parece ter revalorizado o papel das religiões nas chamadas sociedades pós-seculares. Ou seja, de algo que a esquerda sempre tendeu a remeter para o domínio da pura alienação, não admitindo que essa possa ser uma componente estrutural da natureza humana, ligada à ideia de finitude, necessária e sofrida. Mas é claro que a esquerda muito ganharia em compreensão do mundo se incorporasse estes dados rejeitados na sua rede conceptual e procurasse integrá-los numa lógica racional superior, sem qualquer veleidade construtivista, projectando esse «corpo inorgânico», de que falava Marx, sem o esmagar com a força do voluntarismo ético. Toda esta lógica está, afinal, envolvida por um voluntarismo moral (ética da convicção) que dificulta o reconhecimento das reais fracturas sociais e naturais e, por isso, uma sua correcta interpretação e superação. Na verdade, o reconhecimento de que as sociedades humanas estão também elas condicionadas por determinismos de tipo estrutural torna-se decisivo. Até porque ele é condição necessária de alguns dos valores mais importantes das democracias modernas: a tolerância e o respeito recíproco, o realismo político e o compromisso, a liberdade responsável. É neste reconhecimento que reside a capacidade de progredir de forma sustentada, reconduzindo o exercício da vontade política ao equilíbrio social e ao equilíbrio natural. Conjugando optimismo da vontade com pessimismo da razão, num quadro onde a ética se funde com a política, dando origem a uma harmoniosa ética pública.
REPENSAR A ESQUERDA, REPENSANDO A SOCIEDADE
MAS A TENDÊNCIA a repensar a esquerda continua a ser mais interrogativa do que propositiva, afirmando-se mais como proclamação de intenções do que como concreta reflexão analítica sobre o assunto. Repensar a esquerda ou repensar a sociedade? Eu creio que para repensar a esquerda é preciso, antes, repensar a sociedade. E é preciso também abandonar as proclamações morais, indo directamente ao assunto. E, para ir ao assunto, é preciso reflectir sobre as mutações profundas que estão a revolucionar a democracia, os novos modelos de desenvolvimento, as novas formas pós-orgânicas de reorganização política da sociedade, o papel do indivíduo no conjunto orgânico de uma sociedade onde parece ser o intangível a ditar as regras essenciais, o papel do Estado, o papel dos meios de comunicação. Eu diria que sem uma fenomenologia rigorosa da sociedade moderna não é possível compreender o lugar da esquerda na sociedade. É certo que muitos dizem que a distinção esquerda-direita já não faz sentido. Outros dizem que quem assim pensa é de direita. Uma coisa é certa: não é possível repensar a esquerda como se esta fosse uma condição ou um espaço territorial. Sobretudo a condição e o espaço dos deserdados, mas também dos seus apóstolos. Todos sabemos que não é assim. Todos sabemos que o conservadorismo atravessa todos os grupos sociais, sendo transversal. Tal como o progressismo. Mas, aqui como ali, há sempre apóstolos vocacionados para as grandes proclamações morais, assumindo-se como eleitos e como depositários da justiça histórica dos povos. Como todos os apóstolos, eles pertencem ao reino do imaterial e preocupam-se pouco com as coisas concretas e muito com os grandes princípios. E como entre o material e o espiritual sempre foi difícil encontrar a justa adequação, o seu papel está garantido até ao fim dos tempos.
O que importa, pois, é desenvolver um esforço analítico de descrição e de explicação dos mecanismos sociais e a tentativa de os aperfeiçoar, melhorando a sua «performance». Por exemplo, que modelo de desenvolvimento terão de adoptar as sociedades modernas para se adaptarem às novas exigências globais e desiguais da competitividade? O «suor do rosto» continua a ser a principal força produtiva ou já foi substituído pela ciência e pela tecnologia, como principais forças produtivas que determinam a produtividade? A resposta implica consequências impressionantes no modelo de organização social.
Outra questão, de resto, ligada com esta. As sociedades modernas estão estruturadas em grandes blocos sociais, as ditas classes, ou a sua organização é cada vez mais de tipo superestrutural, uma vez que elas estão fragmentadas, sendo os seus pilares constituídos por indivíduos singularmente considerados? Ou seja, a componente orgânica não cedeu definitivamente a sua centralidade a uma recomposição formal e abstracta das relações sociais?
Terceira questão. O modelo de organização democrática das sociedades não pressupõe precisamente esta desestruturação das sociedades orgânicas e a sua recomposição a partir da soberania individual? Que sentido tem a frase «um homem, um voto»?
Quarta questão. Neste contexto, que democracia? A democracia representativa, tal como a temos vindo a praticar e a viver ainda continua a manter validade plena ou já estamos a evoluir para um novo tipo de organização democrática, pós-representativa, onde cada vez mais começam a exprimir-se mecanismos de democracia directa de novo tipo? Ou seja, mantendo-se como seu fundamento o indivíduo singular, não estão alteradas radicalmente as condições da sua participação na produção da decisão política colectiva? Ou melhor: não se está a verificar uma alteração radical nas formas de expressão política do cidadão quando os partidos políticos cedem cada vez mais o terreno aos meios de comunicação, desde a televisão até às suas formas mais avançadas de «comunicação individualizada de massas», na Rede (Castells)? Uma das respostas mais viáveis, que não anula a democracia representativa, chama-se democracia deliberativa *.
Quinta questão. E o Estado, como se comporta perante tal evolução? Não terá de se transformar para responder às novas exigências emergentes? De certo modo, o e-government já constitui uma primeira resposta. Mas outra deverá consistir na determinação da sua natureza reguladora, nem maximalista nem minimalista, e da sua responsabilidade na gestão dos bens públicos essenciais.
Sexta questão. E os partidos políticos, como é que podem responder a estas transformações, garantindo uma efectiva autonomia, capacidade de agenda e relação, orgânica e inorgânica, com a sociedade ao mesmo tempo que resolvem o bloqueio burocrático interno? A solução não passará pela introdução de autênticas primárias generalizadas, como método para a selecção dos dirigentes e de legitimação interna?
É confrontando-nos com estes temas que se pode responder à pergunta sobre a esquerda.
UMA VISÃO "ESPACIAL" DA POLÍTICA?
A ANÁLISE que circula continua excessivamente apoiada numa visão «espacial» ou «geométrica» da política: esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, extrema-esquerda, extrema-direita. É certo que os conceitos de esquerda e de direita possuem já um património analítico tal que estão em condições de designar algo bem preciso. Mas há um conceito que é tanto mais usado quanto menos é definido: o conceito de centro. Centro geométrico, centro sociológico, centro político? Mas, afinal, o que é o centro? Eu creio que quando se fala de centro se está a falar necessariamente da nova «middle class». Na linguagem marxista clássica, o centro nem sequer tinha grande dignidade conceptual, espartilhado que estava por aquela contradição fundamental que determinava a vida social: a contradição entre os proprietários dos meios de produção e os assalariados. Era, por isso, alvo de uma valorização negativa ou mesmo de nulidade. Mas a tradição sociológica passou a definir os grupos sociais não só em termos de relações de produção, mas também com critérios, digamos, superestruturais: estilos de vida, influência, capacidade de consumo, etc.. Em particular, a sociedade pós-industrial provocou o crescimento de um sector social intermédio que possui características comuns a ambos os lados, a proprietários e a assalariados. A democracia, com a laicização integral das funções sociais, cresce, aliás, com o crescimento deste sector. E, este, reforça-se com a democracia. A própria democracia é o regime mais congenial a este sector, isto é, à «middle class». Mas a classe média já existia na chamada civilização industrial. Só que, antes, as suas características eram bem diferentes da actual. Tratava-se de uma classe patrimonial, de profissão e rendimentos estáveis, com uma mundividência estruturada e global, culturalmente sedimentada, com valores morais bem definidos e uniformes, com clara afirmação e reconhecimento social de tipo territorial, não sendo maioritária na sociedade. A nova classe média da era pós-industrial define-se mais por critérios de tipo superestrutural, por estilos de vida, capacidades e hábitos de consumo, mobilidade profissional e territorial. É existencialmente nómada e culturalmente precária, massificada, anónima e socialmente dominante. Como diz Giddens: «a velha economia industrial foi inexoravelmente substituída por um novo modelo económico baseado no saber e a classe média tornou-se já o grupo socialmente dominante». Uma classe média centrada no terciário e nos novos sectores de negócio que têm origem na nova economia do conhecimento. É por isso que a esquerda de hoje não pode, pois, construir o seu quadro de referência político-ideal a partir daquela que era a sua base social de apoio tradicional, de sectores sociais que a história está a tornar residuais. A ideia de que a esquerda deve propor à vastíssima e heterogénea classe média um discurso feito à medida de grupos sociais que já são historicamente residuais – porque se recusa a reconhecer como dominante uma economia de tipo pós-industrial e uma sociedade onde os processos informacional e comunicacional já transformaram completamente as relações sociais e os comportamentos individuais – significa agir no presente com os olhos postos no passado, quando o horizonte próprio da esquerda sempre se situou no futuro. É certo que os valores da esquerda persistem no tempo e são transversais aos vários grupos sociais. Mas os seus conteúdos mudam com os tempos. Exercer a liberdade em democracia não é o mesmo que exercê-la durante a ditadura: as formas da opressão deixaram de ser físicas para passarem a ser simbólicas. E a opressão simbólica tem de combater-se com instrumentos mais sofisticados do que a resistência física. Em democracia, a universalização dos direitos formais, aliada ao igualitarismo do consumo, produz uma imagem do mundo igualitária, precisamente quando se insinuam cada vez mais novas formas de discriminação. Sob o manto formal da democracia também a luta pela igualdade (e pelo direito à diferença) exige novos e mais sofisticados instrumentos. Mas também o cidadão se tornou mais complexo nas modernas sociedades democráticas. Ele exibe hoje dimensões que outrora estavam mitigadas. Por exemplo, na moderna sociedade de serviços, em muitos casos funcionando em regime de oligopólio, o cidadão-consumidor emerge como sujeito central de direitos a tutelar. Uma esquerda com futuro não pode deixar de o integrar como elemento central do seu quadro de referência político-ideal e para além das tradicionais fracturas de classe. Numa palavra, uma esquerda moderna não olha para o futuro com os olhos do passado.
A ESQUERDA E O "ESTADO SOCIAL"
UM ARTIGO de Rui Ramos, de 2008, publicado no «Público» (23.07) e intitulado «Os pobres de Estado», fez-me regressar a um tema central na discussão em torno da identidade da esquerda: o tema do Estado Social. Ressalvo, em relação a tudo o que a seguir direi, que não me parece feliz o título do artigo, pela carga depreciativa que encerra. Mas não deixo de reconhecer pertinência à crítica de Rui Ramos. Porque ele põe em evidência um paradoxo muito comum numa certa esquerda: reivindica tão radicalmente os direitos sociais que o resultado acaba por ser oposto ao que proclama – a permanente dependência do Estado Social (exemplo meu: Francisco Louçã que «sente uma revolta enorme», porque «se possa impor a uma pessoa que tem subsídio de desemprego a obrigação de ir trabalhar por um pouco mais do que o subsídio que recebia», DN, 28.03.2010, p. 9). Mas critica também uma certa ideia de construtivismo social: uma lógica auto-referencial que vê os necessitados como laboratório social das suas próprias concepções do mundo. E conclui dizendo que a luta pela libertação social dos necessitados acaba por resultar num novo tipo de opressão de Estado. Por isso lhes chama «pobres de Estado». Há, neste interessante artigo de Rui Ramos, mais retórica e menos substância do que, à primeira vista, pode parecer. Mas há também a sinalização de problemas ligados ao modelo persistente de Estado Social. Sobretudo ao modelo maximalista. Aquele modelo que adoptou a cultura dos direitos como matriz exclusiva das suas políticas. E que vive do garantismo como seu alimento político exclusivo e quotidiano. Um modelo onde a pobreza representa o principal capital político, sendo o seu volume directamente proporcional à depressão económica e social dos países. Um modelo que, à força de reivindicar sempre direitos acaba por legitimar a irresponsabilidade, a ausência de sentido do dever, de empenho e de luta individual por uma vida melhor e mais livre. Compreende-se. Esta é, aliás, uma visão organicista da sociedade, onde a responsabilidade individual se dilui sempre na responsabilidade colectiva. Mas se, depois, a responsabilidade colectiva acaba por se esgotar sempre na luta pelos direitos orgânicos das comunidades, a responsabilidade individual esvai-se e anula-se. De resto, esta lógica não decorre directamente da estrutura nuclear da democracia representativa, cujo fundamento, digamos, ontológico, é o indivíduo singular: «um homem, um voto». Diria mesmo que ela representa a tábua de salvação para os que sempre mantiveram reservas mentais em relação à democracia representativa. Constitui o enxerto político necessário para poderem agir com boa consciência no interior daquela que sempre rotularam como democracia burguesa. Toda a gente entende o que quero dizer. Ora, na lógica a que se refere criticamente Rui Ramos, os indivíduos singulares são sempre tutelados pelo Estado Social e, por isso, na sua perspectiva, ela acaba por induzir um processo de permanente submissão à vontade do Estado e da sua máquina protectora, com a consequente anulação do princípio da liberdade, que só a responsabilidade individual pode gerar. É por tudo isto que se torna necessário clarificar a natureza do Estado Social e a relação da esquerda com este conceito. Em primeiro lugar, recusando as leituras maximalistas. É claro que as sociedades têm o dever de garantir os «bens públicos» essenciais, bem mais vastos do que as funções estritamente vitais do Estado. Mas nenhum Estado Social pode sobreviver a uma lógica construtivista e a uma filosofia maximalista dos direitos sociais. Por uma razão muito simples: uma e outra convergem para o agigantamento de um Estado que tende a atrofiar a sociedade civil, acabando ele mesmo por implodir, fruto de um excesso de procura para o qual acaba por não ter resposta satisfatória, vista a assimetria entre recursos disponíveis e crescente procura. Na verdade, aquilo que a esquerda radical ainda não compreendeu foi que a uma cultura de direitos, essencial à democracia representativa, deve corresponder uma outra cultura de deveres tão intensa como aquela. Só que esta não pode emergir no interior de um pensamento que ainda não superou, a não ser numa óptica puramente instrumental, uma cultura política organicista, hoje absolutamente superada pelas democracias modernas. A vocação organicista e moralista da esquerda radical acaba sempre por produzir o atrofiamento da emancipação individual e por contrariar aquela que é a vocação originária da própria democracia representativa.
A ESQUERDA E OS INTELECTUAIS
FINALMENTE, a questão dos intelectuais. E começo por referir uma entrevista do filósofo francês Alain Badiou a «Le Monde» que deu que falar. Nela, ele declarava o fim – desejado – do «intelectual de esquerda». A coisa pareceu ganhar mais sentido após a debandada geral de ilustres figuras do PS francês para o projecto sarkoziano. De qualquer modo, o caso intelectualmente mais flagrante, depois de algumas viragens já verificadas durante a corrida presidencial de Ségolène Royal e do caso Kouchner, foi a transmigração do pós-moderno ex-ministro socialista da cultura Jack Lang. Dizia Badiou: «esta adesão a M. Sarkozy simboliza a possibilidade, para intelectuais e filósofos, de serem, doravante, reaccionários clássicos “sans hésitation ni murmure”, como diz o regulamento militar». (…) «Nós vamos assistir – ao que eu anseio – à morte do intelectual de esquerda, que vai soçobrar ao mesmo tempo que toda a esquerda, antes de renascer das suas cinzas como a fénix». Aqui, a verdadeira questão consistiria em saber o que é a esquerda, não antes de saber em que consistiria o ser-intelectual. Na França de hoje, o problema é complexo, reconheçamos. Mas, em boa verdade, há muito que estamos a assistir à morte do «intelectual», do «filósofo», do «maître-à-penser». Que, na verdade, tem o seu ADN à esquerda, apesar do(s) excelente(s) Aron(s). Permitam-me recordar que, disto, muito falei no meu livro de 1999, «Os intelectuais e o Poder» (Lisboa: Fenda): que acabaram os sartres. E que Sartre foi, talvez, o último dos «maîtres-à-penser». Que estes acabaram ao mesmo tempo que as «grandes narrativas». Que acabaram quando acabou a densificação do tempo vivido, a identificação territorial dos percursos de vida, a exaltação da memória. E quando o princípio da esperança se desligou do futuro. Quando o presente se impôs como ditadura e as ideologias se diluíram, sendo substituídas por fugazes e superficiais estilos de vida. A verdade é que os intelectuais não eram simplesmente autores de livros ou de ensaios. Eram, isso sim, autores de ideologias, de mundividências, de concepções do mundo. Demiurgos. Eram artífices de ideias projectadas no futuro, mas com capacidade propulsiva sobre o presente, como se fossem forças materiais, físicas, sujeitas à lei da gravidade. Substituíam-se, com eficácia, às religiões e projectavam a laicidade à categoria de concepção do mundo. Construíam vastas redes de pertença, onde se reconheciam inteiros grupos sociais. O pensamento tornava-se norma de comportamento, atitude, ética, sentido. E eles emprestavam um certo heroísmo de atitude à esquerda, uma certa nobreza, para não dizer uma certa superioridade moral. Nada disto subsiste. Tudo se fragmentou. Até as causas, que passaram a ser especialidades de uns tantos profissionais. O fim das grandes narrativas, a ditadura do presente, o império do inorgânico, a velocidade, o tempo como sucessão de instantes absolutos, o indivíduo como função do inorgânico, o império do simulacro, tudo isto gerou uma nova rede social onde não há lugar para os velhos intelectuais. O novo intelectual é o «fast-thinker». O «Lucky Luke» do pensamento e da palavra. O velho «maître-à-penser» deu lugar ao novo «prêt-à-penser», que ocupa os interfaces da comunicação como seu ambiente natural. Está por todo o lado e ao mesmo tempo. É um clone de si próprio. Fala de tudo como se de tudo fosse especialista. E ao ritmo da comunicação electrónica. O «sound byte» é a medida do seu discurso. Ele é uma espécie de centauro: meio intelectual, meio publicitário. Assume o meio onde comunica como «púlpito» onde exerce o poder da palavra, olhos nos olhos com o público, essa «multidão solitária» que se une em torno do terminal electrónico onde ele pontifica. Este é o novo intelectual «tout court». Já nem de esquerda nem de direita. Mais do que de esquerda ou de direita, o novo intelectual é orgânico do inorgânico, do simulacro, da velocidade, da emoção curta e eficaz, do discurso binário, da urgência do presente, do negativo. Não cria nem representa ideologias ou concepções do mundo. Representa-se a si próprio e age como se fosse o umbigo do mundo. Ora, quando a política começa a exibir excessivas afinidades com este universo discursivo dos novos intelectuais do vídeo, torna-se necessário reivindicar o regresso em força do orgânico, contra os cavaleiros do simulacro. O que em si representaria uma eventual regressão da própria esquerda. Mas eu diria, à esquerda, que o regresso do orgânico só pode ser hoje representado pela valorização do indivíduo, fisicamente determinado e livre de vínculos orgânicos no exercício da cidadania, caracterizado por múltiplas pertenças (civilizacionais, culturais, estilos de vida, consumidor transversal, nómada e dotado de poderosos canais de acesso à informação). Este indivíduo, ainda que se mobilize politicamente, em parte, por um comunitário “sentimento de pertença”, comporta-se politicamente também sob influência do que circula no espaço público deliberativo e pelas suas próprias pertenças em matéria civilizacional e de estilos de vida.
CONCLUSÃO
O QUE ESTÁ EM JOGO é muito e é complexo. Não se trata de deitar fora o património histórico da esquerda. Bem pelo contrário. Mas se a política serve a sociedade, então há que fazer um esforço de reconhecimento desta sociedade para responder com eficácia às suas exigências e expectativas. As próprias formações políticas não podem deixar de se adaptar às profundas mudanças que acontecem na sociedade, desde a sua própria organização e os seus programas até à sua cartografia cognitiva e aos seus valores. Mas é claro que tudo isto tem a ver com uma mundividência que só pode ser dada pela cultura, em particular pela cultura dos que se propõem como protagonistas políticos. Sem uma visão profunda e articulada do que é a vida em sociedade, em todas as suas dimensões, nunca pode haver uma boa política. Mas sobretudo o que não faz uma boa política é o fascínio pelo poder, o deslumbramento e a vaidade dos aprendizes de feiticeiro. A política é coisa muito séria porque atinge directamente a vida de cada cidadão, nos planos financeiro, na saúde, na segurança, na educação, na justiça, na cultura, tornando-se, pois, necessário desenvolver uma visão integrada destas dimensões no interior de uma visão do mundo a que corresponderá, então, uma proposta política com vocação hegemónica, ou seja, dominante do ponto de vista ético político e cultural. Uma proposta política que seja mais do que os protagonistas que as concretizam. Não se trata, de qualquer modo, de propor grandes narrativas nos termos das velhas ideologias políticas (ou religiosas), até porque a identidade da cidadania mudou, mas sim de agir politicamente no interior de uma concepção integrada da vida e da vida em sociedade e de uma cartografia cognitiva adequada em linha com o tempo histórico. Para a política não bastam, pois, a boa vontade, os bons relacionamentos, a lealdade comunitária, o esforço abnegado e a total disponibilidade. É necessária literacia política, cultura, informação, saber e total sintonia com a ética pública, que resulta de um compromisso entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. As formações políticas devem, pois, incorporar tudo isto para um eficaz enquadramento da sua própria acção. O que não pode acontecer é a acção por inércia e o puro exercício de sobrevivência política, desperdiçando o próprio tempo de poder com esse único objectivo. Uma política que não olhe para a linha do horizonte estará a breve trecho condenada, como condenada estará a sociedade que a adoptou. E a linha do horizonte foi sempre lugar para onde a esquerda olhou e com a qual se comprometeu.
* Veja-se o meu texto sobre a política deliberativa, em: Camponez, Ferreira e Rodriguez (2020) Estudos do Agendamento. Covilhã: Labcom/UBI; pp. 137-167. Acesso livre em https://labcom.ubi. pt/ficheiros/202103102105-202014_ estagendamento_ ccamponezgbferreirarrdiaz.pdf
ENSAIO SOBRE A OBRA DE ARTE
Por João de Almeida Santos
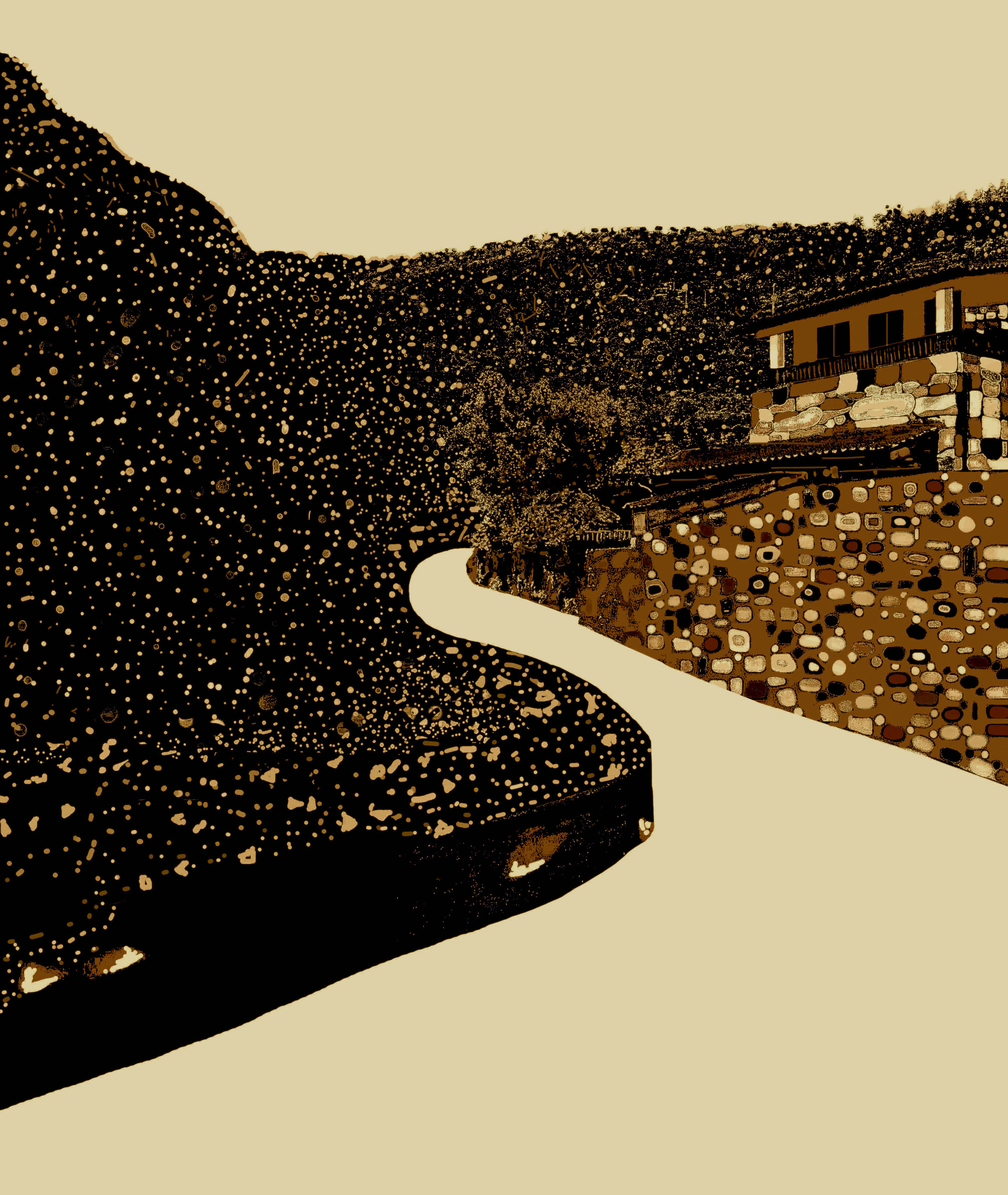
“A Rua do meu Jardim”. Jas. 2021
Nestas reflexões, parto de uma
experiência pessoal no campo da
poesia e da pintura. Não se trata,
pois, de um ensaio académico ou
da reflexão de um especialista.
O que procuro é uma rede
conceptual que me ajude, nos meus
exercícios de estética, a enquadrar
as minhas próprias propostas,
quer no campo da poesia
quer no da pintura, ou seja,
a evidenciar um conjunto de
variáveis que, no meu
entendimento, integram a matriz
de uma obra de arte.
O VIRTUOSISMO
NA PINTURA, quem desenha bem corre sempre o risco de se colocar numa posição de exterioridade relativamente ao que faz, desenvolvendo uma lógica de tipo retratista ou de pintura naturalista e descritiva. Quanto maior for a destreza maior poderá ser a tendência a deslizar para a própria zona de conforto, não se concentrando na produção de sentido, fazendo muito em pouco tempo de forma mais ou menos mecânica, ainda que ágil e tecnicamente virtuosa. Em filosofia esta posição, a da exterioridade do observador relativamente ao objecto, é conhecida como positivismo, onde a análise se pretende neutra e objectiva. E se na ciência (sequer nas ciências da natureza) esta posição não tem fundamento, na arte ainda tem menos. Para retratar o real existem hoje poderosos meios tecnológicos que o fazem melhor do que a mão humana. Mas esta não é uma minha observação original ou uma descoberta importada atrevidamente da filosofia da ciência para a arte. Já no século XVIII, Johann Winckelmann, o fundador da história da arte, dizia o seguinte, a este respeito:
“O sentido interno não é sempre proporcionado ao (sentido) externo, isto é, a sua sensibilidade não corresponde sempre à exactidão da sensibilidade externa, porque a acção do sentido externo é mecânica, enquanto a acção do sentido interno é intelectual. Pode, portanto, haver perfeitos desenhadores que não tenham sentimento (…); mas eles estão somente em condições de imitar o belo, não de o inventar e de o realizar” (Winckelmann, J., 1953. Il Bello nell’Arte. Torino: Einaudi, p. 95).
É mais ou menos isto, em palavras simples: a arte não reside nas mãos, mas na cabeça. “Esse est percipi” (“ser é ser percebido”), dizia Berkeley. E o nosso Pessoa, nesse extraordinário “Livro do Desassossego”, também: “Ser uma coisa é ser objecto de uma atribuição” (Porto, Assírio e Alvim, 2015, 82). Ou seja, a nossa relação com o mundo é indissociável de uma projecção subjectiva e constituinte. E mais intensa é na arte. E ainda mais se for intencional, e até atrevida, ao ponto de virar do avesso o que está disponível perante nós para ser objecto de uma injunção estética, de uma recriação através da fantasia e da sensibilidade do artista.
Na poesia acontece algo semelhante aos que têm um bom domínio da métrica e da rima, fazendo poesia, por exemplo, em rima interpolada e correndo o risco de subordinar a força plástica e a riqueza semântica da poesia a uma musicalidade básica. Em palavras simples, fazer poesia “pimba”. Ou seja, o risco é o de subordinar a poesia à música, à rítmica, construindo-a a partir de fora, de um ponto que lhe é exterior, perdendo identidade e anulando a sua autonomia.
O mesmo acontece na dança, quando os movimentos são executados como “ilustração” mecânica ou linear da música, do ritmo ou de uma narrativa. É por isso que a execução dos movimentos em contraponto é decisiva. Com a dança moderna o corpo tornou-se um sujeito expressivo, produtor da sua própria linguagem e das relações com outros corpos expressivos no espaço cenográfico, accionando uma narrativa estética que deve ser lida a partir das formas desenhadas e dinamizadas pelos próprios corpos. Balanchine tem alguns bailados extremamente minimalistas do ponto de vista coreográfico e cenográfico que evidenciam esta característica constituinte do corpo-sujeito. A ideia de ilustração de uma narrativa através da dança foi definitivamente superada pela dança moderna, a partir de I. Duncan, Diaghilev e Nijinsky.
A SUBJECTIVIDADE NA ARTE
No caso da pintura, a solução, quanto a mim, é a de construir, logo à partida, um espaço imaginário como ambiente onde se desenvolve a analítica do processo criativo. Ou seja, a partida para a criação já contém uma decisão intelectual do artista, onde a subjectividade é determinante porque, deste modo, não se coloca numa perspectiva exterior de observação do que se lhe oferece como disponível à sua interpretação, mas, pelo contrário, é ele que reconstrói livremente o próprio ambiente da acção (estética). Neste quadro, que executei com este objectivo, o conjunto é uma reconstrução imaginária que não corresponde à paisagem real, embora contenha vários elementos realistas. A dinâmica do ambiente, imaginário, constituído por dois elementos fundamentais, um, real e, o outro, imaginário, está orientada para um ponto central para onde converge o nosso olhar e que estrutura e finaliza todo o espaço, fazendo dele mais do que uma mera paisagem. Há neste processo uma desrealização para o trabalho ulterior de formalização mais livre e autopoiético, tendo como objectivo não só a beleza do conjunto, mas também o sentido, em largo espectro, como se vê, por exemplo, pela textura cromática de fundo, diferente da primeira versão, a evocar um ambiente de montanha que prenuncia neve.
No caso da poesia, e para o evitar, basta ter em atenção este risco, subordinando a rima à semântica e ao fio condutor do poema e só regressando à melodia e à rítmica – extremamente importantes – depois de fixado o tema e o eixo semântico. A adopção da rima interna, mais difícil, é a melhor garantia para preservar a autonomia do exercício poético relativamente à música (que considero, sob a forma de melodia e de rítmica, imprescindível num bom poema). A poesia é para comer, certamente, como dizia a Natália Correia, mas é sobretudo para ouvir com o ouvido interno, sem ser necessário activar o som. Ouve-se e come-se com a alma. É como, parafraseando Balanchine, ouvir um bailado ou ver uma composição musical.
A CONTEMPLAÇÃO DA ARTE
COMO DESVELAMENTO
Para mim, a obra de arte nunca se revela à primeira observação, imediata e directa, como se estivesse nua, porque a ideia é precisamente a de desvelamento e de metatemporalidade. Como acontece com a Medusa, a visão imediata petrifica, devendo usar-se sempre um espelho mental para aceder ao centro da obra. Ela deve, pois, ser descoberta. Ideia muito próxima da de verdade na língua grega, a-lêtheia, precisamente des-velamento, revelação, bem diferente da ideia de adequação, adaequatio, de correspondência mecânica entre o real e o dispositivo sensorial ou a representação. E que grande diferença. É aqui que reside essa fronteira que é preciso atravessar para chegar ao centro vital da obra de arte. Ela é sempre polissémica porque nunca se deixa aprisionar numa leitura literal nem fica prisioneira do tempo em que foi criada ou da pulsão que a originou. Entre a génese da obra de arte e o seu desenvolvimento formal há sempre uma “separação”, um corte que gera autonomia para se produzir e reproduzir livremente de forma autopoiética e com pretensões de universalidade. E esta característica deriva da sua autonomia formal, da sua linguagem, da sua operatividade e da sua complexidade (que pode existir mesmo quando se trate de formas extremamente simples), das várias camadas semânticas, ou plásticas, que a integram, dispostas em harmonia entre si e com o todo, em formas que levam o belo aos nossos sentidos. Esta complexidade, que dá origem a qualidades emergentes, não é compatível com uma relação de pura exterioridade linear com o objecto estético, de uma relação puramente instrumental, na medida em que o processo criativo e o dispositivo sensorial convocam sempre a subjectividade, o sentido interno do autor – através da construção coerente das formas, da escolha das cores, das figuras, dos sons ou das palavras, da combinação dos elementos da obra de arte em função de um subtil fio condutor, mas também da escolha dos elementos referenciais e intertextuais com que tece a obra. Sim, tecer a obra como desenho de um murmúrio ou suspiro silencioso da alma, sempre tão difícil de traduzir. Ambos os elementos, referenciais e intertextuais, têm a função, por um lado, de referir a obra ao real e, por outro, de a referir à linguagem inscrita na sua própria história interna, na sua narrativa. Entre ambos os elementos desenvolve-se um processo formal autónomo de reconstrução exclusivamente estético. Se a pulsão sensorial activa o processo criativo, a recriação convoca a subjectividade e a autonomia do sistema operativo para o produto final. A génese fica inscrita na obra de arte somente de forma sempre remota, como marca, como indício.
Na obra que acompanha este ensaio há elementos referenciais, claramente identificáveis, ao lado de elementos criados pela fantasia, em sintonia com aqueles e ao serviço de uma estratégia do gosto e do sentido. Mas há também elementos intertextuais que aludem à história da pintura, neste caso, a Gustav Klimt e, mais vagamente, a Mondrian (sobretudo na sua primeira versão). Acresce que alguns elementos referenciais, a casa ou o muro em primeiro plano, por exemplo, estão propositadamente artificializados com linguagem pictórica intertextual, constituindo uma desrealização ao serviço da lógica interna da pintura, de um processo autopoiético, e do sentido que se pretende comunicar. De resto, a comunicação faz parte da matriz originária da obra de arte: “a arte é a comunicação aos outros da nossa identidade íntima com eles” (Pessoa, 2015: 231). Kant, na “Crítica do Juízo” (1790), chega a falar de uma “universalidade subjectiva” do juízo estético.
REFERENCIALIDADE E INTERTEXTUALIDADE
Assim, ao gosto, às formas, cores, figuras, palavras ou sons acrescem os elementos referenciais, alusivos, preferencialmente de forma indeterminada, ao real, mas também os elementos intertextuais que evocam e invocam fragmentariamente a própria história da arte em que a obra está inscrita, seja ela pintura, música, dança ou poesia. E é aqui que se torna decisivo o sentido interno, a capacidade de conjugar em proporção e harmonia todos estes elementos gerando uma totalidade autónoma, esteticamente pregnante, expressiva e semanticamente densa (as camadas, de que falava, por exemplo, Júlio Pomar, ao distinguir a fotografia da pintura), resultado de um livre jogo entre a fantasia e o intelecto, a memória sensitiva e a memória analítica. A obra de arte deve poder falar por si, como que reconstruindo e repropondo significados e impressões a partir de uma rede de reinterpretação estética do real. Quando o poeta canta o amor, porque o sente como impulso, pulsão ou necessidade interior, eleva-se a um patamar de desrealização para melhor o dizer e comunicar universalmente como beleza e como linguagem performativa que quase substitui o próprio sentimento, dando-lhe vida na linguagem poética. E é daqui que resulta a forte performatividade da poesia.
Este livre jogo, de que já falava Kant, entre a fantasia e o intelecto por cima do real só pode remeter para a esfera da subjectividade, do sentido interno quando nela ambos convergem na produção de beleza, onde o dispositivo estético é “animado” também pela referencialidade e pela intertextualidade ao serviço de uma bem delineada estratégia do gosto. A universalidade subjectiva para mim resulta da composição harmoniosa de todos estes elementos.
EM SUMA
Numa palavra: ideia-tema (ou sentido), como fio condutor, desrealização, espaço imaginário, técnica compositiva formal acurada, projecção subjectiva animada por elementos referenciais, mas também intertextuais, recomposição do todo e textura unificadora que sobredetermina a obra – são os elementos que podem convergir para a construção de uma obra de arte. O exercício que aqui apresento resulta destas reflexões e pretende ser – tendo escolhido propositadamente uma paisagem – uma demonstração do que digo, ao combinar todos os elementos referidos numa obra coerente que interpela o observador, convocando-o a uma leitura não literal do seu sentido e, ao mesmo tempo, a uma apreciação com as categorias da estética e com o dispositivo sensorial que comanda o gosto.
Na verdade, no meu entendimento, a arte é algo bem mais complexo do que parece, a começar logo pela relação entre execução técnica e sentido originário da obra de arte, entre génese e configuração formal da obra, entre gosto e significado. São estas as linhas e os caminhos em que me vou movendo nos meus exercícios estéticos em torno da poesia e da pintura. Jas@04-2021.
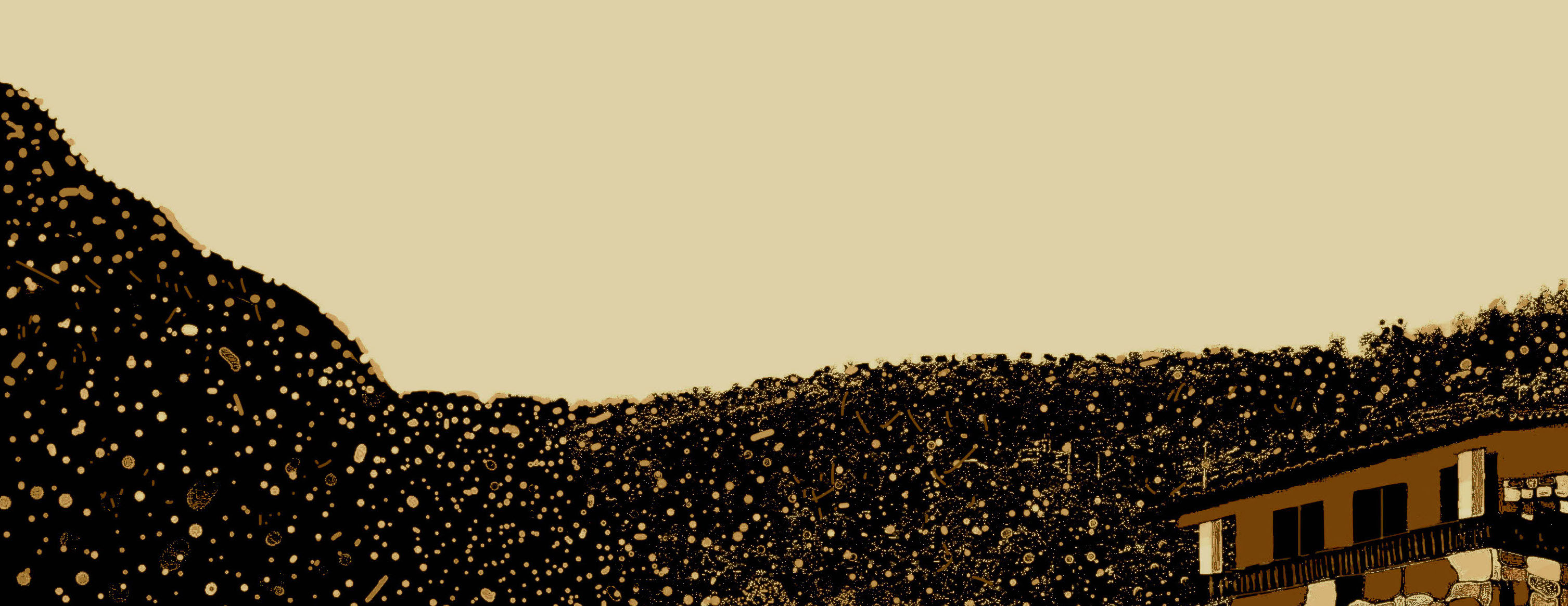
“A Rua do meu Jardim”. Detalhe.
A NOVILÍNGUA
Por João de Almeida Santos

“Totem&Tabu”. Jas. 04-2021.
EU ESCREVO MUITO, como se vê. Se calhar até escrevo demais. E ainda por cima em português, não em inglês. Por isso já comecei os treinos de escrita – embora timidamente, porque pouco convencido da justeza da causa – em neutro e inclusivo. Nada fácil, hã? Sobretudo escrever neutro, porque gosto sempre de tomar posição. Não necessariamente pelo masculino ou pelo feminino. Pode até ser pelo neutro. Mas confesso que depois de tantos anos a escrever – e em várias línguas – tenho tido muitas dificuldades em escrever nesta novilíngua, apesar de estar habituado ao grego, ao latim ou ao alemão. Todas estas línguas têm o neutro. Por exemplo, der, die, das, em alemão, onde, inexplicavelmente, até o cavalo é neutro: das Pferd. Mas em português, em italiano, em espanhol ou em francês não há neutro, julgo eu, embora haja sobrevivências. Por exemplo, curriculum, em português. É neutro, mas não inclusivo (felizmente), o meu curriculum. No inglês é mais fácil: o artigo é só um, nem masculino nem feminino nem neutro: “the”. Que distância (e não só temporal) vai entre o inglês e o grego antigo! Três a um… para o grego. Mas se, mesmo com curriculum neutro, falar e escrever em neutro é difícil, já em inclusivo é mais fácil, apesar de tantas vezes termos de praticar o exclusivo. Por exemplo, em textos originais, sobretudo em dissertações e em teses (o que é cada vez mais raro). Mesmo assim, a dificuldade é menor. Agora, o neutro é quase impossível. À primeira, escrever em neutro significa não tomar posição. Nem os jornalistas o praticam, apesar de a neutralidade estar inscrita em quase todos os códigos éticos. Escrever sobre um assunto é também refutar certas posições que se considera erradas, ou não? Não se deve ser neutro, na minha humilde opinião. Não foi por acaso que o português não importou o neutro do latim. É que de outro modo não haveria progresso (como houve). Andar de bissetriz em bissetriz é que não. É comovente? É. Mas é improdutivo. Isso é o que fazem os temperadinhos do Camilo. Eu creio, pois, que escrever e falar neutro equivale a não escolher e, logo, a nada fazer. Tenho, por isso, tido muitas dificuldades em escrever correcto, pela primeira vez na minha vida, depois de passar décadas a escrever como profissional. Até dificuldades de natureza psicológica. Logo eu, que gosto tanto de fazer coisas e, sim, de tomar posição. Mesmo em textos simples e formais. Um toque pessoal fica sempre bem, não é? Mas agora imaginem o que é escrever um poema ou pintar um quadro… em neutro e inclusivo. E nem sei o que pensará disto um compositor, mesmo que já tenha sido inventada uma notação musical neutra e inclusiva. Aqui fica-se mesmo literalmente perdido. Sem palavras. E sem cores. Fica-se neutro, parado. Nem inclusivo nem exclusivo. E, chegado aqui, é assim que, paradoxalmente, me sinto: neutro. Para começar.
NOVILÍNGUA
NÃO SEI quem inventou esta novilíngua, não, mas a verdade é que os manuais já proliferam por aí. Manuais de bom comportamento linguístico. E até leis (por exemplo, a lei 4/2018, de 09.02, art. 4) A escola primária (e até o liceu ou mesmo a universidade) já não chega. Agora é aprendizagem ao longo da vida. E têm razão, tal como Sócrates, o grego, a tinha: só sabia que nada sabia. Neutralidade absoluta. Por isso declaro que, não tendo ainda nenhum manual da novilíngua (fiquei à espera do Manual do Conselho Económico-Social e… nicles, não conseguiram concertar nem consertar posições, apesar dos esforços do presidente Assis), hei-de comprá-los todos (num gesto inclusivo) para ver se aprendo a escrever, sem erros semiológicos. Bem li o da Universidade de Manchester, mas soube-me a pouco. E confesso que até me assustou. O problema é que – e tenho bem consciência disso -, falando e escrevendo assim, para além da dificuldade (e até da canseira) de estar sempre a ser neutro e inclusivo, gastando toda a minha criatividade e todo o latim nisso, o risco é nunca tomar qualquer decisão, porque decidir é escolher e escolher é excluir, ou seja, é não ser neutro nem inclusivo. Mas a verdade é que as musas são nove, correndo-se sempre o risco de excluir alguma delas. Eu temo sempre esquecer-me de Terpsicore ou de Melpomene num dos meus poemas, excluindo-as, como Musas, e arriscando-me a ser atingido por um raio lançado a partir do Monte Parnaso. Se já é tão difícil escrever um poema, mais difícil será escrever poemas na novilíngua. Uma nova tendência poética ainda pouco conhecida. Ouvir dizer “a poética do JAS é neutra e inclusiva” talvez fosse lindo. Mas temo que isso não venha a acontecer. Porque se já era difícil escrever, por exemplo, poemas meta-semânticos, esta nova escola é, por certo, muito mais difícil e complexa. Digamos, é meta difícil de alcançar, vista a escassez de recursos que se prenuncia. Naquela, pelo menos, sempre há um Fosco Maraini, com quem aprender. O “Lonfo” tanto pode ser neutro e inclusivo, como parcial e exclusivo. Será aquilo que um poeta quiser. Até porque “Il lonfo non vaterca né gluisce e molto raramente barigatta”. Não há, pois, na poesia meta-semântica problemas de maior com o neutro e o inclusivo. O “Lonfo” só aparentemente é masculino. Na verdade, ele “non vaterca né gluisce”. Mas, agora, com esta nova tendência, aprendo com quem? Só se for com a senhora deputada do PS Isabel Moreira. Se calhar, uma língua meta-semântica poderia ser a solução. Depois, pintar também de forma neutra e inclusiva é tremendo. Digo eu, que pinto. As cores, ah, as cores, como faço a ser neutro e inclusivo? Pintando sempre com todas as cores, sejam elas apropriadas ou não? E, depois, quem me compra os quadros? Os que gostam de azul, mas não de verde nem de vermelho (e são imensos)? Os que gostam de cores quentes, mas não suportam cores frias, nem sequer em Agosto? A preto e branco ainda vá que não vá: fifty/fifty. Mas, sendo neutro, não será inclusivo porque deixa de fora todas as (outras) cores. Bom, sempre poderei ficar conhecido como o pintor do preto e branco, ou do branco e preto (não sei se aqui a ordem dos factores será arbitrária), embora não saiba se estas duas palavras são eticamente aceitáveis na estética e na semiótica da novilíngua. Creio que não e, então, desabafando, perguntar-me-ei: “Ora bolas, como faço?”.
“L’ENFER C’EST LES AUTRES”
O PROBLEMA já nem será conseguir escolher, num mais restrito léxico, as palavras (ou as cores) e com elas montar um belo texto (ou um belo quadro) e dizer alguma coisa que valha a pena. Não, a tarefa principal será escolher e usar (dicionário, pincel e manual à mão) palavras (e cores) neutras e inclusivas. Isto é que interessa. E, já agora, dizer e pintar o menos possível, porque quanto mais dizes e pintas mais escolhes e, logo, excluis. Que diabo, não se pode estar sempre a incluir. Até porque cansa. Incluir, cansa mesmo, apesar de o velho Marx dos “Grundrisse” ter dito, acerca da realidade, que o concreto é a síntese de múltiplas determinações (não confundir, todavia, com múltiplas e com terminações). Ou seja, o concreto até parece, pois, ser, pelo menos tendencialmente, inclusivo, na visão do grande intelectual da luta de classes. Oxímoro? Talvez. Mas disse. E o concreto também é neutro? Suponho que não, porque, caso contrário, não haveria línguas com o masculino, o feminino e o neutro, como o alemão. Mas, mesmo assim, vem-me a dúvida. E o pior é que nem lhe posso perguntar, porque já se finou há muito tempo. E que dizer do velho Jean-Paul Sarte, que dizia, na peça “Huis Clos”: “l’enfer c’est les autres”? Inclusivo, ele, o pai do existencialismo? Não, claro que não… e muito menos neutro. Bom, se calhar era a influência de uma guerra que matou dezenas de milhões de pessoas. Ali, ou matavas ou morrias. Ali, o inferno eram mesmo os outros, os que estavam do outro lado das trincheiras. A inclusividade e a neutralidade não eram possíveis. Mas eram outros tempos. Agora, o que é preciso é ser neutro e inclusivo, precisamente para não haver guerras, a não ser, claro, contra os que não são neutros e inclusivos. Oh, é mesmo isso. Uma nova teoria da paz. Vou perguntar ao Johan Galtung se esta teoria é possível e desejável. Uma teoria da paz neutra e inclusiva, mas que não dê tréguas aos que não são neutros nem inclusivos? Hum…
“IL FAUT SE DONNER UN PEU DE COURAGE”
SEJA COMO FOR, se com esse monumento à simplicidade e à estupidez, diga-se em abono da verdade, que é o acordo ortográfico, nunca se consegue escrever um texto sem misturar a velha ortografia com a nova (e é por isso que eu nem tento, e aqui não sou militante neutro nem inclusivo, sou mesmo contra), mesmo andando com manuais de neo-ortografia no bolso, imagine-se o que será construir um texto com algum nexo e sentido totalmente neutro e inclusivo. Porque ou me preocupo em ser neutro e inclusivo ou me preocupo em dizer e fazer alguma coisa de jeito, sem pôr travões às quatro rodas na linguagem. As duas coisas ao mesmo tempo é difícil, a não ser para os profissionais do semioticamente correcto. Mas mesmo esses duvido que consigam. E até duvido que consigam vender um livro que seja. Artigos, vá que não vá, sempre podem publicá-los no “Expresso”. Mas é difícil, talvez porque se trate de coisas contraditórias (conjugar liberdade com manuais). Não sei, porque ainda não consegui entrar nos meandros desta novilíngua, na sua deontologia, na sua semântica, mas sobretudo na sua especialidade estética. Até porque, certamente, será preciso muito estudo, muito treino e sobretudo longas investigações sobre obras exclusivas e parciais (se é que este é o verdadeiro antónimo de neutro) para sabermos como não deveremos falar e escrever. Talvez estudando, por exemplo, o Eça de Queiroz (já comecei com “Os Maias”). O certo é que a literatura terá de recomeçar, voltar a ter fraldas para chegar a um vestuário neutro e inclusivo. Sobretudo no inverno, que faz frio. Bom, mas confesso que, infelizmente, talvez já não tenha idade para recomeçar tudo de novo. Tentarei, mas, se não conseguir, que é o mais provável (a idade não perdoa), continuarei com o fato e as gravatas que tenho vestido até aqui, sem receio de ser execrado pelos sacerdotes e sacerdotisas do semioticamente correcto, ficando de consciência tranquila porque, ao menos, e embora cheio de dúvidas, comprei e estudei todos os manuais da novilíngua (num generoso gesto inclusivo, como disse). Tudo bem, mas talvez seja também uma questão de liberdade e não só de dificuldade. Poder-se ser não-neutro, apesar de se tentar ser o máximo inclusivo. E se calhar é mesmo por isso que não me entendo com esta novilíngua. Aqui sou mesmo muito sensível. A verdade é que, durante o “Estado Novo”, me treinei a resistir aos manuais do politicamente integrado, inclusivo e neutro e a lutar por uma linguagem livre, tendo sido apanhado, pelo menos duas vezes, por não ter usado linguagem neutra, que era o que os do regime queriam. E assim continuarei – acabo de decidir, quase já no fim do artigo -, seguindo o conselho da Anne Rosencher em “L’Express” (1-7.04.2021, p. 8), que referia uma espécie de “espiral do silêncio” (E. Noelle-Neumann) que já está a tomar conta dos franceses, tendendo estes cada vez mais a silenciar-se com receio de se verem socialmente execrados por um uso menos politicamente correcto da linguagem. E o caso acontece logo com o francês, uma língua bué difícil, sofisticada e até um pouco exclusiva e “chic”, confessemos (as senhoras, antigamente, eram consideradas prendadas quando “parlaient français e jouaient le piano”). Mas, citando Marcel Gauchet, ia mesmo mais longe: falava de “delegação da cidadania”, numa espécie de denegação linguística dos franceses. O seu conselho foi, pois, o de que “il faut se donner um peu de courage”, antes que a “espiral do silêncio” se instale e a novilíngua tome conta definitivamente de nós, nos entre pela boca adentro e acabe por nos sufocar a alma e o verbo. Que assim não seja. Amen. Jas@04-2021.

“Totem&Tabu”. Detalhe.
O INFAUSTO DESTINO DA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
Por João de Almeida Santos
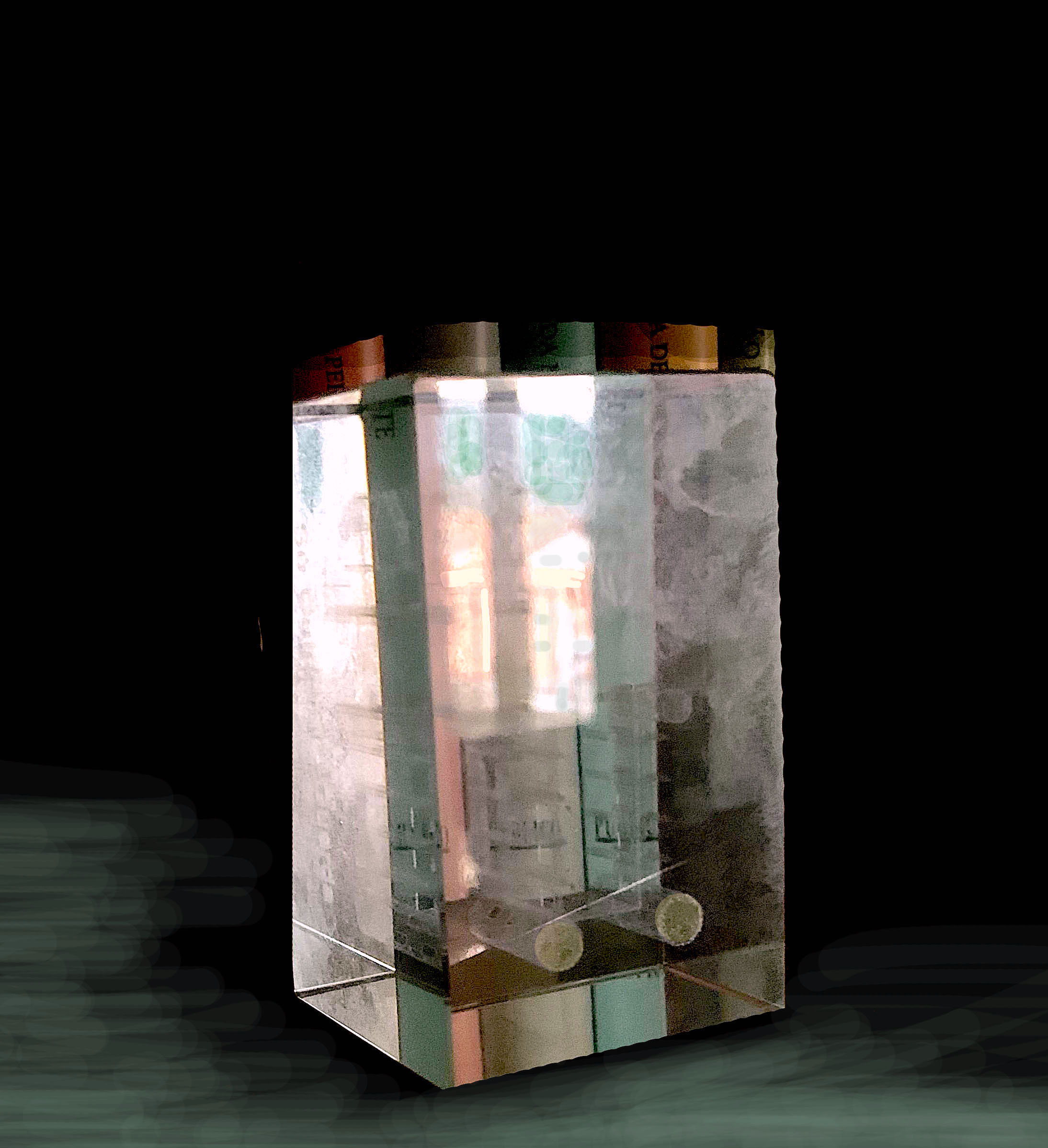
“S/Título”. Jas. 03-2021.
MUITAS FORMAÇÕES POLÍTICAS com um historial já longo e muitos políticos experimentados ainda não se deram conta das profundas transformações que alteraram as condições de exercício da política, preferindo continuar a agir no interior de um paradigma que já está ultrapassado pela realidade. Um exemplo, para começar. O caso do Brasil e uma técnica inovadora de golpe de Estado – Lawfare. Usando o caso da Lava Jato, a incriminação de Lula, o impeachment de Dilma Rousseff, a condenação e a prisão de Lula chegou-se à eleição de Jair Bolsonaro, um ex-capitão do exército e deputado federal, protagonista político pouco qualificado, como Presidente da República. A isto chama-se Lawfare (sobre este tema ver artigo de 24.11.2020 – https://joaodealmeidasantos.com/2020/11/24/artigo-23/?fbclid=IwAR24ZzCltCC0Qba-QPBJO9kvhVGz_kzyLjFU4EkzZZRhjeekhUwqCexg38s). Objectivo: remover o PT do Palácio do Planalto, instalar lá um ex-militar e uma multidão de militares (são milhares no poder político e na Administração) e promover os interesses dos que o lá colocaram (incluídas as Igrejas evangélicas).
Um desenho claríssimo com todos os ingredientes de um golpe longamente preparado e executado. Maquiavel e Curzio Malaparte não poderiam imaginar esta sofisticada técnica de conquista e conservação do poder. O novo golpe de Estado baseia-se no uso instrumental do direito para fins políticos no interior de um Estado de direito e de uma democracia representativa pluralista. As botas cardadas (ou a arma branca de que falava Maquiavel) são passado e já não são precisas a não ser em situações absolutamente extremas de mudança radical de regime. O caso brasileiro é bem ilustrativo da nova técnica, agora que são públicas as manobras de bastidor do poder judicial, com Sérgio Moro à cabeça, reveladas pelo Intercept Brasil e conhecido como Vaza Jato. Mas ficou ainda mais evidente depois de o processo de Lula da Silva ter sido anulado e Sérgio Moro acusado de parcialidade. Tudo clarinho: Lawfare. Tangentopoli foi o modelo, de resto, reivindicado por Moro. Baltazar Garzón também tentou, mas foi afastado. E muitas outras operações desta natureza andam por aí, ao serviço da política, numa aliança fatal entre o poder judicial e os media. Nesta técnica os tribunais limitam-se a ratificar os julgamentos “populares” promovidos por esta santa aliança, para usar a expressão usada por Alain Minc, no seu excelente L’ivresse Democratique (Paris, Gallimard, 1985) e em Au Nom de la Loi (Paris, Gallimard, 1998). Mas não esqueço que os militares ainda estão politicamente no activo em certos países, como, por exemplo, em Myanmar.
FICÇÃO DEMOCRÁTICA
ISTO SERIA SUFICENTE para exigir das forças políticas responsáveis uma fortíssima atenção e medidas muito rigorosas porque vem alterar radicalmente a saudável competição política e o tranquilo exercício do poder, desde o momento em que a criminalização da política passou a espreitar a cada esquina: impedir candidaturas, derrubar governos e presidentes. Se, depois, juntarmos a isto a capacidade espantosa de as grandes plataformas digitais desenvolverem modelos preditivos, conhecendo e desenhando minuciosamente os perfis individuais dos cidadãos/eleitores e antecipando comportamentos políticos futuros, então a componente electiva dos sistemas políticos pode tornar-se pura ficção, inútil e enganadora. Regressaremos, assim, a uma época de absoluta instrumentalização da política e à sua redução a simples exercício do poder. A política identificar-se-á simplesmente com poder, puro e duro. Os efeitos sobre a política democrática serão devastadores e entraremos em grave regressão política, com um novo tipo de soft power a tudo gerir baseado numa legitimidade puramente artificial e em mandatos totalmente fungíveis em função dos interesses fortes, ocultos e poderosos. É este o problema central e o risco que as democracias representativas correm, sobretudo quando são governadas por aprendizes de feiticeiro cuja única ambição é o conforto financeiro e um fugaz tempo de fama e glória que a história seguramente não registará.
MUDANÇAS PROFUNDAS
Mas a mudança é ainda mais profunda e traduz-se, por exemplo, no novo tipo de cidadania que está a emergir: a cidadania das plataformas móveis, que está em crescimento acelerado, sobrepondo-se à crise das ideologias clássicas, das grandes narrativas, e dando lugar a um cidadão de múltiplas pertenças orgânicas, civilizacionais ou culturais que, na área política, já não decide exclusivamente com base no velho “sentimento de pertença” a um partido e a uma ideologia. Acresce que este cidadão tem acesso directo, não mediado, ao espaço público. Ou seja, a organicidade política perdeu muita da sua importância para a decisão e para a mobilização política. O inorgânico está a tomar conta da dialéctica política. Na verdade, está-se a verificar uma progressiva divergência entre a cidadania e o establishment político, em grande parte devido ao desencontro ente o modelo de gestão política e a identidade da nova cidadania.
Depois, a personalização da política, em termos de autoria da proposta política como forma de ultrapassar a fraqueza da componente orgânica, está a aprofundar-se relativamente ao período da chamada “democracia do público”, precisamente pela centralidade que as novas vias da comunicação digital conquistaram também no processo político. Alguns falam de hiperpersonalização e ela corresponde ao esgotamento da mediação orgânica da política.
Mas também há que evidenciar a fortíssima irrupção política directa dos poderes corporativos no espaço público deliberativo, transpondo para a comunicação pública o seu poder efectivo nos centros nevrálgicos do sistema social (pense-se, por exemplo, nos oligopólios das redes de comunicação e das redes de distribuição). Estes poderes corporativos são decisivos porque as sociedades já funcionam em rede enquanto sistemas sociais, detendo eles o controlo dos seus centros vitais. Eles podem paralisar o sistema com uma simples decisão corporativa.
Depois, há ainda o poder financeiro internacional que já está instalado nos centros nevrálgicos dos países e cujo poder ultrapassa o poder político nacional (veja-se o caso de Portugal). A que acresce o poder das agências de notação com a sua capacidade de influenciar os juros da dívida pública (e o valor das empresas) no mercado de capitais.
Estes e outros factores só por si já exigiriam um repensamento do modelo de acção e de organização das formações políticas democráticas se estas quisessem efectivamente representar a cidadania e as sociedades em que se movem. Não o fazendo deixam que o sistema se degrade e se torne cada vez mais difícil actuar eficazmente sobre ele com a independência que exige a representação da vontade geral e do interesse geral. As políticas identitárias, depois, vêm ajudar à festa, juntando-se às corporações para fragmentar ainda mais e enfraquecer a gestão unitária das sociedades. Alguns falam de tribalização da sociedade, mas eu prefiro continuar a chamar-lhe corporativização da política pelos grupos de interesse.
CONCLUSÃO
PODERIA CONTINUAR para demonstrar uma coisa muito simples: nos moldes pragmáticos e realistas em que tem vindo a funcionar o establishment político verificam-se hoje fortíssimos condicionamentos que lhe exigem, por um lado, flexibilidade na acção e, por outro, capacidade de risco na decisão, de acordo com um quadro de valores firmes a defender e a praticar. Por isso, a política de simples gestão do status, de redistribuição em função de uma lógica de pura sobrevivência política e de reprodução no poder tem os dias contados e não augura, desde já, nada de bom. De forma mais clara ainda: gastar o tempo do exercício do poder simplesmente para o conservar equivale a puro desperdício. Hoje já nem as forças conservadoras mais clarividentes funcionam assim, apesar de representarem mais directamente os interesses instalados. Porque se funcionarem assim ficarão totalmente reféns dos poderes fortes, sendo certo que a maior parte destes poderes se alimenta dos recursos do Estado e, consequentemente, dos impostos da cidadania, o que se repercutirá sempre na captação do consenso necessário para governar. Sempre houve, mesmo na política conservadora, uma diferença funcional entre poder económico e poder político. Não será, pois, compreensível que uma política de centro-esquerda aceite suportar, ficando refém, sem visível distanciação ou mesmo directo confronto, o protagonismo político directo das corporações ou das tendências identitárias. E muito menos quando estas têm o poder de alterar a natureza da própria competição electiva, confiscando esse direito à cidadania.
A questão deve, pois, pôr-se sobretudo ao centro-esquerda, exigindo-lhe que proceda à redefinição da sua cartografia cognitiva, um quadro de valores estruturais e estruturantes e um centro de poder eficaz e capaz de dar combate nas frentes em que for necessário, ao mesmo tempo que assume a ambição de se tornar hegemónico na sociedade e não só na política. Mas o que é verdade é que o centro-esquerda arrisca-se a deixar de saber verdadeiramente que a sua própria justificação está na sociedade civil e não no Estado. É aí que se conquista a hegemonia e, portanto, o poder democrático. Há muito que digo que por haver excesso de Estado no centro-esquerda ele tem tendido cada vez mais a esquecer a centralidade da sociedade civil, razão primeira e última da existência do Estado. O que não significa que a visão correcta seja a do Estado mínimo ou supletivo. Não, como a actual crise sanitária e económica tem mostrado e como têm mostrado as sucessivas crises das instituições financeiras e dos sectores nevrálgicos da sociedade. O que não pode acontecer é essa rampa deslizante que tende a tornar o Estado o alfa e o omega das sociedades e da mundividência da esquerda reformista ao mesmo tempo que cede cada vez mais o lugar da política pura e dura aos interesses corporativos e às idiossincrasias identitárias, num processo de efectiva captura do interesse geral, de desvitalização da política e de transformação do exercício governativo em mera governança ou gestão burocrática do poder, sem ambição estratégica e vocação hegemónica. Apetece-me terminar repetindo o que acima disse: o tempo do poder não deve ser desperdiçado com a única preocupação de o conservar. Não o digo eu, disse-o o antigo governador do BCE e actual Primeiro-Ministro de Itália, Mario Draghi, no seu discurso inaugural perante o Senado. Jas@03-2021.

“S/Título”. Detalhe.
REFLEXÕES SOBRE A EUTANÁSIA
Porque sou a favor da despenalização Por JOÃO DE ALMEIDA SANTOS

“S/Título”. Jas. 03-2021.
OUSO CONTRARIAR O MILITANTISMO, dizendo que ninguém defende a eutanásia. Porque, por princípio, ninguém deseja a morte. O eros (a pulsão da vida) em condições normais sobreleva o thánatos (a pulsão da morte). De outro modo, estaria em risco a sobrevivência do género humano, da espécie. Se à ideia de morte está associada a ideia de dor e de fim, às ideias de vida e de reprodução da espécie estão associadas as ideias de prazer e de amor, uma dialéctica dos afectos. É o princípio da vida aquele que exibe argumentos mais fortes. Sem mais. A tal ponto que nas religiões esta ideia de vida é projectada para uma dimensão extraterrena, iludindo assim a ideia de fim, a ideia de morte a favor da ideia de fronteira. É por isso que quem defende o direito à eutanásia não poderá ser acusado de ser apologista da morte, a não ser por má-fé de quem acusa. Porque em condições normais ninguém o é. Na verdade, trata-se, aqui, de um caso excepcional, assumido em circunstâncias excepcionais. E como tal deve ser entendido. Com todos os seus ingredientes e não com a linearidade de um pensamento maniqueísta ou de uma qualquer ortodoxia absolutista e acusatória. Mas vejamos.
DUAS POSIÇÕES
USANDO A DICOTOMIA como método de raciocínio, podemos dizer que sobre esta questão há duas posições extremas. A religiosa, que considera a vida um dom divino que transcende a esfera da vontade humana e que, por isso, não concede ao crente a liberdade de dispor da sua própria vida, essa dádiva transcendente; a construtivista, que considera que a vontade humana é soberana e pode, por isso, sobrepor-se a normas decorrentes do nosso estatuto societário, histórico e natural sem qualquer determinação ontológica. É clara, lógica e coerente a primeira posição e, por isso, respeito-a, embora não me identifique com ela. Já quanto à segunda, embora reconheça que muitas conquistas civilizacionais se devem a ela, em muitos casos acaba numa problemática e incerta engenharia biológica e social. O tema muito mais difícil e complexo da clonagem – proibida, por exemplo, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (número 2, alínea d do artigo 3.º) – poderia inscrever-se problematicamente num discurso com estas características. Tal como o da eugenia (número 2, alínea b do art. 3.º).
O PAPEL DO ESTADO
MENCIONEI ESTAS DUAS POSIÇÕES apenas porque elas nos permitem ver a questão com mais clareza. Não entro em questões estritamente jurídicas porque num assunto destes o que interessa é a posição de fundo que se assume, embora não seja de somenos o concreto articulado da lei, que, de resto, já acabou de motivar um chumbo do Tribunal Constitucional, sob iniciativa do Presidente da República, por insuficiente “densificação normativa”, ou seja, por indeterminação das condições (lesão definitiva, gravidade extrema e consenso científico”) em que pode ser praticada a morte medicamente assistida (pág.s 85-86 do Acórdão 123/2021, de 15.03.2021, do TC). Mas a questão que me ponho consiste em saber se ao Estado cabe, em nome da tutela do direito à vida e da sua inviolabilidade, produzir norma penal (activamente ou deixando que o acto se mantenha subsumido pela lei penal geral) que proíba um cidadão de, em determinadas condições e circunstâncias, decidir livremente pôr termo à sua vida recorrendo a assistência médica, tendo também em consideração que “no domínio da medicina e da biologia deve ser” respeitado “o consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei” (n. 2, alínea a do art. 3, da CDFUE). Eu creio que a tutela do direito à vida e da inviolabilidade da vida se refere no essencial à protecção relativa a qualquer atentado exógeno, incluído o do Estado (daqui a proibição da pena de morte), ao direito de viver. E é precisamente neste registo societário que a lei penal pune a assistência à morte, precisamente porque se trata de acto de natureza social, onde intervêm pessoas, organizações ou instituições na morte de um cidadão singular, ainda que a seu pedido. Interrogo-me se o Estado pode e deve criminalizar também (mas creio que não, não deve nem, de facto, criminaliza), por exemplo, e seguindo a inspiração da Igreja católica, o suicídio. Quem se suicida contraria o carácter inviolável e sagrado da vida e por isso deverá ser condenado? No além, sim, certamente, segundo a doutrina religiosa. Mas, no aquém? Depois de morto, vendo-se, nos termos da lei, privado de todos os rituais previstos para os finados certificados pelo baptismo ou pelos rituais sociais? E quem tenta, mas falha, o suicídio deverá ser penalmente condenado por ter atentado contra a sua própria vida, sem envolvimento de terceiros? Condenando-o a prisão? A lei não proíbe, por não envolver terceiros, mas a questão deve ser posta, invocando o dever de protecção. Na verdade, estes parecem raciocínios humorísticos, mas não são, porque vão ao fundo do problema. O que é preciso deixar absolutamente claro é que o Decreto da AR visa somente o que está escrito logo no início do texto: art. 1 -“A presente lei regula as condições especiais em que a antecipação da morte medicamente assistida não é punível”, alterando, pois, e para o efeito, o código penal (Decreto 109/XIV, de 29.01.2021, da AR). De resto, da leitura do Decreto fica claramente a noção de que a tutela legal do acto de eutanásia pelo Estado é minuciosa e institucionalmente exercida. Uma lei bem feita, no meu entendimento.
A questão é esta: o “direito à vida”, consagrado, por exemplo, na CDFUE, exclui o direito de dispor dela? Trata-se de um direito ou de um dever? Para os católicos trata-se de um dever, sim. E, em geral, para os cidadãos?
A questão põe-se quando alguém é chamado a cooperar, por competência técnica e formal (um médico), na livre decisão, devidamente enquadrada (aqui, sim, pelo Estado, enquanto regulador), de um cidadão pôr termo à própria vida. Se aceitar, esse médico deverá ser acusado por ter cometido assassínio? E se outro se opuser deverá ser acusado por se ter recusado a pôr fim ao sofrimento atroz de um ser humano, a pedido, consciente, esclarecido e fundamentado, dele? No meu entendimento, nem num caso nem no outro deverá haver acusação. E o que diz a lei é isso mesmo.
Do que se trata, no caso da eutanásia, é de clarificar a situação, definindo a posição do Estado relativamente a esta matéria. Não devem os católicos, por exemplo, pedir ao Estado que produza norma, activamente ou por omissão (ficando a eutanásia tipificada como assassínio, subsumida à lei geral), já que os verdadeiros católicos nunca praticarão a eutanásia, por óbvias razões de doutrina e de visão do mundo, não sendo, pois, a comunidade de fiéis afectada pela posição reguladora (que referirei) que um Estado venha a assumir. Mas será aceitável que queiram impor, através do Estado, a toda a sociedade a sua própria visão do mundo e da vida, tratando como dever o que é um direito inalienável? Não deve o Estado democrático, pelo contrário, ser o garante da livre afirmação das identidades, em todos os planos, político, cultural ou religioso, desde que enquadradas pelo que Habermas designa como “patriotismo constitucional”, ou seja, adesão aos grandes princípios civilizacionais adoptados pelo Estado e pelas cartas universais de direitos como sua lei fundamental? Do que aqui se trata é da laicidade da abstenção do Estado para uma livre dialéctica das identidades. Até mesmo neste caso, já que a decisão é remetida para a esfera da liberdade e da identidade pessoal. De resto, nem o Estado, numa civilização de matriz liberal, deve intervir numa matéria tão íntima e pessoal como esta, a não ser para proteger precisamente a liberdade que cada um deve ter de tutelar a própria integridade como entender. Ou seja, o Estado tem o dever de intervir, sim, mas para, também nesta circunstância excepcional, proteger a liberdade individual da interferência de factores externos à sua livre, esclarecida, racional e ponderada decisão relativamente à própria vida.
O ESTADO E OS DIREITOS INDIVIDUAIS
CONSIDERO, deste modo, que a intervenção do Estado em relação a esta matéria deve ser somente reguladora, garantindo o direito de cada um tutelar a sua vida ou a sua morte num caso verdadeiramente excepcional, legislando especificamente sobre ele, sendo certo que em condições normais o eros prevalecerá sempre sobre o thanatos, a vida sobre a morte. Esta é, de resto, a lei que garante a reprodução e a conservação da espécie.
Alguns Estados, como é sabido, e em países democráticos e civilizacionalmente avançados – por exemplo, nos Estados Unidos -, usam a pena de morte como punição máxima ou como salvaguarda de um bem superior, contrariando o disposto no número 2 do art. 2.º da CDFUE e, de certo modo, também o art. 2.º desse documento matricial da nossa civilização que é a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, de 1789: “O fim de qualquer associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Estes direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”. Este artigo, conjugado com o art. 5.º (“a lei não tem o direito de proibir a não ser as acções prejudiciais para a sociedade; tudo o que não é proibido pela lei não pode ser impedido, e ninguém pode ser obrigado a fazer o que a lei não ordena”), leva-me a concluir que, nesta matéria, o Estado somente deverá remover o que possa prejudicar, por um lado, a sociedade e, por outro, a livre tutela do cidadão sobre si próprio, clarificando as condições em que a morte assistida possa ser praticada. Assim, no caso em que um cidadão esteja na posse plena das suas próprias faculdades, mas em condições de insuportabilidade física (mesmo com cuidados paliativos) e de destino irreversível, o Estado tem a obrigação, isso sim, de garantir a certificação institucional e científica destas condições, seja do ponto de vista psicológico seja do ponto de vista médico, através de recurso a assistência médica. A verificar-se que não existem factores exógenos a determinar a decisão, o Estado não deve, nem que seja por omissão (deixando que a esta prática se aplique a lei penal geral), proibir a decisão de morrer com assistência médica nem, consequentemente, permitir que quem intervenha no processo, a pedido do cidadão em causa, e exclusivamente porque é detentor formal de competência técnica, seja acusado de assassínio. Tal como não deve permitir que quem se recuse, por razões de ética da convicção ou religiosas, sendo detentor formal de competência técnica, a cooperar no acto de eutanásia medicamente assistida, seja acusado. Tudo isto está devidamente acautelado no Decreto da Assembleia da República. Mas se for ainda mais acautelado, em sede de reapreciação pelo Parlamento, tanto melhor.
A FUNÇÃO REGULADORA E DE CONTROLO DO ESTADO
TRATANDO-SE DE ALGUÉM que comprovadamente esteja numa situação de sofrimento atroz, mas incapaz intelectualmente de tutelar a sua própria vida, estando, assim, dependente de outra tutela (por exemplo, familiar), o Estado teria o dever, perante uma decisão desta natureza, de reforçar a tutela dos direitos do cidadão em causa, accionando idóneos meios institucionais e científicos de controlo para verificar que não existiriam factores exógenos àquela que seria, supostamente, a sua vontade em condições de plena posse das suas faculdades. Mas a verdade é que no presente Decreto da AR nem sequer está previsto este caso, estando de qualquer modo previsto um robusto controlo para que não se verifique qualquer interferência exógena ao acto. A iniciativa em causa deverá, no meu modesto entendimento, confinar-se à certificação de que na decisão não intervêm quaisquer factores externos ou exógenos, alheios ao que verdadeiramente está em causa. E nada mais, sob pena de, em qualquer dos casos acima referidos, o Estado estar a entrar na zona protegida de um direito individual inalienável, o da livre tutela da própria vida. Ou seja, defendo sobre esta matéria uma intervenção minimalista, mas reguladora e de controlo do Estado, deixando aos cidadãos a liberdade de accionarem, ou não, os mecanismos para poderem usufruir de uma morte medicamente assistida. O que não é admissível é pedir ao Estado que, em nome de uma mundividência, seja ela religiosa ou filosófica, anule a liberdade individual naquela que é a mais profunda e íntima esfera da própria personalidade. A eutanásia não pode ser tipificada como assassínio, porque não o é, e muito menos numa sociedade de matriz liberal onde a tutela da liberdade é um dos mais importantes princípios. E nesta visão da liberdade entram de pleno direito os católicos e a sua legítima discordância relativamente a posições diferentes da sua.
FINALMENTE
EM SUMA, A MINHA POSIÇÃO sobre o assunto é, como se viu, ditada pela ideia que tenho acerca da legitimidade da intervenção da sociedade, através do Estado, sobre a esfera individual ou mesmo íntima. É minha convicção que numa sociedade com uma matriz liberal como a nossa esta é a posição mais sensata e conforme à sua matriz. E, sinceramente, e pelas mesmas razões, não vejo que esta matéria deva suscitar um referendo, uma vez que a lei se limita a evitar a criminalização de um acto que só ao próprio diz respeito por ser matéria do seu foro mais íntimo, que não interfere na liberdade de outrem ou com a sociedade, antes constituindo legítimo uso de um seu direito inalienável, o da tutela da sua própria vida. Na verdade, aquilo a que o Estado não tem direito é obrigar sob ameaça de sanção penal alguém a viver contra a sua própria vontade livremente manifestada, transformando um direito num dever. Esse seria um Estado ético, não um Estado liberal. E os Estados éticos já se sabe onde vão a acabar: na imposição paternalista de padrões comportamentais aos cidadãos – é proibido tudo aquilo que não é (explicitamente) permitido (e não: é permitido tudo aquilo que não é proibido, como previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão). O que equivaleria a restaurar uma identificação há muito superada: a do cidadão como súbdito, perante a vontade divina ou perante o Estado. E a cidadania, que é o plano em que a questão deve ser posta ao Estado, não é hoje, de modo algum, identificável nestes termos. #Jas@03-2021.
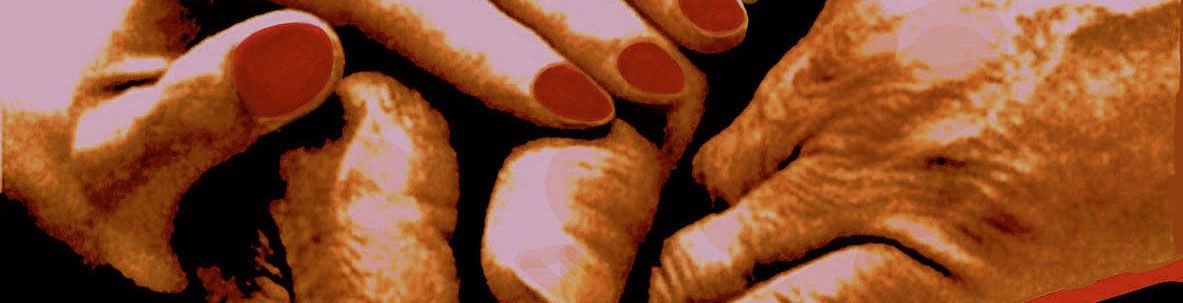
“S/Título”. Detalhe.
LAVANDARIA SEMIÓTICA
Por João De Almeida Santos
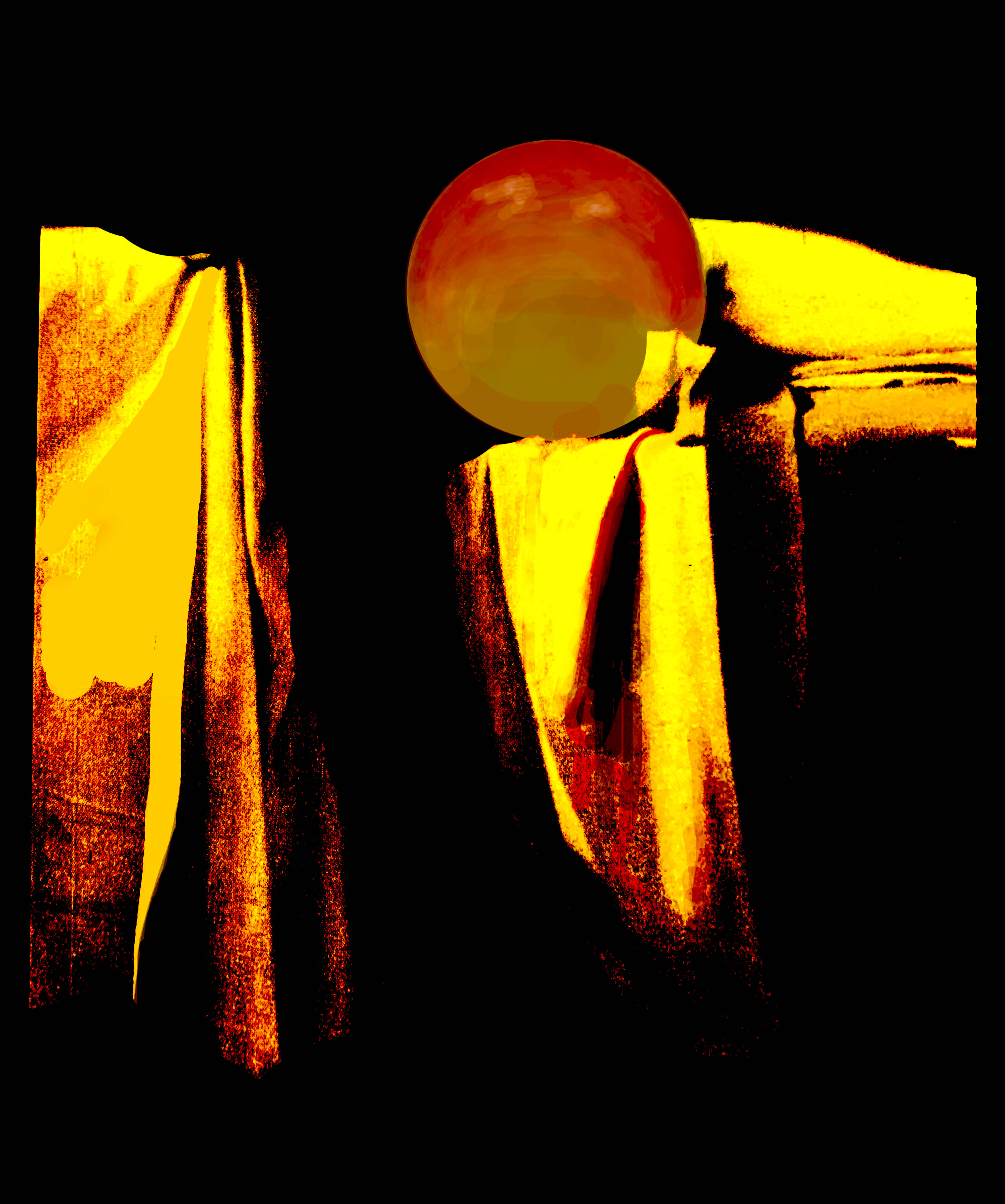
“S/Título”. Jas. 03-2021.
COMEÇA A SER PREOCUPANTE esta higienização da língua, da arte e da história que grassa por aí. Agora é a Universidade de Manchester que, em nome de uma linguagem inclusiva e neutra, cria um guia de boas práticas linguísticas, um “guide outlines how to use inclusive language to avoid biases”, para seu uso e consumo. Uma autêntica revolução semiótica. Regras de bom comportamento linguístico. Nem mais nem menos. Até as palavras pai e mãe, irmão e irmã, homem e mulher e marido e mulher saem do culto glossário manchesteriano para serem substituídas preferencialmente (rather than, é a fórmula usada) por parent ou guardian, por sibling, por person ou por partner, respectivamente. Isto numa Universidade de um país que se preza de conservar e dignificar as suas tradições. Não numa creche. Eu, que tenho dois filhos, se algum deles me tratar por guardian digo-lhe que vá chamar guardian a outro. Sou pai e esta palavra traz consigo um imenso afecto que não pode ser reduzido à categoria de guardião ou de tutor ou do que lhe quiserem chamar.
Naturalmente, Portugal não quis ficar atrás de Manchester e o Conselho Económico e Social, dirigido pelo socialista Francisco Assis, que, creio, foi contra o acordo ortográfico, logo se apressou a (quase) aprovar também um manual de boas práticas linguísticas, não um manual de boas práticas de concertação entre parceiros do mundo económico e social. O CES, com Assis, a caminho de se concertar sobre um inédito acordo semiótico.
ARAUTOS DA NOVILÍNGUA
ESTA VISÃO CLÍNICA DA LINGUAGEM, esta limpeza linguística, esta lavandaria semiótica, ao serviço de uma visão do mundo politicamente correcta, devidamente esterilizada e pasteurizada, já está mais institucionalizada do que parece e acompanha, naturalmente, aquela outra desse revisionismo histórico que já está a chegar à literatura, passando pelos monumentos e pela pintura. O revisionismo em todo o seu esplendor – uma cruzada em pleno desenvolvimento pronta a bater-se pela novilíngua universal contra os infiéis, os apóstatas. Uma nova santa inquisição que espreita à esquina, com manuais de boa conduta à mão, e que promove blitzkriege contra os símbolos da opressão línguística, artística e histórica. Que o digam algumas obras de arte já castigadas pelos arautos da nova fé. Eles já andam pela gramática e pela semântica, pelos museus e pela arte pública a punir os desmandos do passado e os seus testemunhos. Ainda os hei-de ver a chicotearem estátuas no pelourinho (talvez electrónico), tal a fúria castigadora dos arautos da novilíngua.
É preciso começar por algum lado, acham eles. Pois então comece-se pela língua, pela arte e pela história. A língua espelha a história de um país e, se condenarmos o seu passado, como condenamos, pelas suas práticas incorrectas e imorais, ao longo de séculos ou mesmo de milénios, desde o tempo dos homens das cavernas, em nome dos valores que hoje consideramos absolutamente correctos, então há que efectuar uma limpeza, mas não só da língua e dos rastos que a iniquidade deixou nela, higienizando-a, esterilizando-a, purificando-a das impurezas e das bactérias que historicamente se foram sedimentando até nas suas próprias estruturas formais (exemplo, o domínio do género masculino da gramática e os sinais de diferença sexual ou no próprio direito, também com inadmissíveis marcas masculinas), mas também das obras de arte onde possam ser encontrados resquícios ou marcas de um passado construído com os valores que hoje execramos (na escultura, na literatura, na história). Marcas que nem para a sucata hão-de servir, não vão os sucateiros reciclar tão deletérios produtos.
HEGEMONIA
O QUE É CURIOSO é que isto está a acontecer nos países que mais progressos civilizacionais fizeram e que coexistem com imensos países onde o básico nem sequer está garantido à generalidade das populações. Um gigantesco salto em frente – esperando-se que não seja para o precipício -, em vez de uma viagem aos passados que coexistem connosco e que estão aqui ao nosso lado, bem à vista, merecendo uma preocupação absolutamente prioritária relativamente às marcas visíveis na gramática, na semântica ou na arte. Estes passados estão a chegar à EU pelo Mediterrâneo, querendo tornar-se presente. Sim, mas o passado ficou lá nas suas terras, nas suas casas. E é lá que reside o problema principal.
Mas é por aqui, pela limpeza semiótica, que esta luta civilizacional está a avançar com enormes vitórias nas próprias instituições internacionais, com sinais que são verdadeiramente preocupantes porque nos arriscamos a que esta se torne uma visão hegemónica e que acabe por assumir uma natureza inquisitorial, um policiamento das consciências, através da língua, da arte e da história e que nos amarre ao universo da narrativa e das palavras autorizadas. Uma matriz claramente antiliberal e uma palavra de ordem que é o oposto do que ficou consignado no documento que representa a matriz da nossa modernidade, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (Art. 5: “Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.”): é proibido tudo aquilo que não é permitido. Não só proíbem determinadas palavras, como também impõem o uso de outras, mesmo que elas toquem o mais profundo da natureza humana. Começa-se logo pelo dicionário, pelo uso de certas palavras, o que lembra os tempos da ditadura.. Por exemplo, não é permitido (ou, pelo menos, não é aconselhável) o uso das palavras mãe ou pai. O problema é que esta é a zona onde a liberdade habita, ficando o seu exercício seriamente diminuído, precisamente num tempo em que os mesmos gritam pela defesa da privacidade e pela liberdade individual. Se nem numa Universidade inglesa, onde a liberdade deve ser o primeiro princípio a estar garantido, já se podem usar as palavras homem-mulher, pai-mãe, marido-mulher, irmão-irmã que acontecerá noutras áreas de grande intensidade social?
A REVOLUÇÃO DO CHE GUEVARA JÁ É PASSADO
DO QUE SE TRATA verdadeiramente é de uma luta pela hegemonia, uma luta que não tem verdadeiramente o sabor de um confronto cultural, mas sim o de uma batalha administrativa pelo controlo formal da língua e da narrativa acerca da história ou da arte.
E de onde é que lhes vem tanta força, aos revisionistas da língua e da história? A força vem do facto de se considerarem os verdadeiros intérpretes das declarações universais de direitos. Numa lógica de kamikaze. É daqui que lhes vem a força e a legitimidade. Só que o que eles verdadeiramente fazem é uma luta pela imposição administrativa e directa destes direitos, princípios e valores, num discurso de pensamento único que absolutiza valores que são históricos, como os outros o foram. O que eles postulam verdadeiramente é o fim da história. Um momento omega que é a medida de todas as coisas. O Fukuyama deve estar a rir-se. Na verdade, o que praticam é um absolutismo axiológico que querem ver imposto administrativamente naquelas que são as sociedades mais avançadas do planeta, numa vertiginosa fuga para a frente relativamente a sociedades que ainda não viram satisfeitas sequer as condições básicas da existência. E, claro, esta fuga administrativa para a frente deixa-os insensíveis à necessidade da sua presença lá onde eles seriam mais precisos, ou seja, nas sociedades que precisam de conhecer um mínimo de desenvolvimento, de direitos e de bem-estar. Mas isso daria imenso trabalho, seria desconfortável e muito arriscado, preferindo, pois, fazer a sua luta nos lugares onde já há liberdade, segurança e bem-estar. O tempo dos revolucionários como Che Guevara já passou. A revolução faz-se em casa, eventualmente à frente de um computador e com ar condicionado.
É A CULTURA, ESTÚPIDO
MAS A QUESTÃO é que os progressos civilizacionais e culturais não se podem impor administrativamente. A sua conquista levou séculos, lutas, sacrifícios, morte. Não se obtiveram ao virar da esquina, com a redacção de um manual, pela simples razão de que a vida e a história não cabem em dois ou três breviários. Bem sei que eles têm pressa, muita pressa, eventualmente o tempo que a sua construção psicológica lhes impõe, porque têm noção de que o tempo de hoje é um tempo tão acelerado que já nem parece ser tempo histórico. Sim, isso mesmo: o problema parece ser o do reconhecimento da temporalidade histórica. Mas a verdade é que os progressos requerem investimento projectado num tempo com profundidade, trabalho complexo, longo e livre de formação, de educação de cultura, de ciência. Um processo que não pode começar pelo confinamento da língua, da história ou da arte, ou seja, pelo confinamento dos espaços onde a liberdade deve ditar lei, mas sim pelo investimento público na educação, na cultura, na arte e na dotação pública das respectivas infraestruturas como condição essencial do crescimento e da autonomia individual para um futuro exercício consciente e plenamente responsável da cidadania, sem necessidade de guiões morais que pré-determinem o comportamento. Tomo como referência as visões do alemão Friedrich Schiller, nas Cartas sobre a Educação Estética do Homem (de 1792), e do poeta americano Walt Whitman, em Democratic Vistas (de 1871), e as suas propostas sobre a arte como motor de uma sociabilidade humana harmoniosa e sensível. No caso do poeta de Leaves of Grass, o lugar destinado à essencialidade histórica da poesia. Uma arte que nunca poderá ser encapsulada em códigos ou manuais de bom comportamento linguístico. Ou seja, o desenvolvimento é algo bem diferente das cartilhas que nos querem impor como padrão que impede comportamentos moral e civilizacionalmente desviantes e até puníveis por lei ou por regulamentos administrativos. Um admirável mundo novo com sacerdotes que aspiram a guiar as nossas vidas.
FINALMENTE
COMO SE SABE, o acordo ortográfico (AO), a forma como se escreve as palavras, não conhecerá paz enquanto o poder político não fizer uma reflexão profunda sobre a língua portuguesa, maltratada por alguns académicos pouco sensíveis à delicadeza da cultura e da ciência, e enquanto várias gerações se mantiverem em vida. Trata-se simplesmente da forma de escrever algumas palavras. Imaginemos, então, acordos semióticos na língua portuguesa (AS) em chave inclusiva e neutra (um extraordinário incentivo ao culto da poesia, diga-se) e a dureza da batalha que os seus fautores terão de enfrentar antes mesmo que isso se converta numa ainda mais dura batalha política, quando os nacionalistas se aperceberem de que essa é a batalha das suas vidas, a batalha que mais lhes interessa porque é aí que melhor poderão afirmar as suas razões, contra os novíssimos “chiens de garde” do politicamente correcto.
A verdade é que esta higienização da língua, esta limpeza linguística e cultural imposta por via administrativa, mas que aspira a transformar-se em hegemonia ético-polítca e cultural nas sociedades mais avançadas, enquanto crescem e se impõem ditaduras, regimes de cariz populista e regimes de miséria um pouco por todo o lado, não deixa de ser preocupante até por abrir um vasto flanco à entrada em cena de todos aqueles que são pouco amigos da democracia, da igualdade e da liberdade. Parece-me até que os mais acérrimos defensores da limpeza semiótica, da arte e da história mascaram de progressismo a sua indigência cultural e científica ou mesmo a sua indisfarçável e prepotente ignorância. Afinal, empenham-se nestas batalhas porque não têm outras bem mais importantes e urgentes para propor.
NOTA
Não tarda, estarão a propor uma alteração do nome da Declaração de 1789 e do título do livro de Schiller.

“S/Título”. Detalhe.
MORDAÇA
Por João de Almeida Santos

“S/Título. Jas. 03-2021.
DIZEM POR AÍ que Portugal está amordaçado, que vivemos numa democracia amordaçada e imperfeita. Parece que sim, que alguém diz. Ah, digo eu, como a imperfeição das democracias pode gerar regimes de mordaça quando alguns acham que a devem melhorar, purificando-a e libertando-a da balbúrdia. No fim, é tudo uma questão de liberdade, valor supremo. Pois é.
“PORTUGAL AMORDAÇADO”
IMAGINO QUE O AUTOR deste sofrido lamento se sinta sufocado no seu retiro presidencial, mas não, como todos nós, por causa da vergonhosa COVID19. Sufocado, sim, mas por falta de liberdade, não por falta de ar. A COVID19 que se lixe, resolve-se com uma vacina nem que venha da China ou da Rússia, pois as vacinas não têm ideologia. Ele respira liberdade. E se lhe dizem que está a ser ameaçada decide de imediato ir para a rua, tomar ar e gritar, a plenos pulmões, ao lobo… como na famosa fábula de Esopo. Não por tédio, isso não, mas por falta de ar democrático. Por isso vai sem máscara. Para gritar mais alto. Ou, melhor, vai com a sua, a natural, a que protege do sufoco democrático. Mas compreende-se tanta angústia, tanto sufoco, tanto sofrimento. E também se compreende que a quietude e o silêncio em certos momentos de falta de ar não sejam bons para a saúde democrática. Sobretudo para ele, que conseguiu manter Portugal a respirar liberdade, livre da mordaça, durante os 20 anos em que esteve no poder, não lhe podendo ser atribuída responsabilidade por algo que possa ter corrido mal (e para isso está a escrever os livros de memórias onde faz a demonstração da brancura dos seus quatro mandatos). Sem mácula, mas combativo, de peito às balas, ele desenterra, hoje, com visível e preocupada angústia, a palavra usada por Mário Soares no livro sobre a ditadura do Estado Novo, “Portugal Amordaçado”, de 1972. E lança o grito de alarme.
MORDAÇA LIGHT
É certo que a palavra perdeu vigor com a democracia, regime que não tolera a mordaça, com ou sem ele no poder. Na verdade, relativizou-se, porque, afinal, há sempre um pouco de mordaça por aí, ainda que seja light ou privada. Nem que seja porque os jornais e as televisões só põem no espaço público os do costume, a debitar banalidades, nesse círculo fechado em que se comentam uns aos outros, sendo que uma boa parte parte deles o faz como his master’s voice. E nisso o nosso personagem até é doutor, ajudado que foi por um seu sagaz e saltitante assistente que hoje é um famoso áugure do oráculo televisivo. De tanto os controlar, em nome da liberdade, claro, acabou por se tornar um deles. Mas lembro-me muito bem das batalhas pela liberdade que ambos travaram quando estavam no poder. Os polícias que o digam.
Mas, sim, a mordaça veio para ficar. Regressa sempre. Um destino. Um fado. Já não tem a mesma força, convenhamos, porque não é tão sufocante como a da ditadura, aquela a que se refere o livro de Mário Soares. É mordaça light, mas é mordaça. Pelo menos parece. Pode vir de alguma corporação, sim, mas não é igual à autêntica. Acho eu. De uma coisa tenho, porém, a certeza: a mordaça perdeu força, desvitalizou-se durante os 20 anos em que o melancólico queixoso esteve no vértice dos poderes presidencial e governativo – de 1985 a 1995 e de 2006 a 2016. 20, em 45 anos. Coisa não despicienda que os portugueses, sempre tão generosos, lhe facultaram. Em nome da sagrada liberdade. Dizia-se até, ao tempo, que o seu rosto se parecia com o rosto da liberdade. Mas o tempo no poder, sim, o tempo no poder, foi mais do que suficiente para escorraçar definitivamente do corpo e da alma de todos nós a mordaça política e consolidar a liberdade que tanto preza, que tanto prezamos. E bem tentou, pondo todas as suas forças, as que tinha e as que não tinha, ao serviço desse ideal. Que o digam os polícias, secos ou molhados, não importa, ou os ex-ministros da Administração Interna Silveira Godinho e Dias Loureiro. Sim, que o digam eles. Mas, mesmo assim, depois de tanta abnegação, o que, afinal, se conclui é que de nada serviu esse gigantesco empenho – talvez o maior durante os seus longos tempos de poder, os mais longos em democracia – para tornar irreversível o tempo da liberdade, impedindo o regresso da mordaça de má memória. Lembro-me bem da sua temerária denúncia pública, materializada num jornal de referência e de qualificado público, da tentativa de um outro primeiro-ministro socialista impor um regime de mordaça. Lembro-me, sim, e muito bem, porque assisti, estupefacto, à movimentação dos carros armados em S. Bento, onde trabalhava, e da corajosa intervenção do nosso personagem, e de alguns temerários jornalistas, para impedir a mordaça já em movimento. Até porque parece que, logo a seguir à imprensa, ele seria o primeiro a ser amordaçado. Não se sabe em que grau, mas amordaçado. Sim, impediu, e por isso lhe estaremos eternamente gratos. E os madeirenses também.
Mas depois, pasme-se, veio outro socialista, António Costa, e com ele comunistas e bloquistas, para instalar finalmente a tão odiada mordaça: Portugal Reamordaçado. Os socialistas não pensam mesmo em mais nada senão em impor a mordaça, logo ali, ao virar de cada esquina. Uma autêntica obsessão. Ou, quem sabe, um defeito genético que nenhum líder consegue extirpar. Mal que vem da raiz, como demonstrarão futuras investigações académicas dos habituais cientistas políticos sobre a mordaça, imaginem, na obra política de Mário Soares, agora que a moda pegou com os estudos académicos sobre o racismo na obra de Eça de Queiroz. O nosso protagonista foi obrigado a dar-lhe posse, é verdade, e agora é o que se vê: mordaça por todo o lado. Até eu já me sinto amordaçado, duplamente, pela COVID19 e por António Costa. Acordo de manhã, levanto-me e logo sinto a mordaça que me oprime o peito e não me deixa respirar. E o pior é que nem posso ir para a rua gritar ao lobo, porque acabarei detido. Uma dor no corpo e na alma, sim. Mas… aleluia, felizmente chegou, qual Mário Soares revisitado (o da liberdade, entenda-se), de trotinete digital o homem do sul, ou do leme, já nem sei, a gritar a plenos pulmões, e com razão, contra o “Portugal Amordaçado”. Prepara, ao que consta, e para que conste, um novo livro: “Portugal Reamordaçado”. Pelos socialistas. Com um subtítulo muito elucidativo: “A atracção fatal do socialismo democrático”.
MORDACRACIA
Já antes houvera, como disse, uma tentativa de a impor, que ele corajosamente travou porque estava lá, no poder; mas, agora, que já não está, lá conseguiram eles impor (com a ajuda dos comunistas) o execrável regime da mordaça. Um novo tipo de regime que os cientistas políticos, esses que não saem do monitor televisivo, já estão a introduzir na novilíngua da ciência política: mordacracia. Nem ditadura nem democracia. Um hircocervus de rosto socialista.
Mas, seja como for, e ainda que me doa a alma, não posso deixar de interpolar algumas glosas nesta narrativa da mordaça: o personagem tem algumas responsabilidades no estado de mordaça em que o país se encontra. Ah, tem mesmo. Oh, se tem. No melhor pano cai a nódoa. Não há regra sem excepção. Porque, das duas uma: ou a sua passagem pelo poder foi inócua (mas não foi, senão não teriam sido criados bancos livres de mordaça como, por exemplo, o BPN) ou então foi, também ele persistente e remoto obreiro no regime de mordaça em que nos encontramos. Porque vinte anos no poder em 45 de democracia (a Constituição é de 1976) correspondem quase a metade da nossa vida democrática. Tempo mais do que suficiente para que alguma responsabilidade lhe caia sobre os ombros… embora sem o derrubar. Ou não? Que diabo, alguns erros, involuntários, claro, ele terá cometido, embora saibamos, por ele, que nunca erra e raramente se engana. Raramente. Oh, talvez esteja aqui a solução do enigma. Raramente. A não ser que algo muito parecido com os “corsi e ricorsi” do Giambattista Vico, ou seja, um longo tempo de intermitência, explique estes fortes altos e baixos, estas ondulações da história de Portugal: mordaça/não mordaça. Tertium non datur.
O QUE DIZ A “FREEDOM HOUSE”?
Bom, mas parece que lá fora – excepto os do Economist, na sua dorida versão – não acreditam que Portugal viva em regime de mordacracia. Espicaçado e preocupado pelos dolorosos gritos de dor do nosso personagem fui ver a mais recente classificação dos regimes políticos pela Freedom House (FH – ONG com sede em Washington, criada em 1941 e que teve como fundadora, entre outros, Eleanor Roosevelt). E comparei as tristes lamentações com o seu recentíssimo Relatório: Portugal surge quase no topo da tabela só atrás da Finlândia, da Noruega, da Suécia, todos com 100 pontos (fazendo o pleno), e da Irlanda, com 97 pontos. Portugal exibe, de facto, 96 pontos e está à frente de países como a Alemanha, com 94, o Reino Unido, com 93, a França e a Espanha, com 90, e os Estados Unidos, com 83 pontos. Podemos não ser lá grande coisa na economia, na cultura ou no combate à COVID19. Podemos, sim. Mas dizem eles que em matéria de liberdade, isto é, de não-mordaça, estamos entre os melhores do mundo. Ainda que isso custe aos do Economist, que tanto preocupam o nosso protagonista. Mas até creio que ele tem a maior consideração por esta ONG, por onde têm passado inúmeros personagens da sua família ideológica, ou seja, do partido republicano americano.
RESSENTIMENTO OU RANCOR?
Eu não sei que influência o socialista António Costa tem em Washington, na Freedom House, mas o que é certo é que esta classificação deveria levar o autor da denúncia a sentir-se um pouco mais aliviado, menos oprimido, libertando-se desse atroz ressentimento e do rancor que o oprimem pelo estado de mordaça que lhe impuseram, por fora, e que lhe está a fazer tantos estragos morais e psicológicos, por dentro. Não só, porque, maravilha das maravilhas, a classificação até acaba por absolvê-lo de uma responsabilidade partilhada pelo estado de mordaça a que isto chegou e por libertá-lo da maçada de ter de se tornar no venturo autor de um “Portugal Reamordaçado”. Na verdade, dadas as características da FH não vejo razão para que o intrépido militante da causa da livre democracia não confie na classificação que, ao mesmo tempo, o desmente, mas tranquiliza. Um oximoro, sim, mas verdade reconfortante. Para ele e para nós. Nem mordaça nem culpado dela. Que mais quer o nosso protagonista?
E é verdade que não perco tempo a ler as suas memórias, porque são como o OMO: lavam mais branco. O que, de resto, pude confirmar quando, por uma vez, li um dos seus livros que relatava um período em que estive em S. Bento, conhecendo muito bem o que por lá se passava. Mas penso que, com o passado que tem, deveria cultivar um certo pudor e manter-se serena e inteiramente entregue às suas memórias, mesmo que sejam para se glorificar e isentar de pecados, o que é humano, demasiado humano. Em vez disso, magoa-se, destilando intermitentemente veneno político, ressentimento, rancor e até mesmo velhacaria para fora e para dentro do seu próprio partido. Ao menos que, neste caso concreto, se informasse sobre a posição de Portugal nos observatórios internacionais, não só no Economist, em tempo de pandemia. Mas compreende-se. O seu registo histórico e filosófico é o da dialéctica da intermitência.
CONCLUSÃO
Eu vivo cá e confesso que, de facto, ainda não me senti mais amordaçado do que estava nos seus vinte anos de poder. Um tempo primaveril, com um único problema: o das alergias, muito parecidas com as que são provocadas pelo pólen, sem ofensa para as flores. E depois de ler o Relatório ainda fiquei mais convencido de que em Portugal, afinal, há liberdade para se dizer o que se pensa. Na imprensa e na rede. Até alarvidades que revêm a nossa própria história ou proclamações de arautos da virtude moral que nos querem despertar do torpor em que nós, herdeiros do colonialismo, estamos, sonolentos e incultos, a viver. Ou outras, como a sua, que dão uma péssima e falsa imagem de nós para o estrangeiro, apesar dos relatórios dos observatórios internacionais. E ainda para relatar outros factos que o desmentem publicamente. Amen.

“S/Título”. Detalhe.
O REGRESSO DE GIUSEPPE CONTE
Por João de Almeida Santos

“O Contrato Digital”. Jas. 03-2021.
“Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme” (Ditado africano, posto por Beppe Grillo como leitmotiv de um seu recente artigo)
JULGO SER DE GRANDE INTERESSE, não só político, mas também teórico, seguir em detalhe o caso do italiano Movimento5Stelle (M5S), partido digital, ainda a maior força política presente no Parlamento saído das eleições de Março de 2018, com 32,7% dos votos e com os dois maiores grupos parlamentares, no Senado e na Câmara dos Deputados, 76 em 315 (ou 321 com os 6 Senadores “a vita”, entre os quais, actualmente: Claudio Abbado, Maestro, Renzo Piano, Arquitecto, e Carlo Rubbia, Nobel da Física) e 168 em 630, respectivamente. Uma força que está no governo desde 2018, mas que tem vindo a perder consensos, ao ponto de as últimas sondagens (8, em Janeiro e Fevereiro) lhe darem em média 14,7% como score eleitoral. Mas é um partido que diz que não é, que se reconhece como movimento ou, melhor ainda, como “livre associação de cidadãos”, como se lê logo na abertura do site do M5S. Tive ocasião de reflectir longamente sobre este Movimento num ensaio (Mudança de Paradigma: a emergência da rede na política. Os casos italiano e chinês) publicado pela Revista ResPublica (17/2017, pp. 51-78: http://cipes.ulusofona.pt/wp-content/uploads/sites/137/2018/07/RES-17v11.pdf), procurando evidenciar as características de um movimento político de novo tipo, ancorado, por um lado, num ambiente digital que funciona como o seu território, a sua cidade, e, por outro, na ideia de cidadania digital e de democracia directa digital, uma democracia pós-representativa, ancorada num cidadão user ou, melhor, prosumer, produtor e consumidor de política e comunicação. Um novo tipo de cidadão, portanto. Mas um movimento que, além disso, assumia uma liderança unipessoal, a de Beppe Grillo, como “garante” da sua própria coesão e, por isso mesmo, designado como “Il Garante”. É um movimento que tem, neste momento, 187.219 inscritos certificados, tendo direito de voto 118.918 inscritos. Além de “Il Garante”, tem um “Capo Politico” executivo, actualmente Vito Crimi, tendo, entretanto, sido aprovada na Plataforma Rousseau, também designada por Eco-sistema Rousseau, uma alteração estatutária que atribui a direcção executiva do M5S a um Comité Directivo composto por cinco pessoas, a escolher em eleições que decorrerão na Plataforma. As deliberações do M5S são tomadas por votação dos inscritos nesta plataforma e vinculam os grupos parlamentares e os inscritos. Não é, de resto, por acaso que a plataforma se chama Rousseau, pois este filósofo contratualista, no “Contrato Social (1762), recusa precisamente a representação política, substituindo-a pela ideia de comissariado: “La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison quʼelle ne peut être aliénée; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, & la volonté ne se représente point: elle est la même, ou elle est autre; il nʼy a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires; ils ne peuvent rien conclure définitivement” (Du Contrat Social: Liv. III, Cap. XV; itálico meu).
Digamos que a instituição representativa surge aqui como continuação da democracia directa exercida pelos inscritos (os “cidadãos activos”, de kantiana memória) no Eco-sistema Rousseau, instância política a que ficam subordinados os (seus) representantes-comissários no Parlamento. Ou seja, não existe neste Movimento a distinção entre génese (poder de propositura das candidaturas) e validade (titularidade do poder soberano), ficando os representantes dependentes da vontade de um poder privado, neste caso o M5S, o que contraria a própria constituição italiana, ao determinar que os representantes não têm vínculo de mandato, reproduzindo, de resto, os termos constantes do famoso art. 7., Secção III, Cap. I, Título III, da Constituição francesa de 1791: “Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat” (itálico meu). Claro como a água: serão representantes de toda a Nação e “não lhes poderá ser dado vínculo de mandato”.
Por outro lado, a visão programática estratégica do M5S, além das profundas mudanças no plano estritamente político e do combate contra o clássico establishment político e mediático (até à sua substituição por um seu governo, como aconteceu em 2018), centra-se no pilar fundamental da ecologia (ambiente, água, energia), que pode ser traduzido por transição ecológica e digital, e que já se encontra materializada em dois ministérios do governo Draghi, precisamente o da Transição Ecológica, proposto e negociado por Grillo, e o da Inovação Tecnológica e Transição Digital.
Estas as características essenciais de um Movimento que ainda é a maior formação política italiana e que integra o actual governo de Mario Draghi, com quatro dos 23 ministros que compõem o executivo.
O M5S EM MOVIMENTO
O que, entretanto, está a acontecer, agudizado pela votação da moção de confiança ao governo Draghi e que viria a dar origem a uma grave divisão no seio do Movimento, já com 36 ou 39 expulsões de deputados e senadores, levou Beppe Grillo e a cúpula dirigente do M5S a dar início a um processo de refundação do Movimento, estando já concordado que Giuseppe Conte, o ex-Presidente do Conselho de Ministros desde 2018, assumirá a sua liderança, mantendo-se, naturalmente Beppe Grillo como “Il Garante”, o patrono. Decisão que não será alheia aos resultados de sondagens que dariam o M5S a subir significativamente com Conte na liderança. Com efeito, ontem foi divulgada uma sondagem da Swg para “La 7”, onde, se fosse liderado por Giuseppe Conte, o M5S subiria mais de 6 pontos alcançando a Lega (22% contra 22,3%) e penalizando sobretudo o Partido Democrático, que se ficaria pelos 14,2%, abaixo cerca de dois pontos de Fratelli d’Italia. Um significativo resultado do índice de agrado que Conte conserva na opinião pública. Uma catástrofe para o Partido Democrático. E o sinal de que Itália está a conhecer profundas mudanças no panorama político.
Mas qual é a nova filosofia para o renascimento de um movimento que está reduzido eleitoralmente a menos de metade, que não vê a sua representação política traduzir-se em lugares no governo, que está à beira de se partir (quase) ao meio e que foi incapaz de, mesmo estando no governo, operacionalizar no terreno uma das suas bandeiras mais significativas, a cidadania digital? A aposta é clara se tomarmos na devida consideração o artigo de Domingo, 28.02, de Beppe Grillo, “Andiamo Lontano”: o renascimento do movimento, em proposta confiada a Giuseppe Conte, e o desafio da transição ecológica e digital. Sendo certo que a questão do ambiente sempre foi um dos temas programáticos originários e fundamentais do M5S, neste momento esta parece ser a área decisiva a partir da qual o M5S se virá a repropor aos eleitores italianos. Esta é uma aposta que Grillo vê como maior do que a própria aposta na economia e na política, visto que se trata de um desafio civilizacional, social, cultural e moral que, mais do que uma concretização programática, implica uma mudança global na forma como todos, e cada um, deverão encarar a vida, na mentalidade, nos hábitos, nos costumes e nos objectivos. Uma revolução difícil, portanto, porquanto atinge o comportamento quotidiano da cidadania, uma revolução nos seus hábitos. Diria que, vista a importância que o M5S atribui à transição digital, a um avanço na sociedade digital e em rede deverá corresponder um regresso a uma Lebenswelt mais próxima da natureza, mais respeitadora das suas leis, mais contida e sábia na exploração dos recursos naturais. Não se tratará, claro, de um back to the basics, um regresso à vida campestre, mas corresponderá a uma forte inversão no percurso devastador da economia capitalista e no “excessivo desenvolvimento económico potencialmente destruidor do ponto de vista ambiental”, como diz Grillo. Uma revolução que terá, portanto, um enorme impacto sobre a economia, sobre a redução das desigualdades e, naturalmente, sobre a sustentabilidade do próprio planeta.
É claro que tudo isto terá de ser submetido a voto na Plataforma Rousseau, havendo já quem critique o afunilamento decisional que se está a verificar por parte da elite dirigente, num movimento que, afinal, reivindica para si a necessidade de devolver “à totalidade dos cidadãos o papel de governo e de orientação normalmente atribuídos a poucos”. E a questão começa logo no papel do Comité Directivo que foi recentemente aprovado e que agora deve ser adaptado a uma nova liderança interpretada por Giuseppe Conte.
O M5S E A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
Há na filosofia do M5S um problema de fundo que não bate certo com a natureza da democracia representativa e com a dimensão universal das suas instituições políticas. Ou seja, segundo os estatutos, o mandato dos representantes eleitos nas listas do M5S é um mandato imperativo, vinculado às decisões do povo digital do M5S que se exprime concretamente na Plataforma Rousseau, o que contraria a própria constituição italiana: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, art. 67. Ou seja, nenhuma plataforma, partido ou poder pode condicionar a vontade de um membro do parlamento, pois o que ele, eleito, representa é a Nação, estando, pois, acima de qualquer interesse particular, individual, territorial ou sectorial. Mas não é assim, como se comprova pela imediata expulsão de deputados e senadores que, no Parlamento, votaram contra a moção de confiança ao governo de Draghi.
Depois, vem o problema da cidadania digital, entendida de forma substantiva. Que significa esta cidadania? Que a cada cidadão é concedida a possibilidade material de se exprimir e de agir de forma digital sem condicionamentos? Tem acesso livre e (pelo menos tendencialmente) gratuito não só aos meios adequados para exercer a cidadania digital, mas também às infraestruturas onde ocorre este exercício? Como intervém o Estado na materialização destas condições? Claro que a questão é muito vasta e vai desde a atribuição de uma identidade digital desde o nascimento e, depois, a partir da maioridade até ao desenvolvimento de um e-government com a integral disponibilidade digital da Administração Pública perante a cidadania. Sim, mas a questão do acesso é decisiva, indo desde a infraestruturação digital de todo o país em banda larga até à disponibilização dos instrumentos para o acesso digital, seja de plataformas seja de rede. Esta matéria tornou-se mais visível, um pouco por todo o lado, durante a pandemia em relação ao e-learning, uma vez que todas as famílias deveriam dispor de computadores e de rede para aceder ao e-learning, sob pena de se verificar um atropelo ao direito ao acesso gratuito à educação, provocando novas desigualdades. Desigualdades digitais materiais, para não falar da própria iliteracia digital. É certo que, no início, aquando da sua entrada no governo, o M5S parece ter tentado resolver este problema concedendo tempo diário limitado de acesso gratuito à rede, o que não parece ser uma brilhante solução nem uma formulação correcta da questão da cidadania digital, neste aspecto. É que, nesta perspectiva, e tratando-se de um bem público, a sua resolução não poderia deixar de tomar em consideração o acesso público gratuito e permanente a todas as condições necessárias para um exercício pleno da cidadania digital, e não um exercício intermitente da cidadania. Digamos, rede em canal aberto permanente e meios de acesso. Seria isto possível ou o problema ficaria limitado à disponibilização de cobertura universal em banda larga, ficando a operacionalização individual totalmente cargo do cidadão digital? Como se sabe esta é uma questão que, precisamente a propósito do e-learning motivado pela COVID19, tem vindo a merecer a atenção da agenda pública. Uma questão, pois, de grande melindre, mas muito actual e premente, que deve merecer a devida atenção política, lá como cá.
CONCLUSÃO
Estas são questões de fundo com as quais o M5S tem se confrontar porque algumas delas entram em contradição directa com a natureza do regime de democracia representativa, até porque a pertença a instituições como o Parlamento as torna mais intensas, pondo mesmo directamente em causa as determinações estatutárias. Viu-se, como disse, na votação da moção de confiança ao governo Draghi e na desastrosa consequência estatutária da expulsão do Movimento de um número significativo de deputados e senadores que, por estatuto da República, não estão nem devem estar sujeitos a qualquer vínculo de mandato, enquanto forem intérpretes de uma democracia representativa. Mas, fosse qual fosse a crise já latente no M5S, com esta nova situação ela aprofundou-se e acabou por dar origem a uma espécie de refundação do Movimento, libertando-o das suas características mais radicais. Foi por isso que Di Maio, a propósito do governo Draghi, afirrmou:
«Questo governo rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione in cui i Cinque Stelle mantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una forza moderata, liberale, attenta alle imprese, ai diritti, e che incentra la sua missione sull’ecologia. Tutta la trattativa con il premier Draghi è stata fatta sul ministero per la Transizione. Questo per noi è un nuovo inizio».
Não são de somenos estas palavras usadas pelo antigo “Capo Politico”: força moderada e liberal. Se a posição de Di Maio vingar, a palavra liberal terá um peso político em toda a mecânica do Movimento, a começar pela relativização das funções de deliberação, decisão e legitimação do Eco-sistema Rousseau e, naturalmente, da reinvindicada democracia directa digital, pondo também o acento, no que concerne à cidadania digital, mais no e-government e no acesso à administração pública do que nos direitos digitais de cidadania activa do cidadão, ou seja, no assistencialismo digital. Aguardemos, pois, o documento de Giuseppe Conte para podermos compreender em que direcção o M5S se vai realmente mover.
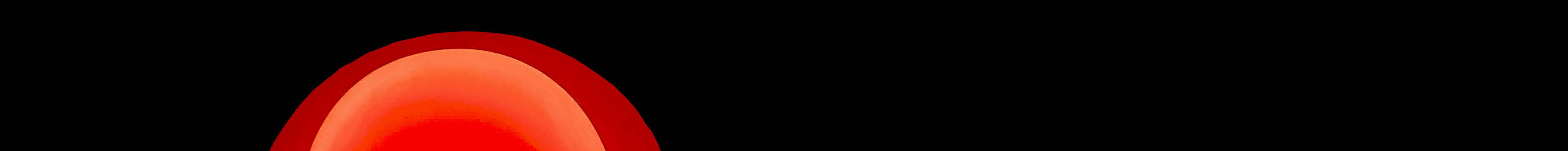
“O Contrato Digital”. Detalhe.
OS REVISIONISTAS E OS SEUS INIMIGOS
João de Almeida Santos
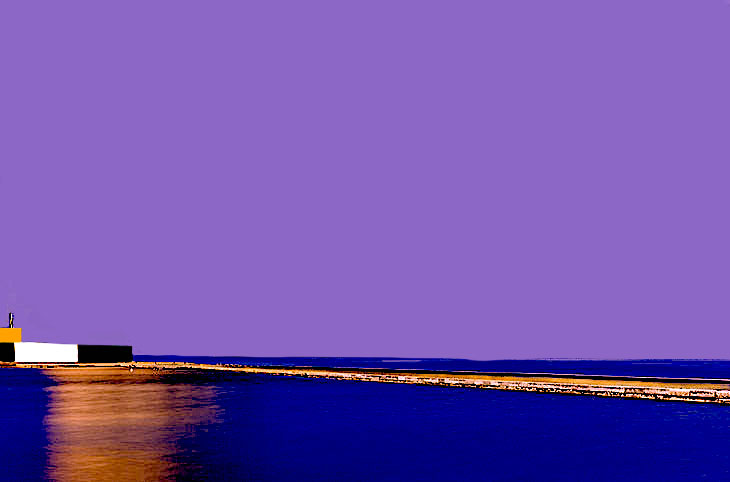
“Corte Epistemológico Pós-Colonial”. Jas. 02.2021.
ANDAM ESTRANHAS as agendas pública e política. Em tempo de pandemia, e apesar das enchentes diárias de notícias alarmistas e de desperdício informativo nos telejornais, no prime time, que não há algeroz que as escoe definitivamente, o que se vê, além disso, são temas sem interesse público digno de registo e folclore ideológico a ocuparem o topo da agenda. O imenso lamaçal do revisionismo histórico, levado às costas sobretudo pelos talibãs do politicamente correcto e pelos profissionais de causas fracturantes, num tempo em que a gravidade do presente dificulta o olhar sobre o futuro, mas no qual a política e a ideologia tablóide dão o melhor de si, propondo uma limpeza ético-política da nossa história que nem em D. Afonso Henriques acabará, não dará bons resultados se não fizermos, nós, a cidadania, uma inversão de marcha.
O QUE SE VÊ
VÊ-SE O DEBATE INFLAMADO sobre heróis da guerra colonial, falando de uns (fracturantes) e esquecendo outros (não fracturantes), trazendo ao topo da agenda o tema do ódio racial – mate-se o homem branco colonialista, assassino e racista que existe em cada um de nós, desde tempos imemoriais -, num país que convivia tranquilo com o bom e o mau da sua história passada e que já estava a confiar os juízos sobre o passado aos historiadores, em espelho mais ou menos fiel e desapaixonado, onde cada um de nós serenamente poderá sempre rever o nosso passado colectivo. Vê-se pretensos académicos a catarem academicamente o racismo nas obras-primas da literatura portuguesa de há dois séculos (onde se vislumbra “uma descomunal admiração pela brancura” ou crises “de melancolia negra”) e outros que, inadvertidamente (por enquanto), mas por imperativo de coerência lógica, acabarão por mandar derrubar esse pecaminoso (mas não por causa do Canto IX) cântico aos descobrimentos que tem por nome “Os Lusíadas”, esses colonialistas. Vê-se gente a considerar o colonialismo mais mortífero do que o antissemitismo germânico, numa lúgubre contagem de milhões de mortos com a lente da doutrina pós-colonial, quando a querer fazer contagens bem podia mais facilmente somar as vítimas das duas grandes guerras e constatar que só aí houve (na Europa, do Atlântico aos Urais) mais de 60 milhões de mortos, pondo, assim, o holocausto no devido lugar, em vez de desta forma o branquear, ainda por cima invocando vizinhança académica com a Vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Vê-se gente que quanto mais fala de colonialismo menos informação nos dá sobre a actual cartografia política descolonizada de África ou da América Latina de hoje. Vê-se gente a questionar se os portugueses foram vítimas ou cúmplices da polícia política do regime do Estado Novo, sem cuidar de não generalizar, logo no título, que indicia uma imensa ignorância e simplismo -, desrespeitando os tantos que activamente ou em silêncio sofrido execraram este regime e, em geral, a generalidade dos portugueses. Vê-se gente – que ainda por cima representa a Nação – a clamar por um corte epistemológico que não teria acontecido, com sangue e mortos, mas que, na verdade, aconteceu, e da melhor maneira possível, ao passarmos de uma ditadura para um regime livre e democrático e para o fim da guerra colonial. Vê-se gente a clamar pela destruição de monumentos históricos em nome da sua visão clínica da história e da sua epistemologia caseira, até que numa progressão lógica acabe por abjurar “Os Lusiadas”, qual cântico ao pecado original que estaria na origem do colonialismo. Vê-se gente a usar o ofício de jornalista para promover e publicar aterradoras agendas doutrinárias inquisitoriais mais próprias de um procurador-geral ao estilo de Vichinsky e de uma visão policial da linguagem publicamente expressa do que de um jornalismo são, imparcial, objectivo e neutral, que deixa que seja o cidadão a avaliar a informação e não a encharcá-lo com idiossincrasias e agendas militantes pouco jornalísticas, fazendo da profissão um autêntico púlpito militante de causas idiossincráticas.
POLÍTICA
MAS VÊ-SE MAIS. Vê-se a repetição da saga das freguesias com teimosos protagonistas a quererem repor o que, com enorme esforço e respeitando as regras da democracia, foi alterado há anos, esquecendo que o verdadeiro problema são os concelhos a mais (há-os com menos de 3 mil eleitores), as competências das freguesias a menos e, sobretudo, a desorganização político-administrativa do país com distritos que na prática já não existem (sobrepostos ainda às CIMs) ou com CCDRs a substituírem as regiões com legitimidade mitigada por um esquisito processo eleitoral ou, ainda, com um ordenamento jurídico do sistema de governo local hoje totalmente inadequado e até nocivo. Vê-se a tentativa, um pouco às escondidas, de liquidar por via legislativa os movimentos autárquicos não partidários depois da sua forte afirmação política nas últimas eleições. Vê-se isto e também se vê telejornais e jornais a promoveram agendamentos absurdos ao mesmo tempo que gritam impropérios contra as redes sociais, acusando-as de fazerem o mesmo que eles há muito andam a fazer… e agora cada vez mais. Vê-se um ministro a fazer de Thomas Morus da Locomoção, desenhando futuros mais do fruto da sua imaginação do que da realidade em vez de anunciar medidas para resolver os problemas ambientais do momento.
Vê-se tudo isto e apetece dar combate, não perdendo tempo a refutar a estupidez e a alarvidade intelectual, mas sim, a fazer propostas que sirvam ao País. O que pode, à escala individual, ser feito de muitas maneiras, mas não para impor temas e soluções que realmente só servem para pôr na agenda pública os seus autores – servindo meros interesses pessoais -, ainda que pelas piores razões.
QUE FAZER?
ESTA SITUAÇÃO É PREOCUPANTE pelas reacções que suscita no plano político, porque traz para a boca de cena temas onde a extrema-direita se sente mais à vontade para se afirmar politicamente, para expor e defender a sua narrativa, explorando o sentimento de cansaço e de irritação das pessoas perante tanta falta de bom senso ou até de perigosa deriva pelo domínio público e até já institucional das agendas fracturantes e do radicalismo ideológico e linguístico sobre a sociedade. Como se sabe, os extremos atraem-se e a lógica de confronto destes extremos é a lógica amigo-inimigo, a lógica da guerra e da aniquilação do adversário, seja física ou seja mental ou psicológica. Poder-se-ia dizer que o melhor é deixá-los a falar sozinhos, porque assim não se corre o risco de amplificar as suas lamentáveis vozes. Infelizmente não é assim. E não é assim, porque os meios de comunicação, na sua ânsia de alargar as audiências, albergam tudo o que possa ser, de um modo ou do outro, fracturante e negativo. Não é, pois, possível, não ir à luta para impedir que o radicalismo alastre e se torne mesmo perigoso, acabando por animar soluções que não são amigas da democracia. E um dos modos de agir consiste em interpelar, por exemplo, através das redes sociais, os media, convidando-os a que desempenhem a sua função com dignidade, respeitando os códigos éticos que eles próprios adoptaram ou os que foram adoptados por instituições supranacionais, como por exemplo o Conselho da Europa, na sua resolução 1003, de 1993, sobre a Ética do Jornalismo. Os media ainda continuam a ter, de facto, capacidade de influenciar, directa ou indirectamente, quer a agenda pública quer a agenda política. Pois bem, que informem e publiquem no quadro de pelo menos três dos princípios fundamentais dos principais códigos éticos, existentes desde o fim do século XVII: a imparcialidade, a objectividade e a relevância. Combinados, estes três princípios promovem uma boa informação, uma boa agenda pública e uma boa agenda política. É por isso que, queiram ou não queiram os autores do artigo de autodefesa “Em defesa da democracia”, subscrevo e me associo aos promotores da “Carta aberta às televisões generalistas nacionais” que foi publicada pelo jornal “Público” na passada terça-feira, solicitando precisamente respeito pelos princípios éticos, de resto, constantes da quase totalidade dos inúmeros códigos éticos adoptados pelos media ou pelas instituições e organismos internacionais. Ao ler aquele artigo fiquei com a sensação de que nenhum dos seus subscritores, dirigentes da RTP, deve ter visto um telejornal do princípio até ao fim ou, se viu, fica claro, ao não reconhecer a evidência, que é inadequado para a função e para a missão de serviço público que lhe está confiada.
Mas eu, subscrevendo na íntegra o documento, iria mais longe criticamente: o tabloidismo galopante dos media – em particular o das televisões generalistas – é gravemente nocivo para a cidadania, não só porque não dá relevo ao que é verdadeiramente relevante, porque promove sobretudo o negativo e o disruptivo, ou seja, tudo aquilo que tem mais força de atracção do público. É por isso que, regularmente, leva ao topo da agenda temas que não respondem ao interesse dos cidadãos nem, em geral, ao do próprio país, provocando graves distorções na polarização da atenção social e inquinando a opinião pública. O que se vê com frequência é que os mesmos que atacam as redes sociais por albergarem desinformação e fake news promovem, eles próprios, agendas inaceitáveis que vão do catastrofismo, do alarmismo social e do culto do negativo até protagonistas e temáticas que na verdade não só não colam com a realidade como produzem efeitos de polarização da atenção social desviantes e prejudiciais para o que realmente interessa à cidadania. Os telejornais de prime time de todas (incluindo a pública) televisões generalistas têm feito mais pela promoção de depressão nacional do que pela boa informação e pela boa deliberação pública. E, não, essa história de que “good news, no news” não me convence, até porque não há razão plausível para que a informação só seja boa se for negativa. Por mais que isso custe aos “defensores da democracia” do confortável ambiente da RTP, televisão pública.
CONCLUSÃO
Não nos bastava a COVID19 e a tremenda crise económica que lhe está e estará associada. Não nos bastam os desafios que temos pela frente para responder com eficácia e inteligência a esta mudança epocal que está a acontecer nas nossas vidas e que toca todas as dimensões da existência individual e societária. Não nos bastava ter que responder aos desafios que vêem o establishment político entrar em grave crise perante o avanço de soluções, clássicas e novas, não democráticas um pouco por todo o mundo. Não, não nos bastava tudo isto. Isto, que requer muitos, intensos e inovadores recursos para responder aos desafios do presente e para construir o futuro à medida das nossas necessidades e das nossas ambições. Não, não bastava e, por isso, temos de dar palco às mais abstrusas intervenções de personagens de opereta que querem os seus cinco minutos de fama, exibindo-se vaidosamente no espaço público como se estivessem a prestar um enorme serviço às melhores causas da Humanidade. Até apetece dizer, como diz a voz popular: “Valha-me Deus!”. O que temo é que a invocação seja em vão. # Jas@2_2021
L’AMMUCCHIATA
PARA ONDE VAI A POLÍTICA ITALIANA?
Por João de Almeida Santos
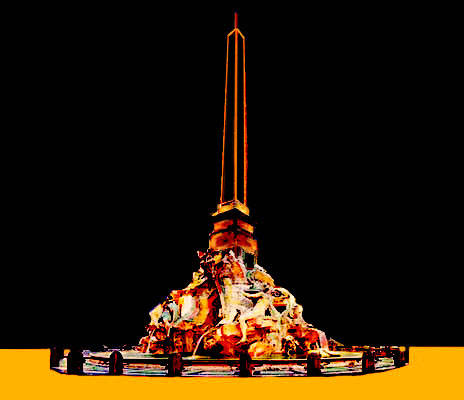
“Itália”, apud Bernini. Jas. 02-2021.
QUANDO VI A COMPOSIÇÃO POLÍTICA do novo governo italiano, chefiado por Mario Draghi, que tomou posse no passado Sábado, veio-me uma palavra italiana à mente: “Ammucchiata”. Ou seja, “caldeirão”, um imenso caldeirão onde cabe tudo… e fé em Deus. “Ciao”, centro-esquerda. “Arrivederci”. Agora, todos dentro e todos fora. Excepto Fratelli d’Italia (FdI), da senhora Giorgia Meloni (e alguns senadores e deputados das forças políticas que apoiam o governo Draghi). Que capitalizará, seguramente, consensos, a partir da oposição. Draghi está em alta na opinião pública italiana. E não é caso para menos, visto o seu desempenho no BCE. Por isso, conseguiu um suporte político muito amplo. E a Lega, de Salvini, e o Forza Italia, de Berlusconi, até conseguiram três Ministros cada, menos um que o Movimento5Stelle (M5S) que nas eleições legislativas de 2018 teve quase o dobro da Lega (32,7% contra 17,4”) e mais do dobro de Forza Italia (FI, 14%). Isto diz tudo. Qual Manual Cencelli,qual quê? O velho manual, que de acordo com as percentagens eleitorais atribuía cargos, calculados ao milímetro, não foi aplicado nem aos resultados eleitorais de 2018 nem à média das actuais sondagens, que invertem por completo a situação. Bem sei que é um governo que nasceu, por indicação do Presidente, fora das tradicionais fórmulas políticas (ou para usar a expressão de Draghi no seu Discurso ao Senado: um “apoio que não resulta de alquimias políticas”) , mas a verdade é que sistema de partidos saiu menorizado deste processo, na medida em que a legitimidade eleitoral não foi tomada na devida conta. A política entrou, sim, mas ficou em segunda fila. E, além disso, com a legitimidade eleitoral de certo modo suspensa. A figura cintilante de Draghi funcionou como um repentino clarão que encandeou, levando-os aparentemente fora de pista. Mas já começam a recuperar… E a criação (ontem) do “Intergruppo” M5S/PD/LeU, com o alto patrocínio de Giuseppe Conte, no Senado é já sinal claro disso, um reagrupamento político e programático do centro esquerda, para não falar de Salvini que já veio dizer que o euro não é irreversível, o que viria a merecer uma clara posição de Draghi no discurso ao Senado: “Sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro”.
A COMPOSIÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO
O QUE SE VIU foi, todavia, uma distribuição de “poltrone” por partidos (15, as que sobraram das 23, sendo oito, as mais importantes, ocupadas por técnicos, escolhidos por Draghi sem qualquer preocupação de representação política), mas que não respeitou minimamente a expressão eleitoral. Mesmo tratando-se de uma segunda fila. Apesar disso, todos (menos um, FdI) os partidos aceitaram aprovar a equipa ministerial em sede parlamentar. Uns, com receio de ir a votos; outros, com a lógica do entrismo: colocar-se em pole position para a próxima corrida eleitoral. Todos dentro, todos fora, sim. A política italiana no seu melhor. Uma verdadeira união nacional chefiada por um não político, um banqueiro de dimensão europeia. Uma velha tradição que começou com Carlo Azeglio Ciampi, em 1993, ainda Berlusconi estava a preparar a entrada em cena de Forza Italia. Mas como alguém dizia: agora não é para promover austeridade, mas sim para distribuir um valor financeiro (cerca de 209 mil milhões de euros: 82 mil milhões em subsídios e 127 mil milhões em empréstimos) muito superior ao que Alcide de Gasperi teve por ocasião do Plano Marshall, no imediato pós-guerra. Só para ficarmos com uma ideia mais clara: nesta operação, Itália encaixa um valor superior (aos preços de hoje) ao valor global do Plano Marshall para toda a Europa, que na altura foi de cerca de 13/14 mil milhões de dólares. Receberá 28% do total do Recovery Fund (RF), a maior soma atribuída a um país da União. Mas nem mesmo isto pacificou o M5S. E as consequências foram imediatas: a votação na Plataforma Rousseau foi de cerca de 60% a favor e de cerca de 40% contra; e, depois da formação do governo, uma fronda de militantes, deputados e senadores que não aceitaram a menorização da força que ainda é maioritária no Parlamento, o perfil do Ministério da transição ecológica, a entrada da Liga no governo e a presença de ministros berlusconianos politicamente comprometidos. E, por isso, reivindicaram, sem sucesso, uma nova votação na Plataforma Rousseau (a plataforma digital onde os militantes do M5S deliberam) sobre a confiança ao governo. A fronda envolveu uma parte consistente do M5S e pode indiciar uma eventual ruptura no Movimento, onde Beppe Grillo já deixou de ter o poder que antes tinha. De resto, nas últimas sondagens, o M5S já viu descer o seu score eleitoral para cerca de 14.8% ( a média é de oito sondagens realizadas em Janeiro e Fevereiro). Uma queda brutal desde as eleições legislativas de 4 de março de 2018.
RENZI, "IL ROTTAMATORE"
Belo, muito belo o trabalho de Matteo Renzi, o ex-líder do Partido Democrático e ex-Primeiro-Ministro. A este jovem irrequieto, conhecido como o “Il Rottamatore”, que fez cair Conte, se deve o fim do governo de centro-esquerda. Bravíssimo a dar tiros nos pés da esquerda: primeiro, com a política da “rottamazione” da velha classe dirigente do PD proveniente do PCI e da DC (mandá-la para a sucata); depois, com a fracassada tentativa de rever a constituição, que lhe custou a liderança do governo; outra vez, com a saída do PD; e, finalmente, com a formação de um pequeno partido pessoal, Italia Viva, que vale hoje cerca de três por cento. Agora, com a queda do governo Conte II, de centro-esquerda.
Estamos, pois, perante um governo de transição que poderá ser breve. As eleições serão em 2023 (são de 5 em cinco anos), mas o novo cenário poderá vir a ser a eleição de Mario Draghi como Presidente da República logo no início de 2022, quando termina o mandato de Sergio Mattarella. Teríamos, depois, eleições e talvez um governo de extrema-direita, que neste momento (segundo as sondagens) já tem os números suficientes para isso (Lega+FdI+FI = 47%) e a legitimidade reforçada pela entrada no governo Draghi (de unidade nacional). A eventual perda de votos dos descontentes poderia ser compensada por uma subida de Fratelli d’Italia, único partido na oposição e com as mãos livres. Um partido que, em pouco tempo, passou do seu habitual score eleitoral de 4/5% (4,3%, nas legislativas de 2018) para 16,27% nas últimas sondagens (média de 8 sondagens realizadas entre Janeiro e Fevereiro).
Ao ver o que se está a passar, e não obstante a crise sanitária, a crise económica e a chegada do Recovery Fund (RF), factores a ter realmente em conta, fica-se com a sensação de que o sistema de partidos está em grave perda. Draghi fica à prova num desafio difícil, sobretudo na frente sanitária e na frente económica e do emprego . E se, no arco de um ano, se impuser, com a sua equipa especial de oito ministros, aos partidos políticos está criado o ambiente para uma fase de ulterior irrelevância da política tradicional e sobretudo do sistema de partidos. Estamos, pois, perante um momento politicamente muito delicado, mas de onde emergem algumas certezas.
UM SEMICESARISMO DEMOCRÁTICO
Assim, também em Itália se completa uma crise que indicia a clara degenerescência dos sistemas de partidos e de uma certa forma de fazer política. A extrema fragmentação do sistema de partidos, sua consequência, ainda piora as coisas. Mas esta fragmentação é o que tem vindo a acontecer por essa Europa fora, em razão da crise da representação e da crescente divergência entre a eficácia e a legitimidade da governação e a natureza da nova cidadania. Uma divergência que tem vindo a acentuar-se devido, por um lado, à endogamia partidária e, por outro, a uma mudança profunda na identidade da cidadania, hoje com instrumentos de informação e de auto-organização muito poderosos e eficazes. E a solução encontrada em Itália parece confirmar a incapacidade de os partidos políticos assumirem as responsabilidades precisamente num momento de crise tão grave como este. Bom, mas sabemos que é precisamente nestes momentos de crise que tradicionalmente surgem as soluções cesarísticas, tal como foi também em período de crise ou de anomia que os romanos inventaram a ditadura boa, um período curto e de poderes excepcionais a um ditador para resolução da anomia, sem alteração da ordem constitucional. “Il dittatore benevolo” de que, glosando o título do livro de Jean-Paul Fitoussi, de 2003, falava Gad Lerner no artigo do passado Domingo em “Il Fatto Quotidiano”? É precisamente nisso que penso quando vejo tanta unanimidade em torno do Super Mario, a quem foi confiada a autonomia para nomear livremente (isto é, sem preocupações de pertença política) oito dos vinte e três ministros. Mas não, não creio que a verdadeira novidade a ser evidenciada seja Draghi e as suas qualidades (que as tem). A novidade está neste semicesarismo “benevolo” que parece ter sido adoptado, uma hiperpersonalização do sistema político: de um lado, um Hiperpresidente (do Conselho), do outro lado, um hiperconsenso. E, no centro, duas gravíssimas crises, sanitária e económico-finaceira, que serão combatidas pelo Hiperpresidente e seus comissários com a potentíssima arma do Recovery Fund. Entre o Hiperpresidente e o hiperconsenso fica, pois, um imenso terreno de culto onde irromperá, por um lado, uma aguerrida corrida aos fundos e, por ouro lado, a perfídia palaciana e a propaganda pública com vista às próximas eleições legislativas, onde, de resto, uma das variáveis poderá ser precisamente a da chegada de Draghi, em 2022, ao Quirinal.
CONCLUSÃO
Em boa verdade, este governo, apesar das pastas da transição ecológica (a que, por exigência da UE, serão destinados pelo menos 37% do RF) e da inovação tecnológica e transição digital (que terá, pelo menos, 20% do RF), tem três missões fundamentais: a de resolver a crise sanitária e a crise económico-financeira e a de aplicar os fundos do Recovery Fund. Um governo, pois, de missão difícil e delicada, mas limitada, pese embora a declaração de Draghi sobre as três reformas prioritárias, declaradas no seu discurso: administração pública, justiça e política fiscal. De resto, os anos decisivos serão precisamente os de 2021 e 2022, a que deverá corresponder, creio, a aplicação de cerca de 70% dos fundos. E por isso o que neste momento se passa em Itália deverá ser visto com olhar posto em 2022 e em futuras eleições legislativas. Ninguém (excepto Giorgia Meloni) quis ficar de fora num período que vai ter um financiamento muito superior ao que foi o Plano Marshall para Itália e até superior ao que foi destinado a toda a Europa. É muito dinheiro em jogo. E estar no governo significa participar nas decisões e ter acesso directo a quem vai gerir mais directamente todo este dinheiro. Mas ao mesmo tempo significa estar fora para afirmar publicamente a sua própria visão política. Ética da responsabilidade no governo, ética da convicção cá fora. Todos dentro para gerir o Recovery Fund; todos fora para preparar a próxima competição eleitoral. De resto, se Draghi se comportar bem até já existe uma compensação, a Presidência da República, em eleição por colégio eleitoral, composto maioritariamente pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E se as tendências eleitorais se mantiverem será Presidente num mandato governativo de extrema-direita. A súbita conversão europeia, embora já com o ziguezague do euro (prontamente recusado por Draghi), de Salvini é isso mesmo que já indicia. Dove vai, Italia mia?* 19.02.2021 –
19.02.2021 - NOTA DE ACTUALIZAÇÃO DEPOIS DO VOTO NO SENADO E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
“L’AMMUCCHIATA”
COMO SE PREVIA, o governo Draghi passou no Senado. Aqui, e como previsto, “Fratelli d’Italia” votou contra em bloco e houve 15 Senadores do “Movimento5Stelle” (M5S) que votaram contra e mais alguns (8) que não responderam à chamada, tendo sido contabilizados como ausentes. Draghi não conseguiu assim atingir a votação de Monti em 2011, porque se ficou pelos 262 Senadores, tendo registado 40 votos contra e 2 abstenções. Monti tivera 281 (o CdS diz 285) votos (e só 25 votos contra). O total dos Senadores é 315, tendo votado 304. Começa, assim, a esboroar-se a unanimidade inicial. Note-se que, ao princípio, estava previsto que Fratelli d’Italia se iria abster.
Na votação da Câmara dos Deputados o Governo passou com 535 votos (em 630), 56 contra e 5 abstenções, tendo também aqui ficado aquém do resultado obtido por Monti (556 votos). Em relação ao M5S: 16 votos contra, 4 abstenções e 12 ausências – num total de 32 deputados que não deram o seu apoio ao governo. Repete-se o cenário do Senado. Entretanto, foram já expulsos do Movimento os 15 Senadores do M5S que votaram contra; e expulsos do Grupo Parlamentar na Câmara dos Deputados 21 Deputados, pela mesma razão.
Ou seja, haverá dois grupos parlamentares (na Câmara dos Deputados e no Senado) na oposição: os dois grupos saídos do M5S e os dois grupos do Fratelli d’Italia. De algum modo, é possível dizer que a quase unanimidade inicial, quando o nome de Mario Draghi foi anunciado, se tem vindo progressivamente a esboroar. O que virá, pois, a seguir? O próprio “Intergruppo”, constituído há três dias, já está a ser posto em causa. Três deputados da Lega passaram-se para Fratelli d’Italia.
Mesmo assim, a situação de emergência que Itália vive garante a Mario Draghi cerca de 90% de apoio parlamentar (ambas as Câmaras).
Eu creio que Draghi fará uma gestão prudente da sua governação até à eleição do Presidente da República no início de 2022 de modo a manter compacta a unidade das forças que apoiam o seu governo. Não parece ser muito difícil imaginar que uma sua candidatura poderá vir a conseguir concretizar os mesmos apoios de que ontem passou a dispor. À direita, convirá a sua candidatura, na esperança de ter eleições a curto prazo. O centro-esquerda dificilmente poderá negar-lhe o apoio.
O que será conveniente é que a gestão não seja tão prudente que acabe por fazer o que ele próprio condenou no seu Discurso ao Senado: “Il tempo del potere può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo”.
O certo é que o seu programa é mais do que um programa para a legislatura. Os desafios enunciados são muitos – e no centro dos desafios estratégicos está a questão do clima -, para além do delicado problema da pandemia e dos efeitos que teve e está a ter sobre a economia, sobre o emprego (os despedimentos estão por enquanto bloqueados) e sobre todos os processos que estavam em velocidade de cruzeiro antes da pandemia, que estão a sofrer atrasos consideráveis e para os quais é preciso proceder a um urgente “smaltimento dell’arretrato accumulato”, como disse. Quanto ao Recovery Fund, o PNRR, manterá o desenho estratégico formulado pelo governo Conte:
“l’innovazione, la digitalizzazione, la competitività e la cultura; la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile; la formazione e la ricerca; l’equità sociale, di genere, generazionale e territoriale; la salute e la relativa filiera produtiva”.
A dimensão estratégica do programa será reforçada,
“in particolare con riguardo agli obiettivi riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’inquinamento dell’aria e delle acque, la rete ferroviaria veloce, le reti di distribuzione dell’energia per i veicoli a propulsione elettrica, la produzione e distribuzione di idrogeno, la digitalizzazione, la banda larga e le reti di comunicazione 5G”.
No essencial, a questão do ambiente. Aspecto também importante do programa será o impulso a dar à promoção do emprego, além da reforma fiscal, da justiça e da administração pública. Fundamentais, como já disse, é a transição ecológica, com o olhar posto em 2050 e na meta da União de chegar à emissão zero de CO2 e de gases que alteram o clima, a inovação tecnológica e a transição digital. Como ele próprio disse: “Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta”.
Testo in italiano
L’AMMUCCHIATA
Dove va la politica italiana?
Di João de Almeida Santos
QUANDO HO VISTO LA COMPOSIZIONE POLITICA del nuovo governo italiano, guidato da Mario Draghi, insediato sabato scorso, mi è venuta in mente una parola italiana: “Ammucchiata”. In altre parole: “calderone”, un enorme calderone dove c’è di tutto … e fede in Dio. “Ciao”, centro-sinistra. “Arrivederci”. Ora, tutti dentro e tutti fuori. Tranne Fratelli d’Italia (FdI), della signora Giorgia Meloni (e di alcuni senatori e deputati delle forze politiche che sostengono il governo Draghi). Che, all’opposizione, potrà capitalizzare sicuramente i consensi. Draghi è in ascesa nell’opinione pubblica italiana. E non è cosa da poco, vista la sua performance alla BCE. Quindi ha ottenuto un ampio sostegno politico. E la Lega, di Salvini, e Forza Italia, di Berlusconi, hanno ottenuto addirittura tre Ministri ciascuna, meno uno del Movimento5Stelle (M5S), che alle elezioni politiche del 2018 aveva quasi il doppio della Lega (32,7% contro 17,4%) e più del doppio di Forza Italia (FI, 14%). Tutto qui. Buttato via il Manuale Cencelli. Il vecchio manuale, che secondo le percentuali elettorali venivano assegnate le poltrone, calcolate al millimetro, non è stato applicato né ai risultati elettorali del 2018 né alla media dei sondaggi attuali, che ribaltano completamente la situazione. So bene che si tratta di un governo che non nasce, su indicazione del Presidente, da formule politiche tradizionali (o, per usare l’espressione di Draghi nel Discorso al Senato: “un sostegno che non poggia su alchimie politiche”), ma è pur vero che il sistema dei partiti ne è uscito indebolito, perché non è stata rispettata la legittimità elettorale nelle dovute proporzioni. La politica è comparsa, ma in seconda fila. E, inoltre, con la legittimità elettorale in qualche modo sospesa. La figura scintillante di Draghi agì come un lampo improvviso che abbagliò tutti, portandoli apparentemente fuori strada. Ma stanno già cominciando a riprendersi. La creazione (ieri) dell ‘“Intergruppo” M5S / PD / LeU, con l’alto patrocinio di Giuseppe Conte, in Senato ne è già un segno evidente, un raggruppamento politico e programmatico del centro-sinistra. Per non riferire le parole di Salvini dicendo che l’euro non è irreversibile, ciò che ha meritato una posizione di netto rifiuto da Draghi nel suo discorso di oggi al Senato: “Sostenere questo Governo significa condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro “.
LA COMPOSIZIONE POLITICA DEL GOVERNO
QUELLO CHE ABBIAMO VISTO, invece, è stata una distribuzione di poltrone ai partiti (15, quelle rimaste su 23, otto delle quali, le più importanti, occupate da tecnici, scelti da Draghi senza alcuna preoccupazione di rappresentanza politica), ma che non ha preso in considerazione l’espressione elettorale, “l’alchimia politica”, si direbbe. Anche se riguarda una seconda fila. Nonostante ciò, tutti i partiti (tranne uno, FdI) hanno deciso di approvare la squadra ministeriale in sede parlamentare. Alcuni perché hanno avuto paura di andare a elezioni; altri, con la logica dell’entrismo: mettersi in pole position per la prossima competizione elettorale. Tutto dentro, tutto fuori, sì. La politica italiana al suo meglio. Una vera unione nazionale guidata da un non-politico, un banchiere di dimensione europea. Una vecchia tradizione iniziata con Carlo Azeglio Ciampi, nel 1993, ancora Berlusconi preparava la scesa in campo di Forza Italia. Ma come qualcuno ha detto: ora non si tratta di promuovere l’austerità, ma di distribuire un valore finanziario (circa 209 miliardi di euro: 82 miliardi di sussidi e 127 miliardi di prestiti) molto superiore a quello che Alcide de Gasperi aveva in occasione del Piano Marshall, nell’immediato dopoguerra. Tanto per avere un’idea più chiara: in questa operazione l’Italia riceve un valore superiore (ai prezzi odierni) al valore globale del Piano Marshall per l’intera Europa, che all’epoca era di circa 13/14 miliardi di dollari. Riceverà il 28% del totale del Recovery Fund (RF), la somma più alta attribuita ad un paese dell’Unione. Ma neanche questo ha pacificato il M5S. E le conseguenze sono state immediate: il voto sulla piattaforma Rousseau è stato di circa il 60% per il sostegno al governo e circa il 40% contro; e, dopo la formazione del governo, una fronda di militanti, deputati e senatori che non hanno accettato la subalternità di uma forza che è ancora maggioritaria in Parlamento, il profilo del ministero della transizione ecologica, l’ingresso della Lega nel governo e la presenza di ministri berlusconiani politicamente impegnati. E così hanno chiesto, senza successo, un nuovo voto sulla piattaforma Rousseau (la piattaforma digitale su cui deliberano gli attivisti del M5S) sulla fiducia al governo. La fronda ha coinvolto una parte consistente del M5S e potrebbe indicare una possibile rottura del Movimento, dove Beppe Grillo non ha più il potere che aveva una volta. Inoltre, negli ultimi sondaggi, il M5S ha visto il suo score elettorale scendere al 14,8% (la media di otto sondaggi condotti a gennaio e febbraio). Un calo brutale dalle elezioni legislative del 4 marzo 2018.
RENZI, "IL ROTTAMATORE"
Bella, bellissima l’opera di Matteo Renzi, l’ex leader del Pd e ex-Presidente del Consiglio. A questo quarantenne (ne ha 46), detto “Il Rottamatore”, si deve la fine del governo di centro-sinistra. Bravissimo a dare la zappa sui piedi della sinistra: primo, con la politica di “rottamazione” della vecchia classe dirigente del PD originaria dal PCI e dalla DC; poi, con il fallito tentativo di revisione della costituzione, che gli è costato la leadership del governo; ancora, con l’uscita dal PD; e, infine, con la formazione di un piccolo partito personale, Italia Viva, che oggi vale circa il tre per cento. E, adesso, come detto, con la caduta del governo Conte II, di centro-sinistra. Siamo quindi di fronte ad un governo di transizione che potrebbe essere breve. Le elezioni si terranno nel 2023 (sono ogni cinque anni), ma il nuovo scenario potrebbe essere l’elezione di Mario Draghi a Presidente della Repubblica all’inizio del 2022, quando scadrà il mandato di Sergio Mattarella. Avremmo, in questo caso, quindi le elezioni e forse un governo di estrema-destra, che al momento (secondo i sondaggi) ha già numeri sufficienti (Lega + FdI + FI = 47%) e la legittimità rinforzata dall’ingresso nel governo Draghi (di unità nazionale). L’eventuale perdita di voti degli scontenti potrebbe essere compensata da una crescita di Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione e libero da vincoli. Un partito che è passato dal consueto score elettorale del 4/5% (4,3%, nelle legislature del 2018) al 16,27% negli ultimi sondaggi (media di 8 sondaggi svoltosi tra gennaio e febbraio).
Guardando cosa sta succedendo, e nonostante la crisi sanitaria, la crisi economica e l’arrivo del Recovery Fund (RF), fattori da tenere davvero in considerazione, si ha la sensazione che il sistema partitico sia in grave perdita. Draghi è messo alla prova in una sfida difficile, soprattutto sul fronte sanitario e sul fronte economico e occupazionale. E se, entro un anno, si impone, con la sua squadra speciale di otto ministri, ai partiti, si crea l’ambiente per una fase di ulteriore irrilevanza della politica tradizionale e soprattutto del sistema partitico. Siamo, dunque, di fronte a un momento politicamente molto delicato, ma dal quale emergono certe certezze.
UN SEMICESARISMO DEMOCRATICO
Così, anche in Italia avviene una crisi dei sistemi partitici e rispettiva prassi politica. L’estrema frammentazione del sistema partitico, conseguenza di suddetta crisi, peggiora le cose. Ma questa frammentazione sta accadendo in tutta Europa, a causa della crisi della rappresentanza e della crescente divergenza tra l’efficacia e la legittimità della governance e la natura della nuova cittadinanza. Una divergenza che si è accentuata a causa, da un lato, dell’endogamia partitica e, dall’altro, di una profonda mutazione dell’identità della cittadinanza, oggi con strumenti di informazione e auto-organizzazione molto potenti ed efficaci. E la soluzione trovata in Italia sembra confermare l’incapacità dei partiti politici di assumersi le proprie responsabilità proprio in un momento di crisi così grave. Ebbene, ma sappiamo che è proprio in questi momenti di crisi che tradizionalmente emergono soluzioni cesaristiche, così come fu anche in un periodo di crisi o anomia che i romani inventarono la dittatura buona, un periodo breve e un dittatore con poteri eccezionali per risolvere l’anomia, senza modificare l’ordine costituzionale. “Il dittatore benevolo” di cui, glossando il titolo del libro di Jean-Paul Fitoussi, del 2003, Gad Lerner ha parlato nell’articolo di domenica scorsa su “Il Fatto Quotidiano”? Proprio a questo penso quando vedo tanta unanimità attorno a Super Mario, a cui è stato affidato il compito di nominare liberamente (cioè senza preoccupazioni di appartenenza politica) otto dei ventitré ministri. E invece no, non credo che la vera novità da sottolineare sia Draghi e le sue qualità (che ne possiede). La novità risiede in questo semicesarismo “benevolo” che sembra essere stato adottato, un’iperpersonalizzazione del sistema politico: da un lato, un Iperpresidente (del Consiglio), dall’altro, un iperconsenso. E, al centro, due crisi gravissime, sanitaria ed economico-finanziaria, che saranno combattute dall’Iperpresidente e dai suoi commissari con la potentissima arma del Recovery Fund. Tra l’Iperpresidente e l’iperconsenso c’è dunque un immenso territorio dove, da un lato, partirà una dura corsa ai fondi e, dall’altro, la perfidia del palazzo e la propaganda pubblica in vista delle prossime elezioni politiche, dove, peraltro, una delle variabili potrebbe essere proprio l’arrivo di Draghi, nel 2022, al Quirinale.
CONCLUSIONE
Infatti, questo governo, nonostante i portafogli della transizione ecologica (a cui, su richiesta dell’UE, verrà assegnato almeno il 37% del RF) e dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale (che avrà almeno il 20% del RF) , ha tre missioni fondamentali: quella di risolvere la crisi sanitaria e la crisi economico-finanziaria e quella di applicare i fondi del Recovery Fund. Un governo, quindi, con una missione difficile e delicata, ma limitata, nonostante la dichiarazione di Draghi sulle tre riforme prioritarie, dichiarate nel suo intervento: pubblica amministrazione, giustizia e politica fiscale. Inoltre, gli anni decisivi saranno proprio quelli del 2021 e del 2022, nei quali dovrebbe, credo, occorrere l’applicazione di circa il 70% dei fondi. Ecco perché quello che sta accadendo in Italia in questo momento dovrebbe essere visto guardando al 2022 e alle future elezioni politiche. Nessuno (tranne Giorgia Meloni) ha voluto essere escluso in un periodo che avrà un finanziamento molto più alto di quello del Piano Marshall per l’Italia e addirittura superiore a quanto fu globalmente destinato a tutta l’Europa. Sono in gioco molti soldi. Ed essere al governo significa partecipare alle decisioni e avere accesso diretto a coloro che gestiranno direttamente tutti questi soldi. Ma allo stesso tempo significa voler affermare pubblicamente la propria visione politica. Etica della responsabilità nel governo, etica della convinzione davanti agli elettori. Tutti all’interno per gestire il Recovery Fund; tutti fuori per prepararsi per la prossima gara elettorale. Inoltre, se Draghi si comporterà bene, c’è già un premio: la Presidenza della Repubblica (eletta da un collegio elettorale, composto soprattutto dal Senato e dalla Camera dei Deputati). E, se le tendenze elettorali si manterranno, sarà Presidente in un mandato governativo di estrema-destra. L’improvvisa conversione europea di Salvini, seppur con lo zig zag dell’euro (prontamente rifiutato da Draghi), indica proprio che è a questo che già sta pensando, a breve termine. Dove vai, Italia mia?

“Itália”. Detalhe.
A POLÍTICA TABLÓIDE
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 2021.
NORMALMENTE, A CATEGORIA “TABLÓIDE” aplica-se ao universo da comunicação mediática. O nome tem a ver com o formato dos jornais e com o tipo de imprensa que antes se designava por imprensa amarela, já nos finais do século XIX, nos Estados Unidos. Imprensa popular. Uma imprensa que sempre explorou o básico da natureza humana. Eu defino-a através de uma simples palavra: o negativo (embora nesta categoria caibam outras características, o dramático, o emocional, o íntimo, o sexo). A exploração do negativo em todas as suas variantes, em todos os seus géneros. O objectivo é claro: atrair a atenção, aumentar a audiência e, naturalmente, vender publicidade para reforçar a autonomia financeira e ganhar poder junto dos consumidores. Comércio puro, lá onde um importante bem público desce à categoria de mera mercadoria. E, naturalmente, deste modo, ganhar influência junto do poder político, de forma cada vez mais intensa, numa espiral mercantil que se afasta cada vez mais dos códigos éticos de boa e antiga memória. À imprensa tablóide nada interessam os chamados códigos éticos ou a função social dos media. Nada interessam normas que já vêm do século XVII, desde o chamado Código Harris, de 1690, passando, depois, pelo da famosa Enciclopédia de Diderot e D’Alembert (1751-1772), e que haveriam de se consolidar naquele que é considerado o primeiro código, em 1910, o chamado Código de Kansas, expandindo-se, depois, numa multiplicidade de códigos, de que destaco, pela sua importância, a resolução 1003, de 1993, sobre a “Ética do jornalismo”, do Conselho da Europa. O que, no final do processo, interessa a esta imprensa é a dimensão da audiência nem que para isso faça do mexerico a única razão da sua existência e da sua actividade. Ainda por cima, a coberto da chamada liberdade de imprensa, da sagrada liberdade de imprensa, consignada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e na I Emenda da Constituição dos Estados Unidos, de 1791.
A Ideologia e o Culto do Negativo
EM BOA VERDADE, os géneros do tablóide são muitos. Tantos como os géneros informativos. E os mediaque os praticam podem ser divididos em dois tipos: os que são abertamente tablóides e o assumem e os que, praticando um tabloidismo mais sofisticado, o disfarçam, exibindo uma folha de serviços prestados à cidadania, normalmente denunciando os abusos de poder (e bem) e reivindicando até o poder de oposição ao poder democrático instalado e legitimidade para isso (e mal). Mas o verdadeiro problema começa quando a missão estratégica dos media se converte exclusivamente em informação sobre o negativo (desastres, corrupção, escândalos, etc.). Quando a ideologia do negativo se torna sistémica. Isto, num poder que já nos anos 30 do século XIX , em “Da Democracia na América”, Alexis de Tocqueville o considerava, além do poder soberano do povo, o primeiro poder. Um poder que, na sua matriz, acolheu espontaneamente a ideia liberal de liberdade: a liberdade negativa. O que nos inícios fazia sentido, perante o absolutismo e regimes censitários, com a liberdade cerceada pelo poder invasivo do Estado, mas que, hoje, já não se adequa às sociedades plenamente democráticas. Na história da imprensa esta concepção pode ser considerada dominante e, ainda mais, hoje, que alia a esta concepção da liberdade negativa o culto da categoria do negativo como princípio informativo dominante, ainda que seja por razões de audiência, de publicidade e de autofinanciamento, numa época em que o Estado se retirou da área da informação (e bem), enquanto proprietário. Ou seja, dois em um. O que torna os media, em particular a televisão, “príncipe dos media”, na expressão de Denis McQuail, uma espécie de justiceiros electrónicos ou digitais (em todos os géneros informativos) com a respectiva componente pública: o pelourinho electrónico. Ou seja, os media que, substituindo-se ao povo soberano, se assumem como o seu autêntico intérprete ou oráculo (“os espectadores gostariam de saber…”, dizem entrevistadores sem mandato) em aberto e permanente antagonismo ao poder político ao ponto de, paradoxalmente, se tornarem a outra face da moeda do poder. Até que, por fim, cheguem – já chegaram, mais uma vez – os apóstolos militantes da política tablóide que, esses sim, reivindicam mesmo o poder para o devolverem simbolicamente ao povo através da mediação do oráculo que, dirão, ouve directamente a sua voz. Bem sei, porque a frequento, que há boa imprensa (sobretudo imprensa escrita), mas a tendência mais frequente, transformando-se em tendência sistémica, é esta. O ambiente mediático português é um exemplo muito ilustrativo, em particular os telejornais em canal aberto.
Política Tablóide
ORA EU CREIO que, seja ou não o poder mediático a outra face da moeda do poder, irmão gémeo do poder político, também a política, talvez por clonagem, se tem vindo a tornar sobretudo política tablóide, como se vê pelo fenómeno populista em crescimento na Europa e por esse mundo fora. Também esta política se alimenta sobretudo (ou exclusivamente) do negativo, neste caso denunciando as elites dirigentes, os intermediários institucionais, seja na política seja na comunicação, e reivindicando o direito de devolver o poder e o saber confiscados ao povo soberano, nem que seja através de tweets. Mas não é só aqui que este género políticoacontece. Ele acontece quando os protagonistas pretendem afirmar-se politicamente usando exclusivamente a arma do negativo, da denúncia, do dedo apontado, confiantes que essa arma lhes dará notoriedade, capacidade de polarização da atenção social sobre eles e que, consequentemente, a notoriedade lhes dará força social, eleitoral e política. Esta técnica tem vindo crescentemente a ser usada em todos os géneros incluindo até nos personagens que, por uma razão ou por outra, ocupam os interfaces da comunicação, usando-os com esta categoria para reforçarem a sua presença no espaço público e o seu próprio poder. Muitos deles aplicando o negativo às suas próprias famílias políticas, na convicção de que, assim, o “produto” se revelará mais apetecível e até mais credível. Exemplos em Portugal não faltam. Em todas as tendências políticas.
Na verdade, desde que a televisão ocupou, a partir dos anos cinquenta, sobretudo nos Estados Unidos, o centro da comunicação social que este processo de tabloidização da política tem vindo a crescer, na própria medida do crescimento dos media. É um fenómeno bem conhecido de todos os que estudam as relações entre a comunicação, os media e a política. Mas talvez nunca como hoje se tenha verificado um uso tão despudorado desta categoria na comunicação e na política.
Populismo e Tabloidismo
NA VERDADE, estamos já perante uma poderosa ideologia que, aliada à ideia de liberdade negativa, à ideia de que os media são contrapoder e à protecção constitucional e legal de que dispõem, tem uma eficácia e um impacto difíceis de combater. Porque, munida destas características, apela aos instintos mais básicos da natureza humana para polarizar a atenção social. Os populismos também são filhos directos desta ideologia, tal como todos aqueles que, vivendo em democracia, reduzem a sua vida e a razão da sua existência à procura do negativo, sob as mais variadas formas, para logo o exibirem publicamente sem se preocuparem (ou, pelo contrário, alimentando-se deles) com os efeitos que essa exibição sistemática pode ter quer sobre a sociedade em geral quer sobre os indivíduos singulares objecto de atenção. Castigadores justiceiros com a missão de resgatar o povo oprimido. O justicialismo político entra directamente nesta categoria, sendo certo que ele possui as mesmas características do tabloidismo mediático.
Esta degenerescência é o que vamos tendo cada vez mais, num abraço infeliz da política com este tipo de comunicação, em nome do povo e das audiências. Se, depois, a isso se juntar essa aliança espúria da comunicação e da política com o poder judicial teremos a receita perfeita para uma ruptura democrática. O caso brasileiro e o percurso do juiz Sérgio Moro podem servir de exemplo. E o que acaba por sobrar em tabloidismo vai faltar em ideias para a governação e para a construção do futuro, para a mobilização política e comunicacional da cidadania, para o seu crescimento civilizacional e cultural, para a promoção da cidadania activa. Numa palavra, faltará uma concepção de política em linha com o que de melhor a democracia tem para nos dar.
Conclusão
ESTE TIPO DE COMUNICAÇÃO E DE POLÍTICA representa uma visão essencialmente instrumental de ambas: mero meio para aumentar as audiências e os eleitores e, em nome deles, intervir na sociedade. A política e a comunicação como instrumentos para alcançar um poder que, no fundo, acabará por tender a conceber-se como impolítico. Isto representa o triunfo do pior maquiavelismo, a negação da ética pública, mesmo quando se fala dela à exaustão e dela se serve para alcançar o poder, a política reduzida a pura, e não como autogoverno da cidadania e instrumento para a transformação da sociedade, pura retórica instrumental ao serviço da fria conquista do poder. Esta política corresponde, pois, à fusão integral da comunicação e da política naquilo que ambas têm de pior, completando a fase em que a política adoptou as categorias, os tempos e a organização da comunicação mediática para atingir e conservar o poder. Há um exemplo muito elucidativo desta fusão e da forma mais avançada de política tablóide: Berlusconi, em 1993-1994. Ou seja, a captura integral da política pelo poder mediático, não só no plano da factualidade, mas também no plano da sua subordinação integral ao poder comunicacional, à sua organização, à sua lógica e à sua relação com a cidadania. Em palavras simples: Berlusconi geriu a política com as mesmas categorias com que geriu o seu império mediático, transferindo armas e bagagens da holding televisiva para o aparelho do partido (incluídos os especialistas em sondagens sobre as audiências, por exemplo, o sondagista Gianni Pilo). Afinal, as audiências (espectadores e eleitores), neste sentido, correspondem-se quase integralmente, podendo-se sobrepor, até mesmo nos targets com que se trabalha (jovens – Italia Uno; reformados e domésticas – Retequattro; classe média – Canale 5). Houve até quem definisse o acesso de Berlusconi ao poder como um “golpe de Estado mediático” (Paul Virilio). Ou a política como continuação do poder mediático por outros meios.
Em síntese, é possível afirmar que a evolução das relações entre política e comunicação levou, numa primeira fase, a uma progressiva adequação da política às categorias das comunicação, em particular, às da comunicação televisiva, e, numa segunda fase, à própria metabolização política das categorias da comunicação ao ponto de o género tablóide passar a ser transversal a ambas as esferas, lá onde se reduz a política a mera técnica retórica de captação de audiências para o espectáculo da política, em dois géneros que acabam por se confundir, convertendo a cidadania em mera audiência e a política em “Jogo das Partes”, para glosar o título de uma peça de Luigi Pirandello. A política não passa, neste caso, de mero marketing político, que agora, com a rede, ainda ganha mais substância participativa, sobretudo no chamado Marketing 4.0, de Philip Kotler.
Hoje, todavia, as coisas, com as redes sociais, estão mesmo a mudar, para o bem e para o mal, mas este é um outro e mais complexo discurso.

“S/Título”. Detalhe.
FALEMOS DE POLÍTICA
A propósito de um Artigo de Pedro Nuno Santos
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 02-2021.
LI COM ATENÇÃO O ARTIGO DE PEDRO NUNO SANTOS (PNS) sobre o PS e as presidenciais. E apreciei a frontalidade e o desprendimento com que, Ministro deste Governo do PS, foi directamente ao assunto: o PS errou ao não apresentar ou apoiar claramente um candidato da sua área política, demitindo-se destas eleições. E, sejamos claros, não foi, por isso, uma vitória do PS, como foi sugerido por Carlos César. Ao demitir-se, o PS permitiu que a extrema-direita engordasse eleitoralmente, mobilizando uma direita que se sentiu livre de votar de acordo com as suas idiossincrasias, sabendo que Marcelo Rebelo de Sousa não precisaria do seu voto para ser eleito. Pelo contrário, se as presidenciais tivessem decorrido em ambiente de polarização esquerda-direita esta direita sentir-se-ia obrigada a votar no seu candidato para derrotar o candidato da esquerda. E nisto PNS tem plena razão. Não teria, pois, a extrema-direita o score eleitoral que conseguiu e ter-se-ia evitado uma perigosa dinâmica política induzida pelos resultados eleitorais. Creio que a substância do artigo de PNS está centrada neste raciocínio.
PS – Esquerda ou Centro?
NÃO CREIO, todavia, que ressuscitar algo que teve uma enorme repercussão aquando da competição Guterres-Sampaio pela liderança do PS tenha algum sentido, ou seja, saber se o PS se deve dirigir à esquerda ou ao centro. Por uma simples razão: o PS é um partido de centro-esquerda. Ponto. Lembro-me bem daquela disputa, de resto, vencida por António Guterres, com Sampaio a propor uma identidade reforçada de esquerda que falasse ao centro, sim, mas com esse rosto de esquerda bem vincado. Como se a esquerda democrática tivesse um problema de identidade e de reconhecimento. Ainda por cima, hoje, com a inauguração, por António Costa, da famosa “geringonça”, que lhe permitiu, sendo minoritário, estar no governo quatro anos, rompendo uma espécie de “conventio ad excludendum” que excluía a esquerda mais radical de soluções de governo. Ou seja, um partido que, sem deixar de falar ao centro, conseguiu atrair a esquerda radical para uma solução socialista de governo, ou seja, para uma solução precisamente de centro-esquerda. Não creio, pois, que a questão seja esta, já que foi superada pelo pragmatismo corajoso (ou de pura sobrevivência) de António Costa.
A questão é mais funda do que o geometrismo político, embora a distinção esquerda-direita continue a ser politicamente pregnante, ainda que estejamos hoje perante um cidadão de múltiplas e diferenciadas pertenças, não tão enfeudado ao clássico e partidário “sentimento de pertença” e mais aberto à dinâmica da informação. A identidade do cidadão sendo hoje mais complexa, flexível e móvel do que era torna menos pregnante esta distinção. Na verdade, há quem politicamente seja de direita e civilizacionalmente de esquerda, sendo certo que o contrário também se verifica.
A questão, antes de mais, tem a ver com a própria ideia de política: assumi-la em todas as suas verdadeiras dimensões ou procurar expulsá-la o mais possível do discurso e da acção, em nome do pragmatismo, do valor impolítico da independência, da gestão tecnocrática ou científica do poder ou mesmo do valor poder, como imperativo absoluto e exclusivo. Ou seja, a verdadeira questão é mesmo a que reside na concepção de política: devolver a política à cidadania, devolver a voz ao povo em vez de a subtrair à esfera da deliberação e de a concentrar na esfera da decisão própria dos titulares do poder formal, seja ele qual for. Eu creio que a posição de PNS no fundo reside nisto mesmo – ir a jogo, devolvendo a política à cidadania e à deliberação, mesmo que seja para perder, porque o jogo é a alma da democracia. Não ir a jogo por questões de oportunidade, seja por razões de (boa) vizinhança futura seja por se prever uma eventual derrota significa expulsar a política do interior do partido, significa não dar vazão (política) aos que se reconhecem nos valores do socialismo democrático, significa promover a apatia política e, sobretudo, significa deixar a política a outros que não aos que se reconhecem na esfera político-ideal em que se move o PS. E foi isto mesmo que aconteceu: o que estava em jogo já não era a presidência, mas o valor eleitoral e de agenda de outras propostas que não as do PS. O centro do debate e o topo da agenda foi o de saber quem ocuparia o segundo lugar: se uma militante do PS não apoiada pelo próprio Partido se um líder de extrema-direita com o objectivo de crescer partidariamente. Em boa verdade, o valor destas eleições foi desvirtuado por razões meramente instrumentais. E a política regressou, mas para um espaço onde o PS não estava. Os votos úteis concentraram-se nestes dois candidatos em função do verdadeiro objectivo a atingir: o segundo lugar nas eleições presidenciais.
Por isso, o que eu valorizo no artigo de PNS é precisamente o ter chamado a atenção para esta falta de comparência do PS por razões de oportunidade, que, afinal, acabariam por libertar a direita mais radical para um voto fundado exclusivamente na ética da convicção, sabendo que o seu candidato presidencial não necessitaria do seu voto.
A Esquerda e a Política
A ESQUERDA sempre se caracterizou por valorizar a política mais do que a direita. Por subtrair a exclusividade da política às elites liberais, promovendo o acesso a quem sempre tinha estado fora da dialéctica política. E, nesse sentido, por ver a política como algo mais do que um meio para o exercício do poder puro e duro. Ou a política como um valor em si. Tal como a democracia. E sempre que a desvalorizou – o que tem acontecido muito nestes últimos tempos – pagou um preço muito caro, tornando-se ou igual à direita ou vendo desertar o seu eleitorado para outras zonas de influência política. Desvalorizá-la, de resto, significa afastar-se do seu referente social, perder identidade, não identificar uma função estrutural que justifique a sua própria existência e, pior do que tudo isto, significa deixar o campo a outros, se é verdade que a política tem horror ao vazio, como se diz na gíria. E foi o que nestas eleições aconteceu. O PS deixou que a agenda política fosse ocupada por outras forças políticas, designadamente à extrema-direita.
O que se está a passar por essa Europa fora em matéria de socialismo democrático ou de social-democracia deveria pôr de alerta os responsáveis do PS. Sobretudo porque é na desmobilização dos seus militantes, simpatizantes e eleitores que se cava o fosso que leva à crise de representação. Neste caso, à crise do seu campo de representação. É por isso que eu valorizo a posição de PNS – porque ela evidencia a necessidade de ir a combate sempre que estão em causa assuntos importantes da nossa vida colectiva. Não só pelos assuntos, que são importantes, mas também porque é na mobilização da cidadania que se cria oportunidades de progresso e de avanço político e civilizacional.

“S/Título”. Detalhe.
E AGORA?
Por João de Almeida Santos
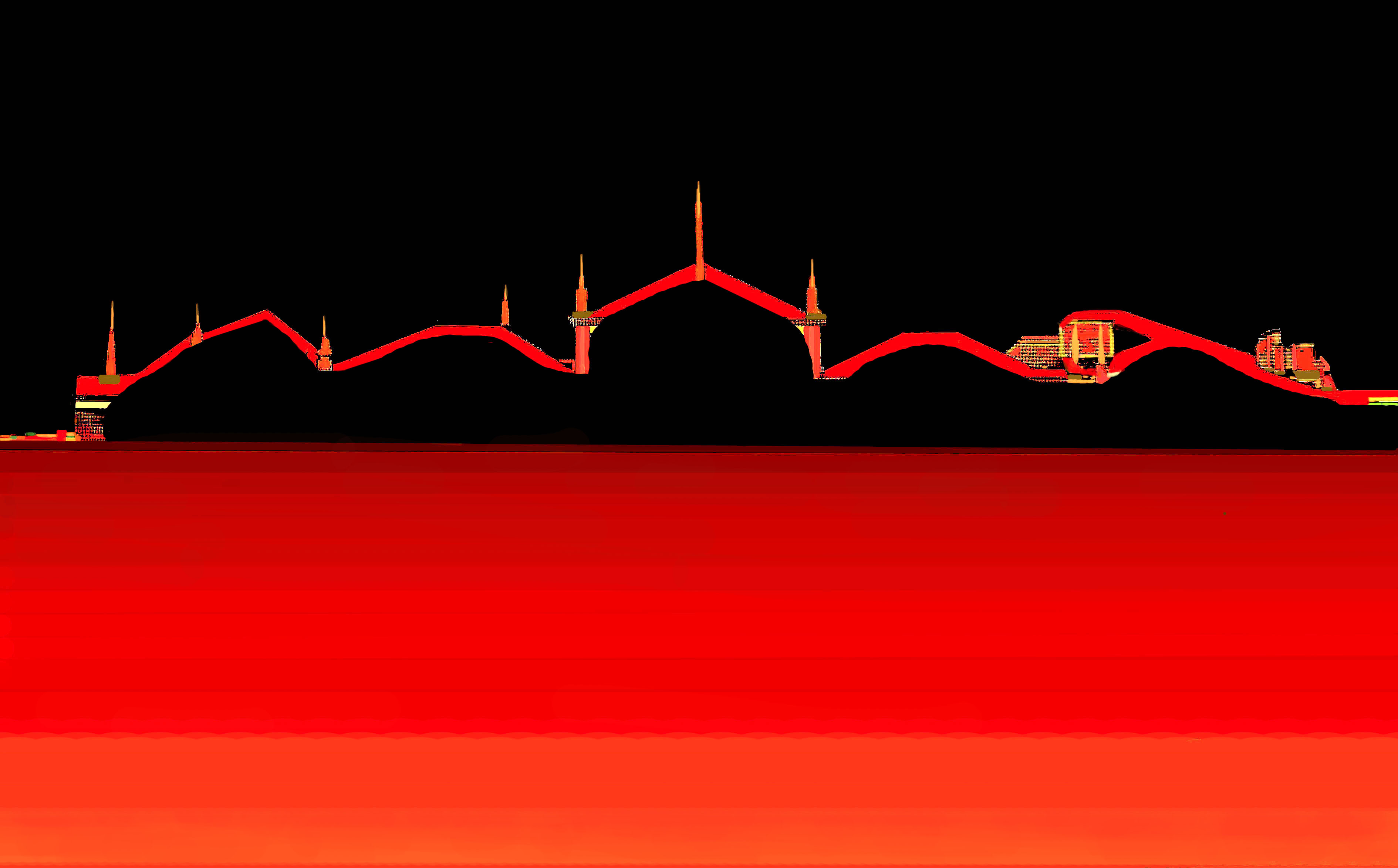
“S/Título”. Jas. 01-2021.
ESTRANHAS, ESTAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS. Em plena pandemia, com números assustadores. Fique confinado, é a palavra de ordem. Vá votar, foi a outra palavra de ordem. A democracia tem de ser defendida, disse-se. Ficar confinado é, como sabemos, o modo de travar o contágio e a expansão da doença. Ninguém duvida disso. Mas também a democracia tem de ser defendida, e, portanto, a palavras de ordem foi: desconfine-se e vá votar. Tal como a economia, que também tem de ser defendida, o que exige exactamente o contrário do que é necessário para travar a doença: troca, comércio, contacto entre pessoas. E se o combate à crise sanitária para ser eficaz exige medidas que são opostas ao combate à crise económica, então é preciso decidir qual é o combate prioritário. Qual é a palavra de ordem prioritária. Não podemos é estar permanentemente a pedir uma coisa e, logo a seguir, por novos e inultrapassáveis imperativos, pedir o seu contrário. Eu creio, aliás, que este tem sido o nosso pecado original. Combater de igual modo duas crises que exigem medidas contraditórias significa anular reciprocamente as medidas, deixando que ambas as crises se aprofundem. Crise, aliás, e curiosamente, em grego antigo significa precisamente decisão. A palavra vem do verbo krínô: separar, dividir, decidir, julgar, condenar. Pode-se dizer que, no sentido etimológico, na palavra crise (krísis) há uma ideia de rotura, de separação, de decisão com reais efeitos, mas também de intervenção da vontade, da razão e da consciência. Curioso. E decidir é optar. E optar significa também abdicar de algo (separar). Mas, para optar, é preciso, em certas circunstâncias, coragem, intervenção da vontade e da razão. Sim, coragem. Sobretudo por parte de quem tem o poder e o dever de, usando a vontade e a razão, regular as relações sociais. Reconheço a delicadeza e a dificuldade da questão, mas tem de ser assim se se quiser obter resultados satisfatórios.
E por que razão não se altera o sistema de eleição do PR?
Mas, mesmo no meio da pior crise da pandemia, a cidadania foi votar, num ambiente devidamente acautelado para evitar a propagação do vírus. E a abstenção, ao contrário do que certos politólogos, depois de terem feito todas as contas possíveis e impossíveis, previam, ficou em números aceitáveis, dadas as circunstâncias, que incluem sem dúvida a crise pandémica. Votaram 39.5% dos eleitores inscritos. E se contarmos só os eleitores residente em território nacional votaram muitos mais. É pouco, mas é mais do que o previsto por encartados politólogos: cerca de 25%. Ainda bem.
Olhando para os resultados, com a esmagadora vitória do actual Presidente e com a distância a que ficaram restantes candidatos, olhando para os personagens que se candidataram e olhando para as competências presidenciais, ficou-me ainda mais clara a convicção de que o sistema eleitoral que regula a eleição presidencial deve ser alterado, sendo a eleição feita por um colégio eleitoral onde a Assembleia da República seja determinante, mas onde participem também os detentores dos mais altos cargos da República. Evoluir, portanto, para um sistema parlamentarista. O que teria também uma ulterior vantagem: não tendo o PR uma legitimidade directa, ou de primeiro grau, a conflitualidade latente que tem vindo a acontecer entre os PRs e os Governos, ambos detentores de legitimidade de primeiro grau, tenderia a diminuir drasticamente, apesar de a legitimidade e as competências do PR se manterem íntegras. Por outro lado, evitar-se-ia a instrumentalização política das eleições presidenciais, com os partidos, ou personalidades singulares, a aproveitarem a ocasião para ocupar a agenda política e a agenda pública e aumentar a sua notoriedade e influência, umas vezes com resultados positivos, para este fim, como foi o caso do “Chega”, outras, como foi o caso do PCP e do Bloco, com resultados negativos. Sendo também certo que os resultados das presidenciais não são automaticamente transponíveis para as legislativas. Por exemplo, à direita, entrando em cena vários partidos que não participaram na disputa, a votação que se concentrou no “Chega” tenderá naturalmente a fragmentar-se, deslocando-se muitos eleitores para outros partidos, designadamente para o PSD, que tem no seu seio várias tendências, incluindo a que se situa mais à direita da tendência social-democrata, os neoliberais.
O boletim de voto era falso
Há um pormenor (relevante) nestas eleições que também merece destaque: a presença, no boletim de voto oficial que foi apresentado aos eleitores, de um candidato que, não tendo cumprido os requisitos legais, viria a ser considerado inelegível. Sendo certo que os cidadãos têm o direito de saber quantos votos teve este candidato fantasma (li num jornal que a sondagem da Intercampus, à boca das urnas, teria calculado cerca de 5000 votos), é também certo que isto não deveria acontecer porque certamente levou ao engano muitos eleitores, desvirtuando os resultados. Ainda que um só fosse levado ao engano já isso deveria ser considerado inaceitável, não só por razões de princípio, mas também por razões de legalidade. Numa palavra simples: o boletim de voto oficial era falso e isso até poderá dar lugar a impugnação legal das eleições. Não há explicações que possam justificar este facto e o Tribunal Constitucional e o Ministro da Administração Interna deverão bater com a mão no peito pelo menos cento e uma vezes.
O efeito Ventura
Algumas outras conclusões há que retirar destas eleições. Em primeiro lugar, que a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa se deve ao apoio (directo e indirecto) das duas maiores forças politicas, PSD e PS, não se tendo verificado uma consistente polarização de votos da área socialista para Ana Gomes, mas tendo-se verificado, talvez pelo efeito André Ventura (AV) – a polarização da atenção social em torno da conquista do segundo lugar e as consequências derivadas das declarações do líder do “Chega” -, isso sim, um voto útil naquela candidata por parte de algum eleitorado do PCP e do Bloco receoso da vitória da aposta do líder da extrema- direita, o que explicaria, em parte, os fraquíssimos resultados dos seus candidatos. Votar em Ana Gomes significaria, pois, evitar que o candidato do “Chega” ficasse em segundo lugar.
“Agenda-Setting” e polarização política
Um outro aspecto deverá ser também evidenciado. Há uma teoria sobre os efeitos cognitivos e sociais dos mediaque se chama “Agenda-Setting”, formulada por Maxwell McCombs e Donald Shaw. E há ainda uma outra conhecida como “Tematização”, atribuída a Niklas Luhmann. Ambas sublinham a importância primacial do agendamento pelos mediade determinadas temáticas e dos efeitos que este agendamento tem quer nos protagonistas políticos quer no comportamento político dos cidadãos. A centralidade e a persistência na agenda política e na agenda pública de determinados temas (ou personagens) tem seguros efeitos no plano da polarização da atenção social e do seu relevo público em relação ao comportamento político da cidadania. Ora eu creio que a declaração persistente e generalizada de AV como inimigo público número um o beneficiou, neste plano, e lhe trouxe dividendos políticos, sobretudo num processo onde a direita mais moderada não esteve presente. Não é difícil de entender que ocupar o centro da agenda política durante tanto tempo tem consequências no comportamento político do eleitorado. Mas não diminuo outros factores explicativos para o seu resultado, como, por exemplo, a polarização do descontentamento com as prestações do establishment, do sistema, apesar de estar convencido de que esta “obsessão” intensiva e generalizada por AV acabou por ter um significativo efeito de reforço do seu score eleitoral. É dos livros. E quando estudei o percurso político de Sílvio Berlusconi e a sua vitória eleitoral em 1994 pude constatar isto mesmo: que esta técnica da polarização da atenção social foi eficaz e teve seguros efeitos na vitória do candidato (veja-se o meu livro Media e Poder, Lisboa, Vega, 2012, pp. 257-338).
O incontornável Tino de Rans
Há ainda algo mais com um significado político interessante. Tino de Rans (TR) ficou a pouco mais de duas décimas do candidato liberal Tiago Mayan (TM). Um candidato, TR, que aspira a entrar na carreira política e que, ao contrário do candidato liberal, usando exclusivamente os seus recursos pessoais, conseguiu a proeza de obter 122.743 votos, o que o fará pensar que não andará muito longe de vir a realizar o seu sonho: entrar na Assembleia da República como deputado. Mais curioso ainda é TR ter derrotado o candidato liberal no Porto (4,46% contra 4, 29%). Os liberais, que podem reivindicar legitimamente uma nobre tradição que, nos seus primórdios, até foi revolucionária, não conseguiram destacar-se de um simplório que, sozinho, deu livre curso a uma empreitada que o poderá levar à conquista de um lugar no parlamento. Até faz lembrar, e com simpatia, o famoso Tiririca (deputado brasileiro) e a sua palavra de ordem: “Pior do que tá não fica, vote Tiririca”. Um sincero elogio pela imaginação, a persistência e o esforço deste candidato.
Conclusão
Tivemos, pois, umas eleições presidenciais que, naquilo que era o seu objecto real, eleger o PR, nada politizadas foram pelos dois grandes partidos do sistema, vista a clara vitória antecipada do actual Presidente e as razões (diferentes, é certo, mas convergentes num mesmo objectivo) que cada um destes partidos encontrou para o confirmar. Exagerando um pouco (retoricamente, entenda-se), poder-se-ia dizer que para estes partidos até poderia não ter havido eleições. Em boa verdade, eles expulsaram a política das eleições presidenciais, deixando-a para os outros partidos e para a candidata Ana Gomes. O que viria a acontecer, com as consequências que se conhece: a polarização em torno da conquista do segundo lugar, com claro benefício para os dois candidatos em condições de o alcançar. Tivemos, então, outras candidaturas que, bem sabendo que não chegariam sequer a uma segunda volta, o que procuraram foi, na realidade, usar estas eleições para outros fins: as futuras eleições legislativas. Talvez só a candidatura de Ana Gomes tenha sido a única a não visar directamente este fim, mas, sim, o de uma afirmação futura no interior do próprio Partido Socialista. O que, afinal, vistos os resultados, parece não ter sido, neste aspecto, muito bem sucedida. De qualquer modo, esta candidatura poderá vir a reforçar tendências já presentes no PS, desalinhadas da actual liderança, em particular aquela que é representada por Pedro Nuno Santos.
É por tudo isto que me parece que o melhor sistema a adoptar para as eleições presidenciais seja o de um colégio eleitoral alargado, em vez do sufrágio universal. Simplificar-se-ia o sistema, evitar-se-ia conflitos de legitimidade entre PR e Governo e sobretudo esta distorção reiterada de uso instrumental das eleições, sem que isso significasse uma diminuição dos actuais poderes do Presidente ou da sua legitimidade. Posto isto, e notando a alta taxa de abstenção, confesso que fiquei surpreendido com a participação dos cidadãos nestas eleições. O que é, nestas circunstâncias, um bom sinal.

“S/Título”. Detalhe.
“DA DEMOCRACIA NA AMÉRICA”
Por João de Almeida Santos
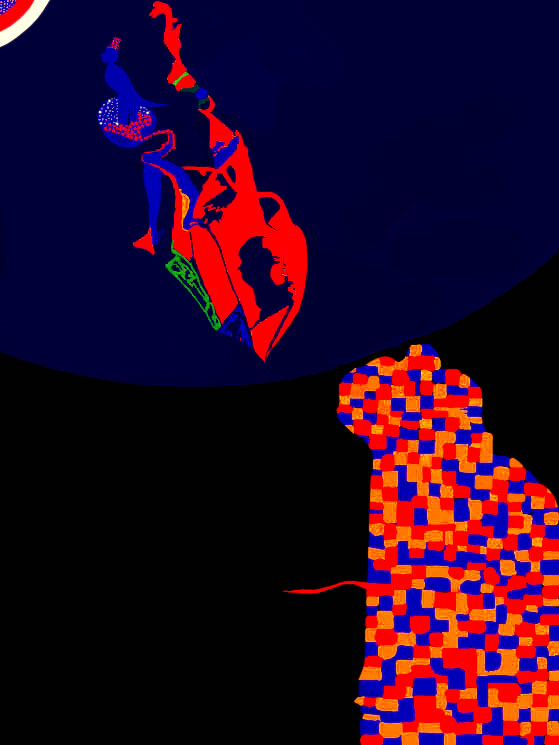
“S/Título”. Jas. 01-2021.
TOMOU ONTEM POSSE o 46.º Presidente dos Estados Unidos, no Capitólio, a sede do Congresso, depois de um longo e complexo processo eleitoral, que começou com as primárias de ambos os partidos e terminou com a recusa do Presidente Trump em aceitar o resultado das eleições e com o apelo aos seus apoiantes a marcharem contra o acto de reconhecimento, pelo Congresso, de Joe Biden como Presidente eleito. Quatro anos de Presidência Trump que acabam da pior maneira: uma pandemia devastadora e uma gravíssima crise do regime democrático americano provocada pelo detentor do máximo poder político, em funções. A um ponto tal que aquela que seria a festa máxima da democracia americana foi transformada em ambiente de estado de sítio na Capital, Washington. Ou seja, um dos dois contendores, do alto dos seus cerca de 74 milhões de votos, recusou-se a aceitar a vitória do seu adversário, que obteve mais cerca de 7 milhões de votos, mais 74 grandes eleitores, maioria na Câmara dos Representantes e paridade (na verdade, maioria) no Senado (com voto de desempate favorável, à disposição da Vice-Presidente Kamala Harris). No final, houve festa, o Presidente Biden fez um bom discurso e tudo correu sem incidentes. Uma vitória da democracia, com o disse o Presidente eleito.
O que é a Democracia?
A democracia é um regime que tem como função essencial resolver, recorrendo ao consenso, e para efeitos de governação e de tomada de decisões que vinculem toda a comunidade, as diferenças existentes na sociedade através de mecanismos institucionais que assentam na dinâmica da representação e na regra da maioria. Este regime assenta também no respeito pelas regras que foram livremente consensualizadas e consignadas numa constituição por parte dos intervenientes no processo democrático. Processo que dispõe de órgãos (designadamente os órgãos do poder judicial e do poder político) que certificam e consagram os actos que ocorrem neste processo. Perante isto, os protagonistas do processo democrático têm o dever e a obrigação de aceitar e de cumprir estas regras em cada momento.
Ora, foi isto que não aconteceu nestas eleições e no processo de transmissão do poder, porventura o momento mais simbólico e mais belo de todo o processo democrático: o momento em que o vencido reconhece e aceita lealmente a vitória do adversário, pondo fim à competição, elevando-se o vencedor a representante de toda a nação e a expressão simbólica da sua unidade. O exemplo do belíssimo discurso do senador McCain sobre a vitória de Barack Obama, em 2008, ficará para sempre gravado como exemplo máximo de nobreza de carácter, de espírito genuinamente democrático e de grandeza de alma. (https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=96631784&t=1611075374590). Donald Trump não e, por isso, ficará como exemplo do que não deve acontecer, em particular num momento de tão alto simbolismo como é a tomada de posse do Presidente. Não só declarou não reconhecer a vitória do adversário antes de o próprio processo eleitoral ter ocorrido (o que significa não reconhecer as próprias regras do processo eleitoral em curso e em que o próprio participou, apesar de ser ele o detentor do máximo poder politico nos Estados Unidos), mas também não a reconhecer depois de contados os votos e de o processo estar certificado pelas entidades competentes, esgotados que foram todos os recursos formais possíveis (e mesmo impossíveis) do candidato derrotado. Mas, pior ainda, o não reconhecimento prosseguiu incitando os seus apoiantes mais radicais a que marchassem sobre o mesmo Capitólio onde decorria, em sessão conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado (presidido, de resto, pelo seu Vice-Presidente Mike Pence), o acto final de certificação política dos resultados e de declaração formal do nome do próximo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O que se seguiu é de todos conhecido: violência, mortes, devastação do Congresso, ocupação dos gabinetes dos representantes e senadores, filmagem de documentos dos representantes. Tudo sob o alto patrocínio, directo ou indirecto, do Presidente em funções. E tudo agora devidamente certificado pela ausência do Presidente cessante no acto de tomada de posse do novo Presidente. Exactamente o oposto do que aconteceu com a vitória de Obama e a reacção do Senador McCain. Mas também o oposto do que deve ser o comportamento de um democrata responsável perante o desfecho de uma regular disputa eleitoral.
Como Morrem as Democracias
Esta situação levou-me a ler um livro de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, ambos professores em Harvard, “How Democracies Die”, publicado em 2018, pouco mais de dois anos antes de assistirmos a estes inacreditáveis acontecimentos do dia 6 de Janeiro de 2021 e que já levaram a Câmara dos Representantes a declarar (com o voto favorável de 10 republicanos) aberto o segundo processo de impeachment a Donald Trump (que prosseguirá, apesar de já não ocupar a Presidência e que poderá ditar a interdição de, no futuro, se poder candidatar). Todo o livro se concentra sobre o que o título anuncia, uma longa narrativa sobre as antecâmaras democráticas do autoritarismo, sobre os processos que conduzem à instauração de regimes autoritários, não democráticos. Desta vez, desenvolvendo os autores uma ampla reflexão sobre a presidência Trump e o seu irregular comportamento não só relativamente às normas praticadas, mas não escritas, da democracia americana, mas também em relação às próprias normas escritas. Não estiveram os dois autores muito longe de antecipar este último e gravíssimo comportamento de Donald Trump, que, afinal, viria a dar substância final à sua certeira narrativa. Deste modo, se tomarmos em consideração a tipologia do comportamento autoritário apresentado pelos autores veremos que a Trump se aplicam os seguintes indicadores, correspondentes a cerca de metade dos que são connsiderados. Autoritários são os que:
1) tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito (e dizem os autores que Trump também violou normas democráticas essenciais quando denunciou abertamente a legitimidade das eleições); 2) afirmam que os seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante; 3) têm quaisquer laços com grupos armados, forças paramilitares, milícias ou outras organizações envolvidas em violência ilícita; 4) patrocinaram ou estimularam eles próprios ou os seus partidários ataques de multidões contra oponentes; 5) solidarizaram-se tacitamente com a violência de seus apoiantes, recusando-se a condená-los e a puni-los de forma categórica.
Trump e a Democracia Americana
Note-se que são estes personagens que, tendo lá chegado por via eleitoral, prenunciam os desvios autoritários ou ditatoriais das democracias, de forma mais ou menos aberta. Os autores dão exemplos que são conhecidos de todos nós: de Fujimori a Chávez, de Putin a Erdogan, a Orbán, entre outros. Trump, na visão Levitsky e Ziblatt, e ainda sem conhecerem a gravidade do que viria a acontecer depois, inclui-se neste quadro tipológico. E, como os próprios dizem, ainda que não tenha conseguido destruir por completo o quadro das normas que sustentam a democracia americana, abriu certamente o caminho a outros que o possam continuar a percorrer. O que não será certamente o caso de Biden e do partido democrático, que, pelo contrário, deverão ter como tarefa central repor a normalidade democrática, não apenas formalmente, recuperando as regras grosseiramente atropeladas, mas sobretudo respondendo com eficácia aos problemas de fundo da sociedade americana que motivaram um tão alto score eleitoral de Trump, nestas eleições.
Os autores evidenciam ainda as duas normas básicas que preservam os “checks and balances” da democracia americana e a fazem funcionar: a tolerância (concorrentes que se aceitam mutuamente como competidores legítimos) e a contenção (uso comedido das prerrogativas institucionais). Mas chamam também a atenção para uma polarização extrema da política americana que pode destruir a própria democracia, ao anular as suas próprias redes de protecção. E este é também outro contexto em que se inscreve a acção de Donald Trump, não estando, pois, os autores longe da verdade quando afirmam, a meio do seu mandato, que a ascensão de Trump representou “um desafio para a democracia mundial” e que mesmo que não tenha conseguido deitar abaixo as grades de protecção da democracia constitucional americana, ele aumentou a probabilidade de um futuro presidente o vir a fazer. Este simbolismo das grades de protecção da democracia americana encontram um dramático referente no que viria a acontecer realmente com o selvático assalto à casa da democracia, o Congresso americano. O impeachment de Trump poderá, se outras razões não houvesse, vir a impedi-lo de se recandidatar em 2024, é certo. Mas, como reconhecem os próprios autores, o problema de fundo já lhe é anterior e certamente não acabará com ele. Por isso, a resposta tem de ser mais profunda e ficará, sobretudo, sob a responsabilidade do partido democrata (que tem um Presidente e a maioria em ambos os ramos do Parlamento), mas terá também de envolver uma parte do próprio partido republicano, todos aqueles que se revêem, sem reservas, nas palavras e no comportamento de John McCain. Este Presidente possui, para isso, condições reconhecidamente excepcionais para desenvolver uma diplomacia política junto dos republicanos que evite males maiores, e que não seriam somente males americanos.
Conclusão
Vimos festa na posse de Joe Biden como 46.º Presidente da maior potência mundial. Uma festa blindada, mas festa. E vimos celebrar esse espírito de união que se deve elevar acima das diferenças sobretudo no momento em que o país reconhece uma liderança institucional como resultado da escolha da cidadania. Mas que este dia de festa tivesse, pelas razões que todos conhecemos, de ser um dia altamente blindado, um dia de preocupação e de suspense diz tudo acerca do momento que vivemos, onde à trágica pandemia se vem juntar um alto risco de colapso democrático, não só nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo, agora mais expostas por este lamentável exemplo dos quatro anos de trumpismo e do arrojo dos seus seguidores em, desta forma grosseira, grotesca e inacreditável, assaltarem a democracia americana, derrubando grades físicas de protecção da Casa da Democracia, mas sobretudo procurando derrubar as grades simbólicas que protegem a própria democracia. Que os deuses protejam e inspirem Joe Biden, no mandato que ontem iniciou como Presidente dos Estados Unidos.
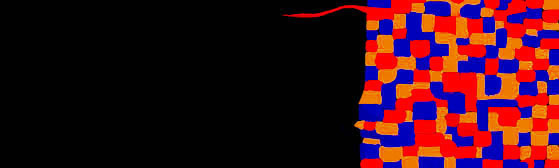
“S/Título”. Detalhe.
QUE OS DEUSES O PROTEJAM E INSPIREM, PRESIDENTE BIDEN
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 01-2021.
TOMA HOJE POSSE o 46.º Presidente dos Estados Unidos, no Capitólio, a sede do Congresso, depois de um longo e complexo processo eleitoral, que começou com as primárias de ambos os partidos e terminou com a recusa do Presidente Trump em aceitar o resultado das eleições e com o apelo aos seus apoiantes a marcharem contra o acto de reconhecimento, pelo Congresso, de Joe Biden como Presidente eleito. Quatro anos de Presidência Trump que acabam da pior maneira: uma pandemia devastadora e uma gravíssima crise do regime democrático americano provocada pelo detentor do máximo poder político, em funções. A um ponto tal que aquela que seria a festa máxima da democracia americana está transformada em ambiente de estado de sítio na Capital, Washington. Ou seja, um dos dois contendores, do alto dos seus cerca de 74 milhões de votos, recusa-se a aceitar a vitória do seu adversário, que obteve mais cerca de 7 milhões de votos, mais 74 grandes eleitores, maioria na Câmara dos Representantes e paridade (na verdade, maioria) no Senado (com voto de desempate favorável, à disposição da Vice-Presidente Kamala Harris).
O que é a Democracia?
A democracia é um regime que tem como função essencial resolver, recorrendo ao consenso, e para efeitos de governo e de tomada de decisões que vinculem toda a comunidade, as diferenças existentes na sociedade, através de mecanismos institucionais que assentam na dinâmica da representação e na regra da maioria. Este regime assenta também no respeito pelas regras que foram livremente consensualizadas e consignadas numa constituição por parte dos intervenientes no processo democrático. Processo que dispõe de órgãos (designadamente os órgãos do poder judicial e do poder político) que certificam e consagram os actos que ocorrem neste processo. Perante isto, os protagonistas do processo democrático têm o dever e a obrigação de aceitar e de cumprir estas regras em cada momento.
Ora, foi isto que não aconteceu nestas eleições e no processo de transmissão do poder, porventura o momento mais simbólico e mais belo de todo o processo democrático: o momento em que o vencido reconhece e aceita lealmente a vitória do adversário, pondo fim à competição, elevando-se o vencedor a representante de toda a nação e a expressão simbólica da sua unidade. O exemplo do belíssimo discurso do senador McCain sobre a vitória de Barack Obama, em 2008, ficará para sempre gravado como exemplo máximo de nobreza de carácter, de espírito genuinamente democrático e de grandeza de alma. (https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=96631784&t=1611075374590). Donald Trump, não, e por isso ficará como exemplo do que não deve acontecer, em particular num momento de tão alto simbolismo como é a tomada de posse do Presidente. Não só declarou não reconhecer a vitória do adversário antes de o próprio processo eleitoral ter ocorrido (o que significa não reconhecer as próprias regras do processo eleitoral em curso e em que o próprio participou, apesar de ser ele o detentor do máximo poder politico nos Estados Unidos), mas também não a reconhecer depois de contados os votos e de o processo estar certificado pelas entidades competentes, esgotados que foram todos os recursos formais possíveis (e mesmo impossíveis) do candidato derrotado. Mas, pior ainda, o não reconhecimento prosseguiu incitando os seus apoiantes mais radicais a que marchassem sobre o mesmo Capitólio onde decorria, em sessão conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado (presidido, de resto, pelo seu Vice-Presidente Mike Pence), o acto final de certificação política dos resultados e de declaração formal do nome do próximo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O que se seguiu é de todos conhecido: violência, mortes, devastação do Congresso, ocupação dos gabinetes dos representantes e senadores, filmagem de documentos dos representantes. Tudo sob o alto patrocínio, directo ou indirecto, do Presidente em funções. E tudo agora devidamente certificado pela ausência do Presidente cessante no acto de tomada de posse do novo Presidente. Exactamente o oposto do que aconteceu com a vitória de Obama e a reacção do Senador McCain. Mas também o oposto do que deve ser o comportamento de um democrata responsável perante o desfecho de uma regular disputa eleitoral.
Como Morrem as Democracias
Esta situação levou-me a ler um livro de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, ambos professores em Harvard, “How Democracies Die”, publicado em 2018, pouco mais de dois anos antes de assistirmos a estes inacreditáveis acontecimentos do dia 6 de Janeiro de 2021 e que já levaram a Câmara dos Representantes a declarar (com o voto favorável de 10 republicanos) aberto o segundo processo de impeachment a Trump. Todo o livro se concentra sobre o que o título anuncia, uma longa narrativa sobre as antecâmaras democráticas do autoritarismo, sobre os processos que conduzem à instauração de regimes autoritários, não democráticos. Desta vez, desenvolvendo os autores uma ampla reflexão sobre a presidência Trump e o seu irregular comportamento não só relativamente às normas praticadas, mas não escritas, da democracia americana, mas também em relação às próprias normas escritas. Não estiveram os dois autores muito longe de antecipar este último e gravíssimo comportamento de Donald Trump, que, afinal, viria a dar substância final à sua certeira narrativa. Deste modo, se tomarmos em consideração a tipologia do comportamento autoritário apresentado pelos autores veremos que a Trump se aplicam os seguintes indicadores, correspondentes a cerca de metade dos que são connsiderados. Autoritários são os que:
1) tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito (e dizem os autores que Trump também violou normas democráticas essenciais quando denunciou abertamente a legitimidade das eleições); 2) afirmam que os seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante; 3) têm quaisquer laços com grupos armados, forças paramilitares, milícias ou outras organizações envolvidas em violência ilícita; 4) patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes; 5) solidarizaram-se tacitamente com a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e a puni-los de form categórica.
Trump e a Democracia Americana
Note-se que são estes personagens que, tendo lá chegado por via eleitoral, prenunciam os desvios autoritários ou ditatoriais das democracias, de forma mais ou menos aberta. Os autores dão exemplos que são conhecidos de todos nós, de Fujimori a Chávez, de Putin a Erdogan, a Orbán, entre outros. Trump, na visão Levitsky e Ziblatt, e ainda sem conhecerem a gravidade do que viria a acontecer depois, inclui-se neste quadro tipológico. E, como os próprios dizem, ainda que não tenha conseguido destruir por completo o quadro das normas que sustentam a democracia americana, abriu certamente o caminho a outros que o possam continuar a percorrer. O que não será certamente o caso de Biden e do partido democrático, que, pelo contrário, deverão ter como tarefa central repor a normalidade democrática, não apenas formalmente, recuperando as regras grosseiramente atropeladas, mas sobretudo respondendo com eficácia aos problemas de fundo da sociedade americana que motivaram um tão alto score eleitoral de Trump, nestas eleições.
Os autores evidenciam ainda as duas normas básicas que preservam os “checks and balances” da democracia americana e a fazem funcionar: a tolerância (concorrentes que se aceitam mutuamente como competidores legítimos) e a contenção (uso comedido das prerrogativas institucionais). Mas chamam também a atenção para uma polarização extrema da política americana que pode destruir a própria democracia, ao anular as suas próprias redes de protecção. E este é também outro contexto em que se inscreve a acção de Donald Trump, não estando, pois, os autores longe da verdade quando afirmam, a meio do seu mandato, que a ascensão de Trump representou “um desafio para a democracia mundial” e que mesmo que não tenha conseguido deitar abaixo as grades de protecção da democracia constitucional americana, ele aumentou a probabilidade de um futuro presidente o vir a fazer. Este simbolismo das grades de protecção da democracia americana encontram um dramático referente no que viria a acontecer realmente com o selvático assalto à casa da democracia, o Congresso americano. O impeachment de Trump poderá, se outras razões não houvesse, vir a impedi-lo de se recandidatar em 2024, é certo. Mas, como reconhecem os próprios autores, o problema de fundo já lhe é anterior e certamente não acabará com ele. Por isso, a resposta tem de ser mais profunda e ficará, sobretudo, sob a responsabilidade do partido democrata (que tem um Presidente e a maioria em ambos os ramos do Parlamento), mas terá também de envolver uma parte do próprio partido republicano, todos aqueles que se revêem, sem reservas, nas palavras e no comportamento de John McCain. Este Presidente possui, para isso, condições reconhecidamente excepcionais para uma diplomacia política junto dos republicanos que evite males maiores, e que não seriam somente males americanos.
Conclusão
Não sei, no momento em que escrevo, o acontecerá, daqui a umas horas, nos Estados Unidos, neste dia de posse de Joe Biden como 46.º Presidente da maior potência mundial. Espero que tudo corra bem. Mas que este dia de festa tenha, pelas razões que todos conhecemos, de ser um dia altamente blindado, um dia de preocupação e de suspense diz tudo acerca dos momentos que vivemos, onde à trágica pandemia se vem juntar um alto risco de colapso democrático, não só nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo, agora mais expostas por este lamentável exemplo dos quatro anos de trumpismo e do arrojo dos seus seguidores em, desta forma grosseira, grotesca e inaceitável, assaltarem a democracia americana. Que os deuses protejam e inspirem Joe Biden, no mandato que hoje inicia como Presidente dos Estados Unidos.
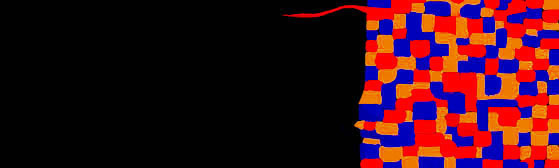
“S/Título”. Detalhe.
ACONTECEU NA AMÉRICA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 01-2021.
PERGUNTEI-ME SE ESTE ARTIGO deveria ser sobre as presidenciais ou sobre o assalto ao Capitólio pelos seguidores de Donald Trump. E decidi-me pelo comentário sobre os Estados Unidos. De resto, estas eleições presidenciais não vêem activamente envolvidos, directamente, os dois principais partidos, pilares do sistema político, ambos apoiando, com maior ou menor intensidade, directa ou indirectamente, a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Isso desloca a centralidade das eleições para os outros candidatos que, à excepção de Ana Gomes (mas o seu score eleitoral terá efeitos, ou não, sobre o próprio PS), estão a usar as presidenciais para se afirmarem enquanto partidos (PCP, Bloco, Chega, Liberais, RIR). Ou seja, verdadeiramente não temos uma competição presidencial com grande dimensão política. Temos pequenos protagonistas a lutarem pela sua afirmação pública. Tudo num ambiente em que o vencedor parece estar definido à partida, mas também num momento em que estamos a braços com a grave crise do COVID-19 e a sua recente intensificação. A preocupação sanitária é maior do que a preocupação pela função presidencial. E, por isso, até há quem considere que as eleições deveriam ser adiadas, visto que constituirão – para além do simbolismo das reiteradas excepções excessivamente permitidas – ocasião para um maior nível de contágio, sendo este o maior problema que o País tem neste momento. Não sei, mas ir votar, nestas condições, com risco de saúde acrescido e conhecendo-se antecipadamente o resultado, até pode aconselhar a um efectivo adiamento. Pessoalmente, tenho as minhas resistências a um adiamento, mas não ficaria chocado se acontecesse. Depois, talvez se evitasse um catastrófico nível de abstenção que poderá alterar significativamente aquele que seria o natural resultado em condições normais, produzindo efeitos políticos que poderão não ser os mais democraticamente justos e fiáveis, embora legítimos.
Assalto ao Capitólio
MAS, MESMO ASSIM, por considerar extremamente grave e preocupante o que se passou nos Estados Unidos, no assalto ao Capitólio, dedicarei o artigo a este facto. Algo tão grave que, a poucos dias da tomada de posse do novo Presidente Joe Biden, o partido democrático já avançou com um processo de impeachment (o segundo) ao Presidente que está de saída, tendo conseguido a aprovação da Câmara dos Representantes por 232 votos contra 197 (com voto favorável de dez republicanos).
A democracia tem regras e o Estado de Direito também. Trump recorreu, como era seu direito, a todos os expedientes legais para anular a vitória de Biden. O sistema judicial não o seguiu e confirmou a vitória do democrata. O Congresso também a confirmou. Manifestações pacíficas de pesar pela derrota são aceitáveis e os recursos judiciais também. O que não é tolerável é o ataque ao Congresso no momento em que este faz a contagem final dos votos para proclamar o vencedor, ao fim de um longo processo para eleger o próximo Presidente. Uma ruptura simbólica no sistema democrático americano. O vídeo que mostra Trump, familiares e colaboradores a seguirem ruidosamente e com sinais de aprovação a manifestação que daria assalto ao Capitólio, depois de ele próprio ter incentivado os manifestantes a avançarem contra o processo de consagração do vencedor, é de extrema gravidade. Ou seja, do que se tratou foi de sedição patrocinada pelo próprio Presidente da mais poderosa nação do mundo. Sem querer extrapolar, sabemos como Hitler chegou ao poder. Por eleições e por violência generalizada em todo o País. Também sabemos que Trump tem da democracia um estranho conceito que o levou a governar por tweets e a nunca revelar publicamente a sua situação fiscal pessoal. Ligeireza e opacidade na governação. Sim, mas foi este comportamento que levou ao assalto ao Capitólio que resumiu bem, e com evidência, toda a sua concepção acerca da vida política e da democracia. E, por isso, continuo a não compreender como é que o sistema político de um país como os Estados Unidos permite que um indivíduo deste jaez possa chegar a Presidente, com os enormes poderes, inclusivamente nucleares, que estão à sua disposição. E também continuo perplexo com a atitude do Partido Republicano, que não tem um sobressalto de vergonha perante este comportamento sedicioso e indigno neste poderoso e fantástico País. Valha-nos a atitude responsável de dez representantes republicanos no acto de aprovação do impeachment pela Câmara dos Representantes.
O Impeachment e o Futuro
O QUE SE PASSAR com a iniciativa do Partido Democrático, e agora da Câmara, para o remover simbolicamente do poder (na verdade, já foi removido pelos eleitores) ditará o futuro da democracia americana e de muitas democracias por esse mundo fora. Os Estados Unidos têm responsabilidades que ultrapassam as do próprio país pela sua importância política e económica a nível mundial. E terá efeitos muito sérios sobre o comportamento de inúmeros ditadores em funções que verão na fraqueza da democracia americana a ocasião para se reforçarem sem receio de consequências vindas da comunidade internacional. E também os partidos de extrema-direita, inimigos da democracia, se sentirão cada vez mais legitimados e confortáveis para assumirem o destino dos respectivos países. Sabemos bem que vivemos tempos muito sombrios e que o comportamento das democracias mais robustas tem efeitos de contaminação por esse mundo fora. É por isso mesmo que neste momento precisamos de uma União Europeia forte e com uma forte capacidade moderadora no plano internacional. Não só ela é precisa para dar voz internacional aos países europeus, que, de outro modo, ficariam à mercê das grandes potências mundiais, emergentes e não emergentes, como é necessária para moderar as tendências mais extremas e perigosas da política mundial.
A Democracia e as Redes Sociais
NÃO É ERRADO dizer que o establishment político das democracias ocidentais tem dado provas de grande fragilidade política e de incapacidade de mobilização da cidadania para os combates do futuro, num período de grandes e profundas mudanças estruturais como as que estamos a viver. Trump foi durante quatro anos um claro exemplo disso. Na verdade, não conhecemos cartografias políticas seguras para responder a estes desafios a não ser este ruidoso combate contra o chamado capitalismo da vigilância que está a mobilizar os poderes tradicionais e a esquerda mais aguerrida, esta numa versão aggiornata do movimento antiglobalização. O combate faz-se contra a excessiva concentração de poder nas grandes plataformas digitais, mas silencia-se o crescimento da cidadania que elas tornaram possível, relativizando o poder dos mesmos de sempre, os donos do espaço público, e dando mais poder à cidadania. A mesma que poderá exigir, isso sim, uma forte e saudável regulação destes poderes e dos fluxos comunicacionais que eles tornam possível. Ou seja, que poderá exigir o aprofundamento do que já tem vindo a ser feito pelas grandes plataformas em acordos com os poderes públicos e em nome da responsabilidade social das empresas. Processo que, afinal, já está em andamento na União Europeia com a Proposta da Comissão Europeia sobre a regulação de um mercado único para os serviços digitais, o “Digital Services Act”, aprovado em Dezembro de 2020 para ulterior apreciação pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Entretanto, temos vindo a assistir a um duro combate contra as grandes plataformas digitais, designadamente nos Estados Unidos. E, depois de, no seu famoso livro, No Logo, a bíblia dos movimentos antiglobalização, Naomi Klein ter, em 2000, posto a nu (com grande competência, diga-se) a realidade mundial das velhas multinacionais (americanas), surge agora uma nova bíblia contra o chamado “capitalismo da vigilância”, o novíssimo capitalismo das plataformas, A Era do Capitalismo da Vigilância, da senhora Shoshana Zuboff (Lisboa, Relógio d’Água, 2020, pp. 694) – a versão escrita, analítica e muito documentada que parece ter dado origem ao documentário, fortemente crítico e militante, da Netflix contra as redes sociais e as novas multinacionais, as plataformas digitais (todas elas americanas), tendo a própria autora nele participado. Já não bastava a militância guerreira de todos aqueles que se sentem desapossados do monopólio do acesso ao espaço público e ao espaço público deliberativo que agora surgem iniciativas judiciais nos Estados Unidos visando o desmantelamento dos grupos que detêm várias plataformas, acompanhadas, no plano analítico, de profundas investigações sobre os seus bastidores, com o é o caso do libro da Zuboff, e da divulgação de documentários altamente críticos das práticas por elas seguidas, como é o caso do referido documentário da Netflix, e a que se vem juntar, agora, o Digital Services Act, da União Europeia (já criticado pela Google).
Convenho que se trata de um poder imenso, de dimensão mundial, que se torna necessário regular. Sem dúvida. Mas também penso que, ao mesmo tempo, se torna necessário evidenciar o poder que as plataformas vieram dar à cidadania, dando início a processos de desintermediação da comunicação social e da própria política, permitindo combater as tendências endogâmicas de ambos os poderes e dando ao cidadão a possibilidade de se protagonizar no espaço público, como nunca antes acontecera, libertando-o do arbítrio dos clássicos gatekeepers da comunicação e da política.
Conclusão: Assalto à Democracia
A VERDADE É QUE AS REACÇÕES DO FACEBOOK E DO TWITTER aos apelos insurgentes de Trump parece terem despertado preocupações em alguns dirigentes europeus (Merkel ou o ministro francês da economia, por exemplo) considerando-as problemáticas ou oligárquicas, mesmo tratando-se do desastroso comportamento do ainda Presidente dos USA. Não entendo. Proteger a liberdade de promover a sedição através das plataformas não será o mesmo que desproteger as sociedades democráticas? Vale a pena citar o que disse Steffen Seifert, porta-voz de Merkel: “É possível interferir na liberdade de expressão, mas de acordo com os limites definidos pelo legislador, e não por decisão de uma administração empresarial”. Mas Seifert também terá dito que «as grandes plataformas digitais têm uma grande responsabilidade” e “não podem deixar de agir perante conteúdos que incitam ao ódio e à violência”. Sendo certo que o quadro em que se deve processar a comunicação nos “social media” deve ser regulado pelos Estados, Seibert reconheceu como positivos os esforços das plataformas em assinalar, com anotações ou chamadas de atenção, as mensagens mais ofensivas ou as fake news de Donald Trump (de notícia recolhida do Corriere della Sera, 11.01.2021). Perante isto, torna-se necessário recordar que, por um lado, foi o próprio chefe do Executivo que incitou à violência e à sedição e que, por outro lado, é a própria Câmara dos Representantes a pô-lo em processo, por isto mesmo. Se uma plataforma tira as consequências destes factos, que há de criticável no seu comportamento? A não ser que não se considere que a Câmara dos Representantes não tem legítimas competências estatais de regulação nem legiferantes. No meu entendimento, o Congresso tem o dever, por todas as razões, de punir um Presidente que atentou contra os órgãos constitucionais do País num momento de altíssimo simbolismo.
Neste combate estou, pois, convictamente mais do lado de Nancy Pelosi do que de Angela Merkel, porque, como dizia Bobbio, a democracia é um mecanismo tão frágil e delicado que ao primeiro choque se pode avariar. Neste caso, o choque foi excessivamente violento para não dever suscitar as devidas reacções. E, por isso, nem compreendo bem o que quer dizer o ministro francês da economia quando fala de “oligarquia digital” a propósito da reacção ao apelo de Trump à sedição, sendo que é isso mesmo que está em jogo neste caso do assalto ao Capitólio: foi, sim, um verdadeiro assalto à democracia e por isso aplaudo a reacção das plataformas e lamento que o Ministro francês diga que elas são uma ameaça à democracia em vez de, a propósito, dizer que a ameaça está noutro lado. É por estas e por outras que estamos como estamos, falando de política.
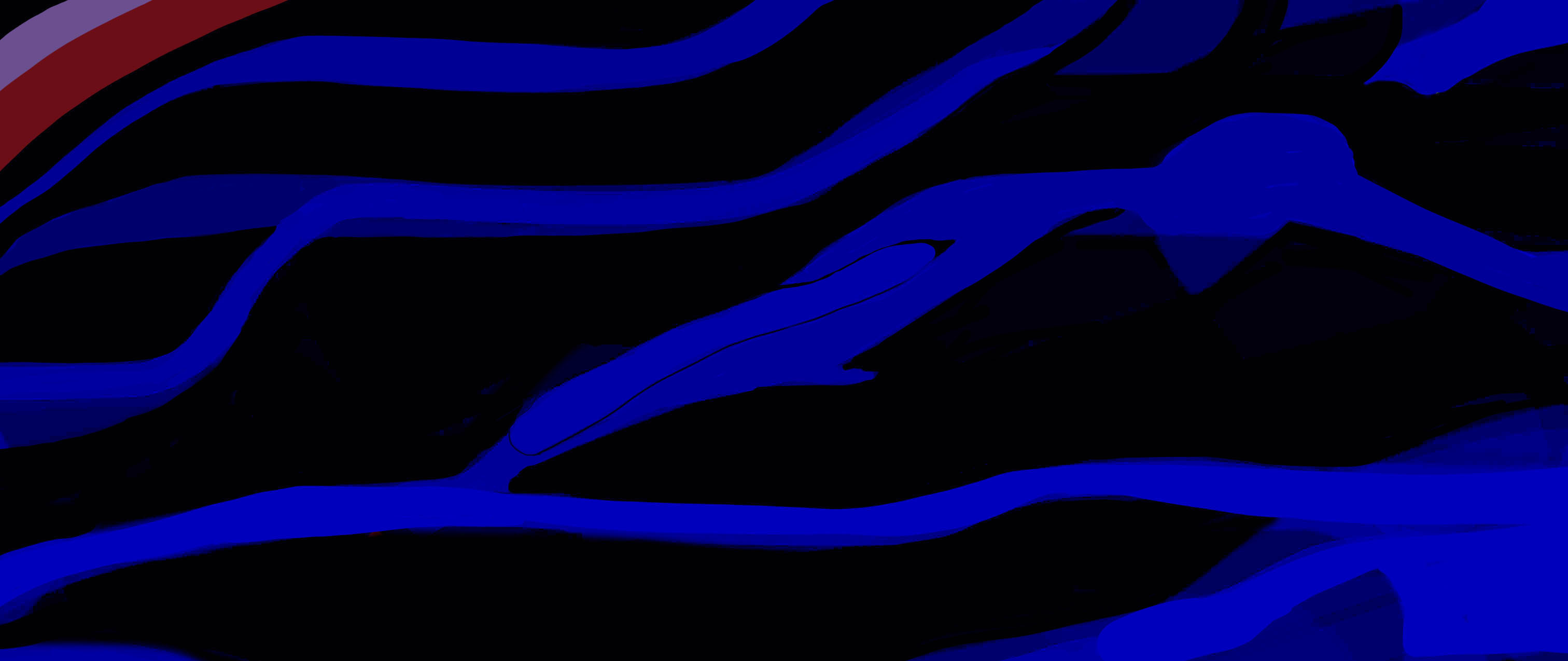
“S/Título”. Detalhe.
UM BALANÇO DO FUTURO
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 01-2021.
SE É VERDADE que esta é a mais grave crise que conhecemos depois da segunda guerra mundial, e é provável que seja, juntamente com a crise ambiental, então parece ser inevitável que deverá dar lugar a respostas equivalentes às que se seguiram à guerra. Respostas com futuro. E, na verdade, houve duas fortes respostas com futuro: a transformação da Sociedade das Nações(que pretendera responder, em 1919, às causas, ou causa, que deram origem à Grande Guerra) em ONU, Organização das Nações Unidas, em 1945, e a criação da União Europeia sob a forma de CECA, em 1952. Ambas para responderem ao problema central que originou mais de cinquenta milhões de mortos, através da promoção institucional da ideia de paz. Na altura, o problema era a guerra; agora, o problema é a pandemia. Antes, a resposta foi a paz, e agora, qual é a resposta? Ambos, guerra e pandemia, são problemas mundiais e afectam toda a população do globo. É preciso que a política esteja à altura, como antes esteve. Alguns já se começaram a mover, como os signatários do Manifesto “Convite aos cidadãos e líderes para um novo poder democrático europeu”, assinado, entre outros, por Felipe González, Cohn-Bendit, László Andor, Massimo Cacciari, Aleksander Kwanievski, Petre Roman, Fernando Savater, Guy Verhofstadt, Roberto Saviano e Sandro Gozi, propondo, no essencial, um reforço da União em legitimidade e eficácia, a construção de uma cidadania europeia e de uma democracia deliberativa, em suma, Um Novo Pacto Europeu, incluindo um verdadeiro Green New Deal.
A CRISE
A DEVASTAÇÃO PANDÉMICA não teve a aparência nem as consequências físicas das duas guerras mundiais, com esse rasto de destruição, com dezenas de milhões de pessoas mortas e de estruturas físicas destruídas por toda a Europa, mas esta devastação foi e está a ser grande e difusa, atingindo cada cidadão singular, independentemente dele estar ou não no “teatro de guerra” ou, melhor, com um “teatro de guerra” difuso e indefinido em todo o território. Devastação da vida em comunidade, devastação da economia e do emprego, devastação da saúde, com elevado números de mortes, a uma dimensão a que já não estávamos habituados. Um fenómeno que atinge directamente todos e cada um. Um fenómeno que fomos incapazes de prever nos seus efeitos globais, mesmo quando já havia notícia do que se estava a verificar numa zona da China, em Wuhan. A rápida expansão do fenómeno aconteceu num mundo globalizado, onde a mobilidade e a velocidade são categorias centrais em todas as manifestações da vida humana. E onde ambas se cumpriram sob a forma de pandemia, dando origem a uma rápida desestruturação da vida social com efeitos em cadeia que provocaram o desmoronamento das interacções que a alimentavam e que garantiam o seu normal funcionamento e a gestão das vidas das pessoas singulares e das suas actividades. A crise sanitária rapidamente se transformou em crise comunitária e em crise económica. A sociabilidade, na sua organicidade e territorialidade, sofreu um golpe profundo e persistente, motivando a intervenção dos Estados para a regular com normas de excepção e de forma generalizada. Uma intervenção que não se verificou somente na regulação dos fluxos da vida social, mas que também evoluiu para a minimização financeira dos enormes danos sofridos pelos agentes económicos, para a contenção da dinâmica de contágio e para a resposta aos seus efeitos disruptivos sobre a saúde pública. E quem duvidava da necessidade de um Estado com um bom poder regulador da sociedade verificou que, afinal, ele continua a ser imprescindível. Dizia-se no Grundsatzprogrammde 1989 do SPD que só as sociedades ricas se podem permitir um Estado pobre. Pois bem, esta crise veio demonstrar que nem as sociedades ricas se podem permitir um Estado pobre, o que também tem contraprova no valor e no significado da intervenção da União Europeia sobre a crise sanitária e sobre a crise económica dela derivada como condição para combater a pandemia e os seus efeitos devastadores sobre as economias nacionais. Se a lição serve para a defesa do Estado social (e de um Serviço Nacional de Saúde), ela também serve para a defesa da União Europeia.
Em síntese, o que aconteceu (e continua a acontecer) mereceu respostas para conter o fenómeno e os seus desastrosos efeitos, mas agora também deve merecer uma resposta de fundo que olhe para o futuro à luz do passado, prevenindo riscos, mas sobretudo construindo um futuro mais inteligente, flexível e sustentável. É preciso mobilizar a cidadania para este combate, em particular as elites políticas, como já estão a fazer, e bem, as personalidades europeias que já referi.
RESPOSTAS
TODO O SISTEMA SOCIAL sofreu (está a sofrer) um forte abalo sistémico e é por isso que se torna necessário retirar consequências de fundo não só para que no futuro haja maior capacidade de contenção ab ovode fenómenos semelhantes, mas também para que as experiências positivas que resultaram da crise possam ser devidamente metabolizadas e internalizadas pelo sistema social. E é aqui que a política deverá desempenhar o seu papel. Na verdade, houve respostas que merecem ser evidenciadas pelo seu carácter positivo. A resposta da ciência, ao desenvolver vacinas em tempo recorde, tendo sido, e bem, dotada, pelo sistema, de recursos financeiros generosos. O recurso às tecnologias disponíveis para resolver com eficácia os problemas decorrentes dos vários tipo de confinamento alargado tornou evidente a vantagem do desenvolvimento científico e tecnológico, mas também mostrou que as potencialidades existentes não estavam a ser devidamente aproveitadas, funcionando o sistema essencialmente por inércia, apesar dos recursos que, na verdade, ia conquistando. O teletrabalho alargou-se a um nível que parecia não ser possível. O ensino à distância generalizou-se, revelando uma fantástica capacidade de adaptação às novas tecnologias pelo sistema de ensino a todos os níveis e demonstrando que a lógica orgânica, ainda considerada exclusiva, não é necessariamente exclusiva, podendo ser complementada online; e a conviviabilidade perdida, por motivos de confinamento, foi em parte reconquistada graças à comunicação em rede. Verificou-se também um abaixamento significativo dos níveis de contaminação ambiental à escala planetária, em virtude da redução da mobilidade social e das limitações de acesso à generalidade dos países. Os cidadãos viram-se confrontados com a necessidade de disciplinar a sua vida em comunidade e de adoptar rigorosas e novas regras de comportamento. As actividades económicas viram-se obrigadas a reinventar o modus operandi(no caso das indústrias de fornecimento alimentar com o desenvolvimento do take away, por exemplo) e as formas de organização e de gestão.
A crise implicou uma profunda mudança nas relações sociais com efeitos fortemente negativos, mas também com efeitos (positivos) que revelaram boa capacidade de resposta à crise, gerando novos comportamentos e novas relações.
RETIRAR LIÇÕES E METABOLIZAR PROCESSOS
TUDO o que nos tem vindo a acontecer é experiência muito séria à qual tivemos de dar respostas consistentes e sustentáveis, recorrendo a todos os recursos disponíveis. É experiência consolidada e posta à provas dos factos. Não foi experiência fugaz e circunstancial, pois há quase um ano que nos temos vindo a adaptar às novas circunstâncias, reinventando o nosso modo de estar em sociedade e explorando recursos que não estavam a ser usados em todas as suas potencialidades. E isso tem um significado e um valor que não deveremos esquecer quando tudo voltar à normalidade. Uma normalidade que deverá, pois, incorporar e metabolizar a experiência vivida naquilo que ela teve de positivo, de bom. Não só tirar lições do que não fomos capazes de resolver e para o qual não estávamos preparados, mas sobretudo tirar lições do que fomos capazes de fazer bem na resposta à crise.
CONCLUSÂO: A POLÍTICA, A CRISE E O FUTURO
MAS A VERDADE é que o passo seguinte só poderá ser dado com o contributo decisivo da política e das grandes empresas, sobretudo daquelas que, pelas suas características, o podem fazer e dispõem de instrumentos e de capacidades organizacionais para isso. Muitas empresas estão a funcionar com bons resultados em teletrabalho, tendo, para isso, adaptado a sua estrutura organizacional; o ensino à distância tem mostrado níveis de eficiência que têm de ser tomados em conta; a poupança de recursos nestes níveis é enorme, como é grande o grau de poupança energética e de despoluição do ambiente, devido à drástica diminuição da mobilidade devida ao trabalho. A conviviabilidade ganhou um novo meio de satisfação que se revelou muito eficaz, sobretudo quando a perda da conviviabilidade orgânica acontece, podendo ser altamente capitalizado em condições de normalidade; o investimento em saúde deve ser intensificado, ao mesmo tempo que o investimento em armamento deve ser reduzido; a rede não deve ser atacada como está a ser pelo papel que tem vindo a desempenhar designadamente na conviviabilidade, mas também na participação da cidadania na gestão do seu presente e do seu futuro e no acesso ao conhecimento. Tantas e tantas conquistas que deverão ser, com vantagem, adoptadas sem alterar o essencial do nosso modelo de desenvolvimento, mas corrigindo-o e melhorando-o. A iniciativa que acima referi é interessante não porque avance grandes e inovadoras ideias, embora vá no sentido correcto (reforço político e decisional da União, aposta na cultura, reforço da componente social e solidária, democracia deliberativa, etc.), mas porque evidencia a genuína preocupação de pessoas que já desempenharam funções de grande relevância política ou se notabilizaram pela sua actividade profissional, designadamente no plano cultural. Que os políticos no activo assumam também eles os desafios e lhes respondam com imaginação, coragem e determinação é o que a cidadania mais espera deles. #Jas@2021.

“S/Título”. Detalhe.
A QUESTÃO DA HEGEMONIA*
Artigo. Nova Versão. Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 01-2021.
ESTA É UMA QUESTÃO que parece estar, actualmente, arredada da política activa, mas não está. Quando mais parecia que a ideologia tinha perdido direito de cidadania, que tinha hibernado, e que a política estava a ficar cada vez mais reduzida à ideia de governança, de gestão asséptica do poder com vista à resolução dos problemas concretos das pessoas, eis que a ideologia entra em força na política, não já através dos clássicos veículos políticos, os partidos, mas sim através de movimentos políticos de novo tipo que, por um lado, pretendem resgatar a política subtraindo-a ao espartilho do establishment e das partidocracias de diverso tipo – sobretudo os populismos -, e, por outro, procuram reintroduzir mundividências identitárias com ambições hegemónicas, quer no plano cultural quer no plano especificamente linguístico, lugar onde se dá o combate ideológico e onde a apostasia pode ser mais visível e moralmente castigada, para além mesmo das regras do Estado de Direito. Populistas e identitários, uma nova realidade a crescer no ambiente politica e culturalmente anémico do establishment e da sua política sem alma e sem ambição. O que, em abono da verdade, é catastrófico e incompreensível para um centro-esquerda que reivindica uma visão progressista e transformadora da história.
POPULISTAS E IDENTITÁRIOS
O CONCEITO DE POPULISMO parece ser hoje a chave comum de interpretação do fenómeno político, sem que haja uma rigorosa definição do que significa, entrando nele tudo e o seu contrário. É ver as tipologias que por aí circulam e dá para perceber que há populismos para todos os gostos. Mas, conceito operacionalmente eficaz e útil, eu entendo-o simplesmente como uma tendência que recusa a) a intermediação política; b) o establishment ou o sistema; c) considerando-se o legítimo intérprete (sobretudo através de lideranças de tipo carismático) do Volksgeist, que diz (com alguma razão) confiscado precisamente pelo mesmo establishment que combate, mas sendo certo que a sua base de apoio não é hoje a mesma do populismo russo originário, o campesinato pobre, teorizado por I. Herzen. É a este populismo – o que preenche cumulativamente estas três características – que me refiro.
O conceito de movimento identitário refere-se às tendências que identificam a natureza da totalidade social a partir das características de uma das suas partes, colonizando a totalidade e exibindo pretensões de validade universal. Exemplo: para o marxismo-leninismo, a totalidade social era determinada estruturalmente pela classe operária, considerada como a verdadeira matriz da história vindoura, do futuro; ou para o nazismo, em que a raça ariana era assumida como a verdadeira matriz da humanidade. A classe ou a raça como fundamentos da história. Os movimentos identitários absolutizam o discurso sobre si próprios remetendo para uma zona de sombra a totalidade e o discurso sobre ela. Numa palavra, ocupam o centro nuclear da totalidade social, configurando-a à sua medida e pretendendo determiná-la. Cito, a propósito, uma esclarecedora passagem do livro de Arthur Gobineau, o pai de todos os racismos, “Essai sur l’inégalité des races humaines”, de 1853-55, que inspirou o racismo europeu e, em particular, o racismo nazi:
“C’est alors que, d’inductions en inductions, j’ai dû me pénétrer de cette évidence, que la question ethnique domine tous les autres problèmes de l’histoire, en tient la clef, et que l’inégalité des racesdont le concours forme une nation, suffit à expliquer tout l’enchaînement des destinées des peuples ( itálico meu; da dedicatória a Jorge V, Rei de Hannover – Paris, Éditions Pierre Belfond, 1967, p. 29).
Mais claro do que isto é impossível, o que deveria levar a pensar duas vezes todos aqueles que, à esquerda e à direita, fazem da questão étnica o alfa e o omega da história e a razão última do seu combate nas sociedades de matriz liberal. O resultado destas palavras é bem, e tragicamente, conhecido na história.
Ambos, populistas e identitários, recusam, pois, por um lado, a velha tradição liberal quer no plano da representação política, a livre intermediação, quer no plano do universalismo, que se eleva acima do particularismo de ordens, classes, ethnos ou grupos sociais e da sua ambição a determinar a história, declarando possuir a sua chave de acesso. A utopia igualitária que lhe está associada, afinal, não é mais do que a hipóstase de uma visão identitária, onde cada identidade se propõe como a matriz do futuro e da cidade ideal. O discurso radical centrado sobre as classes, as raças ou o género, seja em que sentido for, é um discurso identitário. A luta entre raças ou entre géneros, por exemplo, substitui, equivalendo-lhe (metodologicamente), a velha luta de classes. A lógica é a mesma e centra-se numa relação de tipo amigo-inimigo, uma relação entre entidades orgânicas irredutíveis e incomponíveis. Por isso, a superioridade do racionalismo moderno sobre o organicismo consiste na justa subsunção destas entidades orgânicas na universalidade e no uso da razão como princípio unificador, sendo necessário, para tal, que se dê uma “separação” entre o particular e o universal, de modo a que (logicamente) possa ser accionado um principio ao mesmo tempo unificador e diferenciador. Este é, no meu entendimento, o segredo da filosofia hegeliana e a sua diferença (e superação) relativamente ao contratualismo.
Encontramos, assim, três visões: o populismo, os movimentos identitários de diversas inspirações e a visão liberal, iluminista e racionalista, inscrita na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
UM DEBATE ANTIGO
ORA, AMBAS AS TENDÊNCIAS se opõem, de facto, à visão liberal que está na matriz da nossa civilização e que deu origem, num primeiro momento, ao sistema representativo (com o mandato não imperativo) e ao Estado de direito e, depois, à democracia representativa, ou seja, à representação política e ao princípio “um homem, um voto”, com o sufrágio universal. Uma, porque é crítica da representação política tal como foi concebida pelos contratualistas liberais; outra, porque recusa o universalismo e o racionalismo em que se inspirava a visão liberal e iluminista. Falo, evidentemente, do liberalismo original, daquele que do regime censitário evoluiria para a democracia representativa, que tem como sua expressão mais avançada e progressista o liberal-socialismo ou o chamado socialismo liberal (de Stuart Mil a Hobson, Hobhouse, Dewey, Capitini, Rosselli, Gobetti, Calogero, Bobbio) e que deverá certamente evoluir para uma democracia deliberativa. Os populistas, por um lado, e os identitários, por outro, combatem em igual medida o universalismo e o racionalismo de inspiração iluminista e naturalmente todos os institutos que neles se inspiraram, a partir da revolução francesa. O próprio direito já foi, também ele, alvo de críticas identitárias e da formulação de alternativas. Os movimentos feministas (por exemplo, o movimento italiano dos anos oitenta) há muito que formularam reservas sobre a componente de género inscrita do discurso jurídico clássico, tendo também, mais tarde, a própria gramática sido objecto de uma limpeza de género. Por outro lado, é também conhecida a orientação soviética de um direito de classe (que se opunha a outro suposto direito de classe burguês) interpretado pelo famoso Procurador Vichinsky, por Stuchka e por Pashukanis, analisado e criticado por Kelsen nos anos ’50, na sua “Teoria Comunista do Direito”. A crítica não é, pois, muito recente nem original. E para a questão da representação política bastaria revisitar a crítica marxista ao sistema representativo naquelas extraordinárias argumentações do Marx da “Crítica da Filosofia Hegeliana do Direito Público” (Kritik des Hegelschen Staatsrechts) e da “Questão Hebraica “ (“Zur Judenfrage”). Ou então a polémica entre o comunista Paul Nizan (“Les Chiens de Garde”) e o liberal Julien Benda (“La Trahison des Clercs”). Ou, ainda, revisitar a crítica romântica ao iluminismo. São todas elas argumentações muito sérias e sofisticadas sobre as debilidades e os limites do sistema representativo, da democracia representativa e da visão iluminista e racionalista da sociedade e do mundo. Argumentações que tendem a repor um organicismo diferente daquele que foi definitivamente superado pela visão liberal da sociedade (o nacionalismo orgânico ou visões corporativas, identitárias ou comunitárias da moderna recomposição societária), mas que não deixa de ser, de facto, organicismo. Das profissões às classes, ao ethnos, ao género. Organicismos de vária índole com pretensões de validade universal. Mas a verdade é que foi a visão iluminista, universalista e racionalista que triunfou e se constituiu como matriz da nossa civilização, tão magistralmente formulada nos dezassete princípios da “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, de 1789. Na minha opinião, o que está a acontecer é uma gigantesca tentativa de agressão à matriz da nossa civilização tão brilhantemente formulada no documento redigido em Agosto de 1789. Uma coisa é aperfeiçoar um sistema plurissecular, outra é desenvolver um revisionismo radical da história.
UMA NOVA HEGEMONIA
O QUE ESTÁ A IMPOR-SE, de facto e com grande força, na sociedade actual é uma tendência (com duas faces interactivas e dinamicamente especulares) que ameaça tornar-se hegemónica, pondo em causa alguns dos mais importantes pilares da nossa civilização em nome da erradicação das diferenças sociais, da devolução do poder à entidade mítica do povo e da concretização dos valores da utopia igualitária, chegando-se até a considerar toda a evolução humana à luz de utopias que acabam por deitar sombrias nuvens sobre um passado que há muito já passou e até mesmo sobre passados que na sua época foram revolucionários, como, por exemplo, o primeiro liberalismo, em relação ao Ancien Régime, ainda que censitário. Esta tendência que se tem vindo a infiltrar com grande sucesso no uso institucional da linguagem e na agressividade manifesta de todas as visões fracturantes e identitárias representa uma séria tentativa de afirmação política e de hegemonia, por canais diferentes dos canais tradicionais e em nome de uma utopia igualitária. Ela representa o domínio e o controlo público da linguagem socialmente tipificada, particularmente no que se refere às idiossincrasias identitárias e à afirmação de um asseptismo linguístico com sabor totalitário.
Do que se trata, neste caso, é da tradução em linguagem pretensamente asséptica e universal de visões do mundo ancoradas em organicismos identitários e fracturantes que se assumem como centrais no sistema social e portadores do futuro, tal como, para o marxismo, a (consciência de) classe (operária) representava a intencionalidade estrutural que haveria de levar à sociedade sem classes. A “consciência de classe” da classe operária estaria, ao contrário da consciência de classe burguesa, em sintonia com a intencionalidade imanente da totalidade social que determina o futuro. É esta, por exemplo, a posição de Lukács em “História e Consciência de Classe”, uma obra de 1923. No caso do populismo o que está em causa é a reposição da centralidade do povo-nação, a recusa da intermediação e da fragmentação identitária da totalidade social e sua pretensa validade universal. Um organicismo (nacionalista e soberanista) oposto ao organicismo identitário, duas faces da mesma moeda que se alimentam reciprocamente e que estão a espartilhar as tendências políticas que, embora com nuances diferentes, se reconhecem no património liberal, iluminista e racionalista originário e seu legado histórico.
A ABULIA DO ESTABLISHMENT
MAS O QUE É MAIS CURIOSO é que os partidos do establishment parece não se darem conta da verdadeira natureza do processo identitário, alinhando muitas vezes com os movimentos que o promovem e não reconhecendo que são estes que mais alimentam o populismo soberanista. E porquê? Na minha opinião porque estão a ser vítimas de um crescente défice de cultura política, da redução da política à governança e do desconhecimento de que não pode haver política sólida e duradoura se não se preocuparem com a hegemonia (no sentido gramsciano), ou seja, com a afirmação pública de uma sólida visão do mundo capaz de mobilizar estrategicamente a cidadania e funcionando como sua cartografia cognitiva e axiológica. Um défice de gravitas no pensamento e na acção política, diria. É precisamente no cinzentismo político do establishment ou mesmo na cumplicidade com eles que crescem os movimentos políticos populistas e os movimentos identitários iliberais que tudo reduzem a fracturas identitárias em nome de uma simulacral utopia igualitária, a construir já e in progress. O que nem sequer, como já vimos, é muito original, porque esta visão apenas mudou na forma de enunciação, no tempo de execução e no contexto da sua afirmação, relativamente às velhas utopias. No meu modesto entendimento, este seu crescimento desmesurado e esta hegemonia deslizante que está a colonizar a linguagem que circula no espaço público estão a dar lugar à resposta populista de direita, numa autêntica relação especular e interactiva, sem que se veja um sobressalto político e intelectual das forças moderadas que nos vêm governando. Um exemplo? Olhemos para quem nos governa a partir dos ambientes alcatifados de Bruxelas, para a assunção acrítica deste asseptismo linguístico e compreender-se-á imediatamente o que pretendo dizer. A piorar o ambiente, e no meio de tudo isto, encontramos, diariamente, um protagonista perturbador que também deveria ser objecto de uma séria reflexão, vista a sua importância e o seu poder sobre a cidadania. Falo, naturalmente, da outra face do establishment político, ou seja, do establishment mediático, seu gémeo, que em achas para a fogueira se tem revelado altamente pródigo. É isto mesmo. E é sobre isto que os partidos moderados amigos do progresso e da harmonia civilizacional se deverão debruçar, antes que seja tarde.
CONCLUSÃO
AS SOCIEDADES estão a mudar em profundidade (e não só por causa do COVID19), a ideologia está a regressar sob novas formas, e não pelos melhores motivos, a política tradicional vive uma crise de anemia quer no plano da representação política quer no plano da cultura política, movimentos políticos de novo tipo surgem e ocupam o espaço público recorrendo a um novo tipo de populismo ou a mundividências fracturantes e identitárias com vocação hegemónica. Neste contexto, é incompreensível que partidos que se reivindicam do reformismo e da mudança continuem acomodados com práticas que há muito deixaram de corresponder à realidade emergente, descurando o imenso campo simbólico onde a competição política está a ocorrer com maior intensidade. Só assim se compreende que a luta pela hegemonia lhes esteja a passar ao lado. E o mais grave é que isto está a acontecer não só porque não fazem uma correcta leitura dos tempos que estamos a viver, mas também porque continuam embalados na velha política e no feitiço que tanto seduz os aprendizes de feiticeiro. Uma mistura mortal porque alia a ignorância ao deslumbramento.
*Texto revisto e aumentado relativamente à edição de 23.12.2020.
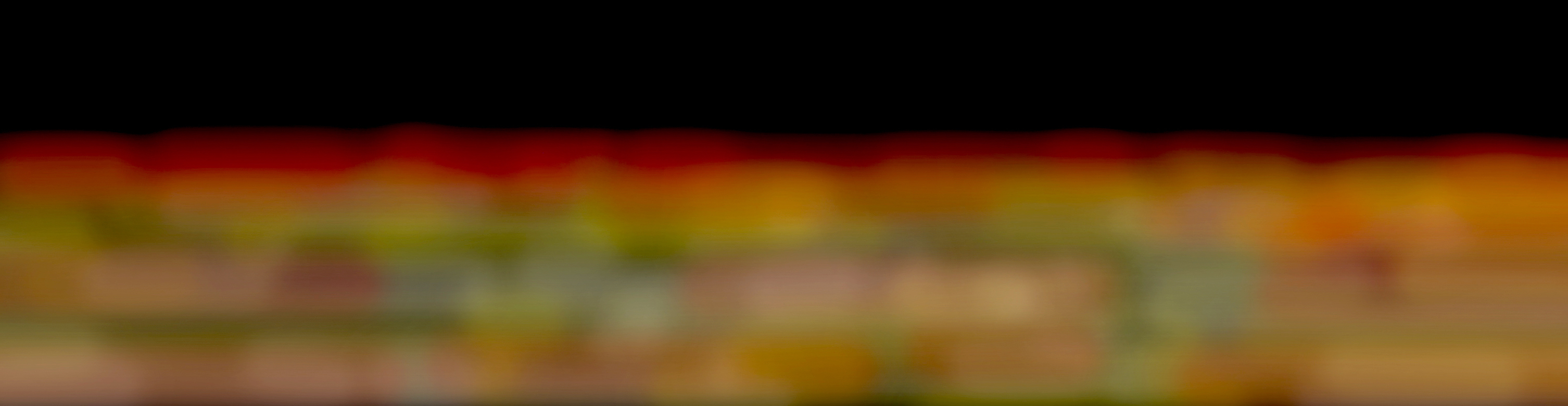
“S/Título”. Detalhe.
A QUESTÃO DA HEGEMONIA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 12-2020.
ESTA É UMA QUESTÃO que parece estar actualmente arredada da política activa. Parece, mas não está. Quando mais parecia que a ideologia tinha perdido direito de cidadania, que tinha hibernado, quando muitos proclamavam o fim da dicotomia direita-esquerda e a política parecia estar a ficar cada vez mais reduzida à ideia de governança, de gestão asséptica do poder com vista à resolução dos problemas concretos das pessoas, eis que a ideologia e a questão da hegemonia entram em força na política, não já através dos clássicos veículos políticos, os partidos, mas sim através de movimentos políticos de novo tipo que, por um lado, procuram resgatar a política subtraindo-a ao espartilho do establishmente das partidocracias de diverso tipo, os populismos, e, por outro, reintroduzem mundividências identitárias com ambições hegemónicas, quer no plano cultural quer no plano especificamente linguístico, lugar onde se dá preferencialmente o combate ideológico e onde a apostasia pode ser mais visível e severamente castigada, para além mesmo das regras do Estado de Direito.
UM DEBATE ANTIGO
AMBAS AS TENDÊNCIAS se opõem, de facto, à visão liberal que está na matriz da nossa civilização e que deu origem, num primeiro momento, ao sistema representativo e, depois, à democracia representativa, ou seja, à representação política, fundada no mandato não imperativo, e ao princípio “um homem, um voto”, com o sufrágio universal. Uma, porque é crítica da representação política tal como foi concebida pelos contratualistas liberais; outra, porque recusa o universalismo em que se inspirava a visão liberal. Falo, evidentemente, do liberalismo original, daquele que do regime censitário evoluiria para a democracia representativa e que tem como sua expressão mais avançada e progressista o liberal-socialismo ou o chamado socialismo liberal (de Stuart Mil a Hobson, Hobhouse, Dewey, Capitini, Rosselli, Gobetti, Calogero, Bobbio). Os populistas, por um lado, e os identitários, por outro, combatem em igual medida o universalismo de inspiração iluminista e naturalmente todos os institutos que nele se inspiraram a partir da revolução francesa. A crítica nem sequer é muito original. Basta revisitar a crítica marxista ao sistema representativo, mesmo naquelas extraordinárias argumentações do Marx da “Crítica da Filosofia Hegeliana do Direito Público” (Kritik des Hegelschen Staatsrechts) e da “Questão Hebraica “ (“Zur Judenfrage”). Ou então a polémica entre o comunista Paul Nizan (“Les Chiens de Garde”) e o liberal Julien Benda (“La Trahison des Clercs”). Ou, ainda, revisitar a crítica romântica ao iluminismo. São argumentações muito sérias e sofisticadas sobre as debilidades e os limites do sistema representativo, da democracia representativa e da visão iluminista do mundo. Visões que tendem a repor um organicismo diferente daquele que foi definitivamente superado pela visão liberal da sociedade (nacionalismo orgânico ou visões corporativas e identitárias da recomposição societária), mas que não deixa de ser, de facto, organicismo. Das profissões ao ethnos, ao género. E a verdade é que foi esta visão universalista que triunfou e se constituiu como matriz da nossa civilização, tão magistralmente formulada nos dezassete princípios da “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, de 1789.
UMA NOVA HEGEMONIA
O QUE ESTÁ A IMPOR-SE com grande força na sociedade actual é, de facto, uma tendência que ameaça tornar-se hegemónica, pondo em causa alguns dos mais importantes pilares da nossa civilização em nome da erradicação das diferenças sociais e dos valores da utopia igualitária, chegando até a considerar toda a evolução humana à luz de utopias que acabam por deitar sombrias nuvens sobre um passado que há muito já passou e até mesmo sobre passados que na sua época foram revolucionários, como, por exemplo, o primeiro liberalismo, em relação ao Ancien Régime, ainda que censitário. Esta tendência que se tem vindo a infiltrar com grande sucesso no uso institucional da linguagem e na agressividade manifesta de todas as visões fracturantes e identitárias representa uma séria tentativa de afirmação política por via da hegemonia, por canais diferentes dos canais tradicionais e em nome da utopia igualitária. Ela representa o domínio e o controlo público da linguagem socialmente tipificada, particularmente no que se refere às idiossincrasias identitárias e à afirmação de um asseptismo linguístico com sabor totalitário.
A INDIFERENÇA DO ESTABLISHMENT
MAS O QUE É MAIS CURIOSO é que os partidos do establishment parece não se darem conta deste processo, alinhando muitas vezes com os movimentos que o promovem. E porquê? Na minha opinião porque estão a ser vítimas de um crescente défice de cultura política, da redução da política à governança e do desconhecimento de que não pode haver política sólida e duradoura se não se preocuparem com a hegemonia (no sentido gramsciano), ou seja, com a afirmação pública de uma sólida visão do mundo capaz de mobilizar estrategicamente a cidadania, funcionando como sua cartografia cognitiva e axiológica. Um défice de gravitas no pensamento e na acção política, diria. É no cinzentismo político do establishment ou mesmo na cumplicidade com eles que crescem os movimentos políticos populistas e os movimentos identitários iliberais que tudo reduzem a fracturas identitárias em nome de uma simulacral utopia igualitária, a construir já e in progress. O que nem sequer é muito original, porque esta visão apenas mudou na forma de enunciação, no tempo de execução e no contexto da sua afirmação, relativamente às velhas utopias. No meu modesto entendimento, este seu crescimento desmesurado e esta hegemonia deslizante que coloniza a linguagem que circula no espaço público estão a dar lugar à resposta populista de direita, sem que se veja um sobressalto político e intelectual das forças moderadas que nos vêm governando. Um exemplo? Olhemos para quem nos governa a partir dos ambientes alcatifados de Bruxelas e compreender-se-á imediatamente o que pretendo dizer. No meio de tudo disto encontramos, diariamente, um protagonista perturbador que também deveria ser objecto de uma séria reflexão, vista a sua importância e o seu poder sobre a cidadania. Falo, naturalmente, da outra face do establishment político, ou seja, do establishment mediático,seu gémeo, que em achas para a fogueira se tem revelado altamente pródigo. É isto mesmo. E é sobre isto que os partidos moderados amigos do progresso e da harmonia civilizacional se deverão debruçar, antes que seja tarde.
CONCLUSÃO
AS SOCIEDADES estão a mudar em profundidade, a ideologia está a regressar sob novas formas, a política tradicional vive uma crise de anemia, movimentos políticos de novo tipo surgem e ocupam o espaço público recorrendo a um novo tipo de populismo ou a mundividências fracturantes e identitárias com vocação hegemónica. Neste contexto, é incompreensível que partidos que se reivindicam do reformismo e da mudança continuem acomodados com práticas que há muito deixaram de corresponder à realidade emergente, descurando o imenso campo simbólico onde a competição política está a ocorrer com maior intensidade. Só assim se compreende que a luta pela hegemonia lhes esteja a passar ao lado. E o mais grave é que isto está a acontecer não só porque não fazem uma correcta leitura dos tempos que estamos a viver, mas também porque continuam embalados na velha política e no feitiço que tanto seduz os aprendizes de feiticeiro. Uma mistura mortal porque alia a ignorância ao deslumbramento.
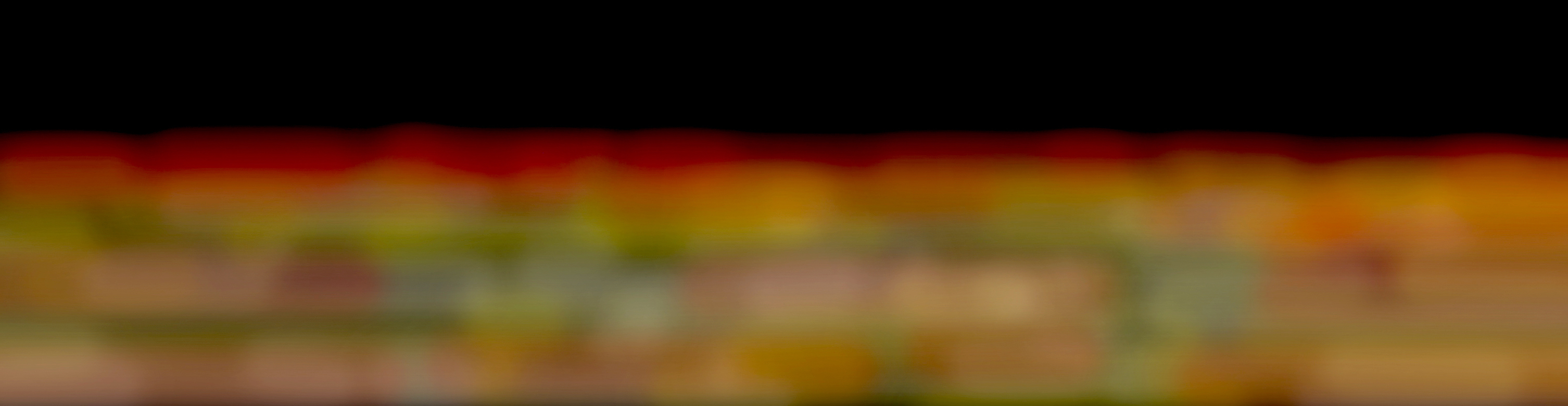
“S/Título”. Detalhe.
SENTIR, SABER & POETAR
A propósito de um livro de António Damásio
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 12-2020.
OU, MAIS CORRECTAMENTE, a propósito, não de um, mas de dois livros de António Damásio: “Sentir & Saber. A caminho da consciência” (Lisboa, Círculo de Leitores, 2020, 292 pág.s) e “O Erro de Descartes. Emoção, Razão e Cérebro humano” (Mem Martins, Europa-América, 1999, 309 pág.s). António Damásio, um verdadeiro iconoclasta. Primeiro, por dizer que, ao contrário do que pensava o René Descartes do “Discurso do Método” (1637), com o “cogito, ergo sum”, o princípio filosófico correcto deveria ser “sum, ergo cogito” (1999: 254; adaptação minha): “existo, logo penso”. Depois, veio também contrariar a Bíblia, que afirmava que “no princípio era o verbo” (João, 1.1), contrapondo que “tal como hoje sabemos, no início não foi o verbo” (2020: 31), embora, neste último aspecto, não tenha sido muito original, porque já Galileu dissera, em 1612, em carta a Marco Velseri, que “prima furon le cose, e poi i nomi” (Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, Torino, Einaudi, 1976, p. 110). Uma chamada ao real e a recusa do dualismo corpo-alma, pés bem assentes na terra, em ambos os casos. Na matéria mensurável e visível, para Galileu, na afirmação do protagonismo do organismo humano como ambiente onde tudo acontece, do universo das bactérias ou da homeostasia até à consciência, para António Damásio.
O que diz Damásio
NA VERDADE, quando decidi ler este mais recente livro de Damásio fi-lo por interesse, digamos, poético. Que lugar ocupam os sentimentos na economia do corpo humano? Como os define Damásio? Se o alimento da poesia é o sentimento, será interessante, para compreender a poesia, saber o que dizem os cientistas sobre este tão complexo e, ao mesmo tempo, tão simples dispositivo. Se é verdade que a arte aperfeiçoa os sentimentos, os eleva, os metaboliza esteticamente e, no caso da poesia, se é tão intensamente performativa, que lugar, afinal, eles ocupam na estrutura do ser humano?
E, de facto, este é um dos temas centrais deste livro que, de resto, continua a saga de Damásio para demonstrar os fundamentos naturais deste sofisticado ser a que chamamos humano. Dei-me, pois, ao trabalho de selecionar as treze mais importantes afirmações de António Damásio, em “Sentir & Saber”, sobre os sentimentos. Ei-las:
- “Os sentimentos são as experiências mentais primordiais” (p. 53);
- “podemos, como é óbvio, empregar palavras para descrever a experiência do sentimento, mas não precisamos da mediação das palavras para a sentir” (p. 110);
- “o fosso clássico que separou os corpos físicos dos fenómenos mentais é ultrapassado graças aos sentimentos” (p. 175);
- “os sentimentos são o componente primário da consciência” (175);
- “um dos alicerces da consciência são os sentimentos, cujo objectivo é apoiar a gestão da vida de acordo com as exigências homeostáticas. Na marcha da evolução os sentimentos estão a um mero passo da consciência, literalmente a um meio passo. Constituem a pedra-base da consciência” (p. 188);
- “Os sentimentos contribuem para a criação de um ‘eu’” (“ancorado na ‘moldura do corpo’”) (p. 55);
- “Os sentimentos terão talvez iniciado a sua história como uma conversa tímida entre a química da vida e uma versão primitiva do sistema nervoso” (p. 105);
- “os sentimentos são sempre ‘informativos’” (107-108);
- “sentimentos: são as experiências mentais que acompanham os vários estados da homeostasia do organismo, quer sejam primários (sentimentos homeostáticos como a fome ou a sede) ou provocados pelas emoções (sentimentos emocionais como o medo, a raiva ou a alegria)” (p. 114);
- “a entrada em cena da consciência acontece pela mão dos sentimentos” (p. 118);
- 11. “os sentimentos assistem a gestão da vida” (p. 142);
- “Os sentimentos foram, e são ainda, o início de uma aventura chamada consciência” (p. 158);
- “a experiência humana da dor e do sofrimento tem sido responsável por uma criatividade extraordinária, concentrada e obsessiva, responsável pela invenção de instrumentos capazes de contrariar os sentimentos negativos que deram início a esse mesmo ciclo” (p. 165).
Sentimento e Arte
UMA COISA É CERTA: o ambiente em que acontecem os sentimentos é o organismo humano e estão sempre referidos a ele como se fossem uma das suas linguagens fundamentais, não sendo só expressão das flutuações do equilíbrio homeostático, mas sendo também reacções tendentes a repor o equilíbrio do ecossistema orgânico. São experiências mentais que se referem aos estados primários do sistema homeostático ou a estados suscitados pelas emoções. O que é curioso é que são considerados experiências primordiais, a base da consciência, contendo informações que servem para repor o equilíbrio homeostático. Achei muito interessante esta afirmação de António Damásio: “os sentimentos terão talvez iniciado a sua história como uma conversa tímida entre a química da vida e uma versão primitiva do sistema nervoso”. E interessante porquê? Porque fala de química, palavra tão usada para descrever em linguagem comum uma recíproca atracção espontânea, natural, entre dois seres humanos. Mas uma atracção que evolui para “conversa tímida”, para um diálogo que já envolve de forma elementar o sistema nervoso, constituindo-se como o “início de uma aventura chamada consciência”, a ponte entre a dimensão física do organismo e a sua expressão mental. Da química ao amor… e à poesia que o canta.
Mas, posto isto, que sentido tem este discurso para o fim que anunciei no início deste texto? Simples: os sentimentos têm uma dupla dimensão, física e mental, e só por isso podem fazer a ponte entre a dimensão corpórea e a consciência, ao mesmo tempo que funcionam como elementos que servem para repor o equilíbrio homeostático; tudo o que implique sentimentos tem, pois, uma dimensão física fundamental, mas também tem uma dimensão mental. Daí a sua natureza híbrida. Serve, pois, isto para dizer que este universo só pode ser dito com rigor por formas de linguagem que tenham, elas também, esta dupla dimensão e que, assim, consigam preservar esta natureza híbrida dos sentimentos. E é aqui que entra a poesia, mais do que o romance, porque este fala de forma analítica, ou seja, de forma exclusivamente mental, implicando, no acto de apreensão e de descodificação dos significados, a distância necessária a todos os actos de natureza intelectual. Pelo contrário, a poesia, não sendo analítica e possuindo uma dimensão dionisíaca (para usar a categoria nietzschiana), uma forte componente musical, consegue dizer os sentimentos confundindo-se com eles, vista a fisicidade e o carácter orgânico da sua linguagem. Não creio que seja errado afirmar da poesia o que Damásio afirma dos sentimentos: a poesia é uma experiência mental primordial. Aqui está, pois, o centro do discurso que me propus desenvolver. A proximidade ontológica da poesia ao corpo-organismo como sua linguagem primordial. E é esta proximidade plástica que lhe confere esse carácter performativo e essa capacidade substitutiva, em condições de repor, como resposta, o equilíbrio homeostático e, consequentemente, de produzir até o milagre da cura de um estado homeostático em disrupção. Esta é uma das razões porque não valorizo a poesia como artifício de palavras ou a poesia meta-semântica, ainda que musicalmente bela, a simples liberdade combinatória ou o virtuosismo estilístico.
Conclusão
E COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO ao serviço desta minha posição, sirvo-me ainda de mais uma fundamentada afirmação de António Damásio: “a experiência humana da dor e do sofrimento tem sido responsável por uma criatividade extraordinária, concentrada e obsessiva, responsável pela invenção de instrumentos capazes de contrariar os sentimentos negativos que deram início a esse mesmo ciclo”. Há nesta afirmação um duplo sentido: a experiência da dor e do sofrimento como ponto de partida para a criação e para a produção de beleza, mas também a criação como resposta à anomia orgânica, ao desequilíbrio homeostático. A criatividade aqui surge como resposta interesseira, sim, interesseira, a um problema e não como mero amor pelo belo, como actividade desinteressada, meramente contemplativa e livre, como sugere Kant, na “Crítica do Juízo” (I, Secção I, livro I, § 5). A poesia inscreve-se nessa mecânica profunda da harmonia homeostática, mas como resposta superior a estados de anomia que perturbam, mesmo fisicamente, o organismo.
Trata-se, afinal, de uma ideia simples, aplicável sobretudo à poesia pelas suas características intrínsecas e pela sua própria natureza. Não me preocupo com a liberdade que cada um tem de sentir e praticar a poesia como muito bem entender. O que me interessa aqui é sublinhar – como há oito dias fiz, com a pintura, em relação a Van Gogh, socorrendo-me de Heidegger -, por um lado, o fundamento ontológico da poesia e, por outro, a plena adequação da sua natureza plástica à sua caracterização como experiência mental primordial, no mesmo sentido em que o autor define o sentimento. Esta dimensão ontológica da poesia – que remete para esse mesmo sentimento que permite “a entrada em cena da consciência”… poética -, pode muito bem ser formulada por uma outra proposição que, glosando Galileu, soaria assim: prima furon i sentimenti, e poi le parole; ou, glosando Damásio: sinto, logo penso – o que tornaria de imediato possível e lógica a ligação do sentimento à poesia dando origem a uma ontologia poética. Ou seja, a poesia, também ela entendida como experiência mental primordial, manteria com o real uma posição semelhante à das proposições elementares, ou proposições protocolares, dos neopositivistas (Wittgenstein, Carnap, Neurath), por partilharem, ambas, em igual medida, de estados de facto (os sentimentos, neste caso) e do universo formal (a textura poética formal). A poesia, neste sentido, também apresentaria um carácter híbrido, tal como os sentimentos, fazendo a ponte precisamente entre a fisicidade destes e a sua mais elevada expressão estética. O conjunto das características funcionais da poesia torna possível manter esta dupla dimensão, possibilitando-lhe uma intensidade performativa que provavelmente nenhuma outra linguagem possui em grau equivalente. E, se assim for, a dedicação poética ganha ainda mais densidade do que aquela que parece ter. Falo, naturalmente, a partir de uma posição puramente reflexiva, mas também como praticante empenhado da arte de poetar. #jas@12_2020.
NOTA
Uma nota (aqui introduzida a 18.12.2020) sobre uma entrevista de António Damásio dada a José Cabrita Saraiva e publicada no Semanário “SOL” (18.12.2020, pp. 18-22), a propósito do libro “Sentir & Saber”, limitando-me a reproduzir o que sobre a poesia o entrevistado disse:
“Pense no grande domínio da literatura, e em particular da poesia. A maior parte dos poetas que nos podem deliciar com o seu trabalho eram pessoas que esta- vam constantemente muito cientes das suas vulnerabilidades e das suas fraquezas e daquilo que lhes corria mal na vida, e que foram capazes de transformar essas experiências, por exemplo de tristeza, em magníficas obras que nos deleitam. E isso é muito belo: até mesmo um aspeto como a tristeza pode ser gerador de respostas extremamente inteligentes e produtivas. A tristeza pode ser a fonte de uma resposta tão magnífica que pode não só remo- ver a tristeza como levar à produção de qualquer coisa de extraordinariamente bom e rico tanto para nós próprios como para os outros. Portanto devemos agradecer à História que o Shakespeare não fosse durante todo o tempo uma pessoa muito feliz. Ou que o Fernando Pessoa fosse como era. Ou que Emily Dickinson fosse como era. O fundamental é que se perceba que aquilo que é ser humano não é redutível aos aspetos cognitivos da mente”.
Vejo nestas palavras de António Damásio, e em geral na entrevista, concordância sobre o que aqui digo e o que, há muito, venho dizendo acerca da poesia.

“S/Título”. Detalhe.
REFLEXÕES SOBRE A ARTE
Um diálogo com van Gogh e Heidegger
Por João De Almeida Santos

“As Botas”, de Vincent van Gogh (1886).
LI COM ATENÇÃO E INTERESSE um pequeno Ensaio (“O Mistério do Dr. Gachet”) da autoria de Valdemar Cruz, na Revista do “Expresso” (04.12.2020, pp. 40-44), sobre Vincent van Gogh e o seu Retrato do Dr. Gachet. Sempre me interessei por van Gogh, desde os tempos em que lia muito Heidegger. Neste caso, trata-se da obra “Holzwege”, sendeiros ou caminhos interrompidos (na sua Floresta Negra, Schwarzwald), do capítulo sobre “A origem da obra de Arte” (cito a partir desta edição: Heidegger, M., Chemins qui mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962, pp.11-68 ). Confundem-se, estes sendeiros, e, muitas vezes cobertos de ervas, diluem-se na floresta sem marcar destino. E quando visitei, nas minhas viagens a caminho da Suábia, o Museu de Vincent van Gogh, em Amesterdão, comprei uma reprodução do quadro que retrata um par de botas de camponês, que ainda conservo na minha biblioteca sob a forma de quadro impresso em madeira. De facto, é esse o quadro que Heidegger analisa nesta obra. Mas confesso que nunca me ficou nada de especial das inúmeras (e desesperadas) vezes que li este prolixo capítulo, excepto, naturalmente, a orientação estratégica do discurso do filósofo de Freiburg-im-Breisgau sobre a arte e que dá sentido a todo este complexo (para não dizer palavroso) discurso: a obra de arte revela a verdade, “a arte é a verdade a pôr-se em jogo”; “a arte faz brotar a verdade” (pág. 61); “no quadro de Van Gogh a verdade acontece” (p. 43). Mais do que o belo, o que aqui está realmente em causa é a verdade, no seu sentido grego: alêtheia, verdade como desvelamento. A beleza seria um modo de a verdade acontecer. Mas verdade como desvelamento, não como “adaequatio”: a ideia de verdade e, portanto, também a ideia de arte como adequação ao real, como representação, descrição, cópia ou imitação não é correcta. Tal como a visão naturalista da arte. As botas de Van Gogh não representam, por isso, uma simples cópia de concretas botas de camponês ou camponesa. Isso não teria interesse. Todos sabemos como são e de que são feitas. O quadro é muito mais do que isso, não é uma mera representação. Tem dimensão ontológica, alude ao essencial, ao que nele se revela como originário. O que não poderia acontecer se a verdade ou a arte fossem concebidas como adequação ou cópia do real.
Heidegger, na verdade, sobrepõe a ideia de verdade à ideia de arte. A obra de arte estaria ao serviço do Ser, do seu desvelamento, logo, da verdade. E a ser assim, ela seria um meio de conhecimento, um meio de acesso àquilo que não se revela como imediatidade, que não se dá integralmente através através dos sentidos, sensorialmente, mas sim através do processo cognitivo inscrito no juízo estético. Uma espécie de arte meta-sensorial, não meramente denotativa, mas sobretudo alusiva. O artista criador como um hermeneuta, um arqueólogo que nos propõe uma obra a decifrar com os códigos da estética.
A Arte e o Apelo Silencioso da Terra
SEGUNDO HEIDEGGER, nós olhamos para a obra de arte, neste caso para as botas de camponês, e viajamos até à terra e a toda a metafísica que a envolve, até à sua ontologia, ao seu sentido originário. Os que a criam e os que a fruem. Sim. Mas a camponesa não. Ela não olha para as botas – usa-as. O seu é um critério de utilidade, enquanto o nosso é um critério estético. Mas um critério de acesso à verdade através da arte, enquanto descoberta ou desvelamento de toda a riqueza que está inscrita nestas botas pintadas e que remete para o “apelo silencioso da terra”, para a significação velada e silenciosa que brota da terra, da natureza. Sim, mas como diz Heidegger, “a camponesa, pelo contrário, simplesmente calça as botas”. Para ela vale simplesmente a sua utilidade e a certeza de que elas a ajudam a garantir a sua sobrevivência. Na obra de arte ficámos a saber o que realmente é o par de botas: “a tela de Van Gogh é a abertura daquilo que o produto, o par de botas de camponês, é, na realidade” – a eclosão do seu ser, o “advento da verdade”. Na obra de arte exprime-se mais do que uma simples funcionalidade. Alegoria e símbolo, as marcas da arte, são, pois, os seus elementos essenciais, entendendo estas duas palavras no seu sentido grego originário: falar para outrem publicamente (allo agoreúein) e reunir (symbalein): “A alegoria e o símbolo fornecem o quadro na perspectiva do qual se move, desde há muito, a caracterização da obra de arte” (p. 13). A arte exprime-se publicamente e reúne a forma e o sentido mais profundo presente na matéria de que a obra é feita. No fundo, diz Heidegger, “A beleza é um modo de permanência da verdade enquanto eclosão” (p. 43). Na arte comunica-se com outrem uma significação que resulta da combinação de elementos, a começar da forma com a matéria – alegoria e símbolo.
Van Gogh e o Dr. Gachet
ESTA POSIÇÃO tem interesse, porque, afinal, a verdadeira obra de arte tem três características fundamentais, no meu entendimento: não se revela aos sentidos na sua imediatidade sensorial, não é imitação ou cópia do real e desvela o que de outro modo não seria possível desvelar. Daqui a centralidade da Poesia (Dichtung) na arte. Ou seja, a arte não fala somente nem essencialmente aos sentidos, mas à alma e à sabedoria. Nela está presente uma espécie de sincretismo formal que lhe permite aludir à totalidade, ao sentido oculto. A beleza exprime a verdade com a linguagem sensorial, como obra. Funciona como apelo sensível ao desvelamento do essencial, o oculto. Heidegger remete, assim, a arte para a esfera da ontologia e do conhecimento que dela resulta: conhecer é desvelar, descobrir, mostrar. Não se trata, pois, na arte, somente de pura fruição (mais do que queria Kant na “Crítica do Juízo”: desinteresse, contemplação, liberdade – I, Secção I, Livro I, §5). Na arte dá-se o ser, revela-se o oculto. E esta sua posição remete-nos para a origem da obra de arte, para a razão última da obra, para o seu sentido e para a razão última do acto de criar. No artigo sobre o “Retrato do Dr. Gachet”, acima mencionado, é referido várias vezes que neste quadro há mais van Gogh do que Gachet. Um auto-retrato por entreposta pessoa: um médico que o artista consultou. Aquela melancolia, aquele olhar vago ou perdido no seu horizonte interior, aquele abandono seriam a expressão estética da própria alma do artista. O olhar, sempre um olhar desconfiado do real, lateral, um pouco de través que se encontra nos seus inúmeros auto-retratos. Ou seja, o que Van Gogh pintou não seria o Dr. Gachet, mas a sua própria melancolia e vagueza, através de outro rosto (ambos viajavam nas mesmas águas da arte e psicológicas). E quando penso na arte a partir da poesia – que Heidegger valoriza a um nível elevadíssimo, em especial quando fala do seu conterrâneo Hoelderlin – penso exactamente no desvelamento da alma e do corpo, na revelação alegórica, também no sentido grego, do ser constituinte profundo do poeta sofrido através da palavra e da sua musicalidade (melódica e harmónica), os instrumentos musicais que lhe dão consistência estética e que prolongam nos sentidos a dimensão estética e semântica da oferta, da obra. Parece-me que, nesta arte, não há grandes dúvidas de que se trata efectivamente de revelação do vivido profundo, de exposição de pulsões existenciais com densidade ontológica, onde se aninha e se expõe o ser do artista. Se as botas revelam esse nexo substancial entre a vida e a natureza que se exprime na relação da camponesa com a terra, o Dr. Gachet será o espelho onde Van Gogh revê a sua própria melancolia e vagueia. Deste rosto brota a verdade de Van Gogh, tal como das botas brota a verdade profunda, mas não reflexiva, da relação da camponesa com a terra. Esta mediação pela arte permite-nos, pois, ir mais fundo, densificar a experiência. O que não é permitido através da categoria da utilidade e nem sequer através do conhecimento como adaequatio (rei et intellectus).
Heidegger, Kant e a Arte
É O MODO heideggeriano de se aproximar ao universal subjectivo do Kant da “Crítica do Juízo”, na dimensão, também, aqui, do alegórico, no qual Kant funda a universalidade (através da publicidade e do consenso, e da adesão de cada um à proposta estética e ao gosto expresso) que decorre da conjunção do intelecto com a fantasia no juízo de gosto: “a comunicabilidade subjectiva universal do modo de representação própria do juízo de gosto (…) não pode ser mais do que o estado de ânimo do livre jogo da fantasia e do intelecto” (Kant, Crítica do Juízo, I, secção I, I, § 9). O universal subjectivo de Kant, corresponde em Heidegger, à universalidade inscrita na dimensão mais profunda da obra de arte, na dimensão ontológica do nosso estar-no-mundo, no “fazer brotar a verdade” da obra de arte. A universalidade do ser que se exprime na obra de arte e que também torna possível a sua pública comunicabilidade (enquanto alegoria). Esta visão da arte densifica-a e subtrai-a à captura do relativismo, do subjectivismo, do “banáusico” (Hannah Arendt) e, por isso, é uma visão amiga da arte, sim, embora, em Heidegger, colonize a sua dimensão mais sensorial e estético-expressiva pela ontologia. Este nexo íntimo da arte com a verdade esteve durante séculos ancorado no divino. Mas quando “deus morreu” (Nietzsche, “Assim falou Zarathustra”) haveria que subtrair a arte ao abraço mortal da banalidade, repondo nela uma dimensão ontológica. Eu creio que é isso que Heidegger tenta. Mas também creio que a inscrição da obra de arte numa intertextualidade estética (a história da arte) e numa referencialidade remota (por exemplo, a terra, como acontece com as botas de Van Gogh) lhe permitem ganhar uma robustez resistente à sua captura pela banalização, manter a sua aura e a sua solidez e irredutibilidade, como obra. Tenho bem noção de que a autonomia da forma relativamente à matéria é um adquirido e confere à arte uma identidade inconfundível ao mesmo tempo que a torna autopoiética, capaz de se reproduzir e expandir por dentro. O triunfo da forma, agora liberta da colonização narrativa externa, haveria de tornar a obra sujeito de si própria, significante e significado. Vê-se isso muito bem na dança moderna, a partir de Diaghilev e dos “Ballets Russes”. Mas o que eu penso é que esta dimensão autopoiética só é hiperbolizada numa evolução de tipo esquizofrénico quando perde o contacto com os nexos existenciais constituintes do ser humano, movendo-se apenas no plano “banáusico”, precisamente no sentido que lhe deu a Hannah Arendt. Mesmo quando ela regressa ao plano mitológico ou se alimenta do hermetismo ou de uma estratégia alquímica, dos valores da luminosidade ou da divina proporção, não só o referente se mantém firme e sólido, como o recurso intertextual sempre persiste. Na obra de arte acontece aquilo que eu, sem grande originalidade, chamaria, o dom, a graça, sem que seja necessário inscrever esta dimensão no divino e na predestinação porque esta graça pode muito bem assumir a forma de “insight”, de luz interior ou de um intenso estímulo que abale os alicerces do artista e o ponha a caminho do resgate pela arte, alimentando-lhe a energia criativa e comunicativa.
As Botas de van Gogh e a Floresta Negra
Regressando a van Gogh e a Heidegger, esta dimensão ontológica encontramo-la nas perturbações do artista e nas marcas evidentes e pregnantes que deixou na sua obra, mas também a encontramos no fascínio pelos sendeiros interrompidos da Floresta Negra, em Heidegger. Ele viu a botas de Van Gogh a partir da terra húmida e dos sendeiros sem destino do Schwarzwald da Suábia, onde tinha o seu Chalet. Na pintura altamente competente e racional de Van Gogh encontramos com facilidade elementos fundamentais onde se inscreve a tempestade psicológica que o atormentava e que o levou a procurar o Dr. Gachet, uma espécie de duplo onde ele se reviu como num espelho e, por isso, o pintou. Pouco tempo antes de se suicidar e de se comparar a um cego que pede a outro cego para o guiar antes de cair no buraco profundo e irreversível da morte. Heidegger tinha (julgo eu) botas parecidas com as de Van Gogh e talvez por isso e pelo que elas representavam para ele quando caminhava na Floresta Negra decidiu escrever sobre elas o que escreveu, ou seja, inscrevendo-as na sua ontologia e na sua leitura de fundo e crítica da história da filosofia ocidental: o seu resgate através de uma ontologia, de uma filosofia do Ser e de uma ontologia da arte.
Conclusão
Tudo isto parece confirmar o que eu próprio penso da arte (liberdade, contemplação, desinteresse, mas também resgate, alegoria, simbolismo… e sedução, a marca própria da arte). A arte como ontologia, graça, dom, no seu sentido laico, mas também como resgate do contingente, partilha como comunicação empenhada na sedução… com pretensões de validade universal, expressa em juízo estético partilhado. Arte com gravitas, com densidade. Coisa séria, muito séria porque envolve uma dimensão profunda da nossa própria humanidade. Em van Gogh a arte confundia-se com o seu universo atormentado na forma, no modo como se exprimia e nas atmosferas em que inscrevia os seus desenhos e nas figuras humanas que desenhava, incluída a dele próprio ou a do médico que escolheu para o serenar e que reconheceu ser um gémeo não só no amor pela arte, mas também nas tormentas que o assaltavam. Chamou assim o Dr. Gachet para a galeria dos “auto-retratos” que nos deixou. Humana, demasiado humana, a pintura de van Gogh, mas por isso mesmo poderosa e intensa lição do que é a arte, realmente. Arte com dimensão ontológica como queria o Heidegger de “Holzwege”.
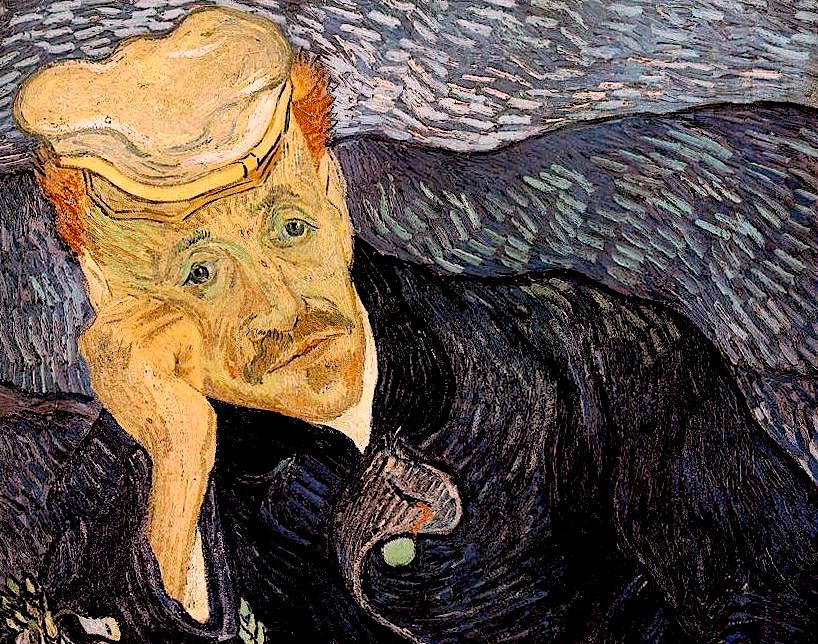
“Retrato do Dr. Gachet”, de van Gogh (1890).
OBAMA E A CRISE EPISTEMOLÓGICA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 12-2020.
À memória de Eduardo Lourenço, com carinho
BARACK OBAMA acaba de lançar o seu livro, “A Promised Land” (Crown Publishing Group, 2020, 768 pág.s). Sobre o livro, o ex-Presidente americano tem dado várias entrevistas. É sobre o que diz nelas que me debruçarei. Mas começo por dizer que, depois da Presidência Trump, a figura de Obama se elevou. A sua foi uma presidência serena e competente, embora não esteja isenta de críticas, como é natural. Mas não é essa apreciação que aqui proponho. O que proponho é uma reflexão que parte de algumas suas afirmações nestas entrevistas, em particular nas que deu a “The Atlantic” (publicada pela Revista do “Expresso”, de 27.11.2020, pp. 40-51) e ao Director de “El País” (publicada em 18.11.2020).
A Crise Epistemológica
E COMEÇO pela sua afirmação de que “estamos a entrar numa crise epistemológica”. Isto dito por um universitário teria um valor, ou um significado; dito por um ex-presidente dos Estados Unidos tem outro. Porque esta afirmação está ancorada na visão de quem protagonizou, durante oito anos, a política mundial a partir do seu mais poderoso centro de comando. E, ainda por cima, por um Presidente com uma sólida formação intelectual e académica (nas Universidades de Columbia e de Harvard).
Esta afirmação foi feita a propósito da grande revolução que as redes sociais provocaram na relação cognitiva dos cidadãos com a realidade: uma crise epistemológica, ou seja, uma crise do modelo cognitivo que subjaz à apreensão intelectual da realidade pelos cidadãos. Uma crise, portanto, que atinge o conhecimento na sua infraestrutura cognitiva. Em palavras simples, poderia dizer que, até ao advento da rede, a relação cognitiva dos cidadãos com a sociedade era intermediada por agentes que detinham o monopólio da representação social da realidade, ou seja, pelos media. Existia como que uma certificação do conhecimento e da informação acerca da sociedade porque ambos estavam confiados a profissionais claramente identificados, encarregados de selecionar o que merecia socialmente ser conhecido, a quem poderiam ser imputadas responsabilidades pelo que comunicavam e que agiam no interior de códigos éticos que deveriam respeitar, estando até sujeitos a sanções (que poderiam ir até à retirada da carteira profissional). A estes códigos (o primeiro de que há registo é o Código Harris, de 1690, e o que se reconhece como sendo o primeiro código ético efectivo é o Código do Kansas, de 1910) viriam juntar-se as entidades reguladoras (em Portugal, a actual ERC e a anterior Alta Autoridade para a Comunicação Social), que também garantiam a correcção de procedimentos e, sobretudo, a liberdade de imprensa.
A emergência das redes sociais veio, todavia, alterar o paradigma na medida em que abriu o acesso não só à informação, mas também à livre produção pública de informação pelos cidadãos, tendo, deste modo, acabado o monopólio do establishment mediático e o gatekeeping, o controlo do acesso ao espaço público. Assim sendo, é claro que no espaço público passou a circular não só informação não certificada como também as famosas fake news, tornando caótica a representação social da realidade que circula no espaço público e dando ao mesmo tempo poderosos instrumentos aos pescadores de águas turvas para atingirem fins que se situam fora do contexto democrático e das normas básicas de comunicação social. Ou seja, no espaço público passou a circular quer informação certificada quer informação não certificada, abrindo-se espaço para um uso puramente instrumental do espaço público, indiferente à normas que constam na generalidade dos códigos éticos e que regulam a prática informativa.
Uma Crise Anunciada
OBAMA vê Sarah Palin e o Tea Party como os agentes que introduziram em larga escala, por esta via (mas não só), no espaço público americano perigosos e disruptivos valores capazes de pôr em causa a tradição que remete para o pais fundadores da democracia americana. Trump acabaria por acolher de forma mais radical esta tendência, manifestando-se como um seu evidente, radical e poderoso representante, mas também como um seu forte acelerador. Com ele, a chamada crise epistemológica acentuou-se, passando a mentira a valer tanto como verdade na bolsa epistemológica de valores e de conhecimento. Ou seja, em termos de comunicação de massas, deixou de se saber o que é verdade e o que é mentira. Uma gigantesca amálgama, existindo para isto um seu forte acelerador tecnológico, o Twitter, ancorado, ainda por cima, na “auctoritas” presidencial (que nos Estados Unidos tem um altíssimo valor simbólico). Esta tendência foi entretanto reforçada pelo trabalho das grandes plataformas sobre os perfis dos usuários com objectivos puramente pragmáticos de previsão de comportamentos para uso comercial ou mesmo para uso político, como se verificou com a Cambridge Analytica ou como se está a verificar com as grandes plataformas que vendem “comportamentos futuros” dos users aos seus clientes. Uma análise minuciosa deste processo desenvolvido pelas grandes plataformas é feita no livro de Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, de 2019, e já deu origem a um apocalíptico documentário da NETFLIX sobre as redes sociais (como já aqui tivemos ocasião de ver e cuja recensão será em breve aqui publicada).
Obama fala dessa dupla dimensão da rede e das TICs: quer como tecnologias da libertação quer como instrumentos de insurgência. Cito uma significativa passagem da entrevista que deu a “El País”:
“A tecnologia é um exemplo da rápida mudança das coisas. O Iphone chegou em 2007. Há pouco mais de dez anos. Ao princípio, pensávamos que (as redes sociais) só trariam coisas boas, mas logo começámos a ver o seu lado obscuro. Durante a Primavera Árabe, as pessoas convocavam-se para a praça da Libertação através do Facebook e do Twitter para protestar contra a repressão do regime de Mubarak e para pedir mais democracia, mas, poucos anos depois, o ISIS começou a usar a mesma tecnologia para recrutar terroristas. De repente, apercebes-te de que a ferramenta que podem usar as crianças de uma remota aldeia de África para aceder às bibliotecas de todo o mundo é a mesma que se usa em Myanmar para promover a limpeza étnica e a opressão contra os rohingyas”.
Ou seja, se a desintermediação do acesso ao espaço público e a livre comunicação universal tornada possível pelas chamadas tecnologias da libertação e pelas redes sociais permite um seu uso para fins generosos e civilizacionalmente avançados, elas também permitem um uso criminoso e atentatório dos mais elementares valores humanos. Que fazer, então? Que posição assumir perante esta extraordinária invenção?
Os Valores do Rap e a Cultura de Massas
Ou seja, havendo, na rede, o melhor, mas também o pior, a solução só pode ter, segundo Obama, dois caminhos: a) combinar a sua regulamentação pública com práticas corporativas que ajudem a evitar um uso fraudulento e criminoso e a minimizar danos; b) mas também desenvolver uma ofensiva no plano da educação, valorizando os valores de uma sólida e sã epistemologia que prepare os jovens para um uso consciente, informado e crítico das novas tecnologias. Esta orientação tem pela frente, no pano social, uma realidade muito difícil que foi construída ao longo dos tempos pela própria cultura de massas, pela televisão e até pela música. Sabemos os danos que o tabloidismo desbragado do establishment mediático tem causado, através da “mass communication”, na cultura de massas. Mas Obama chega a falar dos efeitos deletérios da própria música rap, dos valores que estão dominantemente inscritos nas suas letras:
“tenho de me lembrar que, quando ouvimos música rap, é tudo sobre as jóias, as mulheres, o dinheiro”. São as métricas de sucesso de Donald Trump. “De repente”, continua, “começamos a ver ‘Lifestyles of the Rich and Famous’ com aquele sentido de que ou temos ou somos uns falhados. Donald Trump simboliza esse movimento cultural que está agora profundamente arreigado na cultura americana”.
Mais claro do que isto não seria possível. Sobretudo vindo do primeiro Presidente negro dos Estados Unidos.
Conclusão
A situação é, como se vê, muito complexa, e não é exclusivamente atribuível às redes sociais como muitos, que perderam o monopólio do acesso à esfera pública, pretendem. O fenómeno é-lhes muito anterior, embora tenha sido acelerado com as redes sociais… e com Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos. Mas, como ele reconhece, já não é possível voltar a meter o génio na garrafa, acabando com a internet ou com as redes sociais, tratando-se, de resto, de uma das mais profundas revoluções que a humanidade conheceu. Mas reconhece, isso sim, que é possível não só controlar o seu uso ilegítimo, desde que a política e as grandes plataformas o queiram, como, de resto, já tem vindo a acontecer, embora timidamente, mas também promover o seu bom uso, pela educação e pelo conhecimento. Se é verdade que uma visão apocalíptica do problema não resolve nada, até porque, de facto, não é possível voltar a meter no génio na garrafa, também é verdade que uma visão simplesmente integrada e não crítica acabará por permitir que o uso ilegítimo das redes sociais continue com as consequências nefastas que conhecemos. Uma coisa é certa: precisa-se de mais literacia da classe política sobre esta matéria. E o depoimento de Obama pode ajudar a isso, ele que usou, nas suas campanhas eleitorais, na linha de Howard Dean, as redes sociais como nunca antes acontecera.
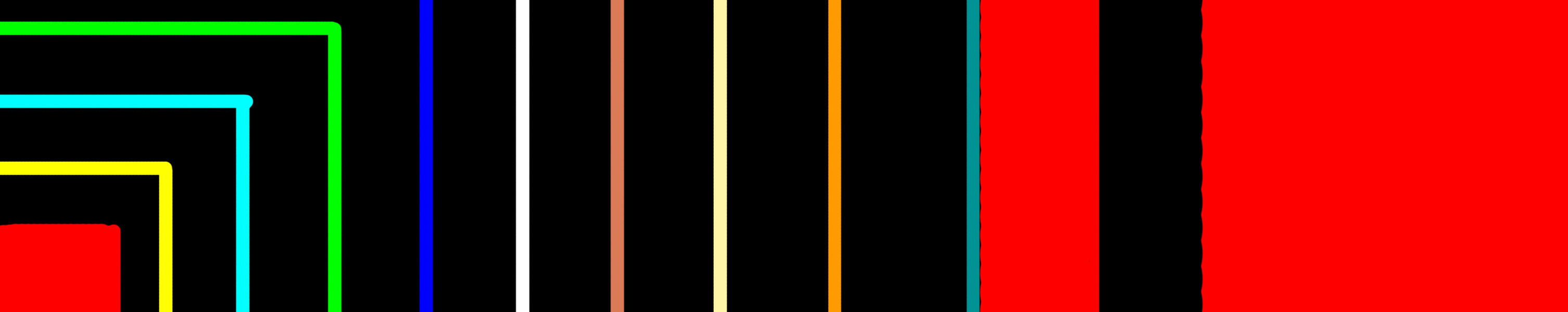
“S/Título”. Detalhe.
LAWFARE
O DIREITO COMO ARMA
João de Almeida Santos

“S/Título”. Jas. 11-2020.
ESTA PALAVRA é hoje usada para designar o uso extrajudicial do direito para fins de combate ao inimigo, seja em que frente de batalha for. O neologismo deriva da contracção de “law”, direito, com “warfare”, guerra, como se lê no recente livro “Lawfare”, publicado pela Almedina, da autoria dos advogados do ex-Presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, Valeska Zanin Martins e Rafael Valim, intitulado precisamente “Lawfare” (Coimbra, Almedina, 2020, p. 29). O Lawfare é usado pelos Estados ou pelos aparelhos do Estado para anular os inimigos ou vergar os alvos escolhidos. Antes de conhecer este conceito, bem consciente da prática que se generalizava, muitas vezes designei o uso do direito para fins exteriores à justiça como arma branca da política, na convicção de que, hoje, o uso das forças armadas e das forças de segurança é, com vantagem, substituível pelo uso “bélico” do direito para derrubar governos, instalar regimes, liquidar inimigos. Esta possibilidade foi tornada possível pelo crescimento do poder judicial no interior dos sistemas democráticos e na geometria dos poderes. Para este crescimento ou mesmo para a conquista da centralidade do poder judicial no sistema social já, há muito, Alain Minc tinha chamado a atenção em dois livros, L’Ivresse Démocratique (Paris, Gallimard, 1995) e, sobretudo, Au Nom de la Loi (Paris, Gallimard, 1998; edição em português: Mem Martins, Inquérito, 2000). Uma curta citação, a propósito. Falando do populismo e da sua execração à representação nacional ou a todas as formas de mediação política, Minc conclui: “todos corrompidos” é “o seu grito de união. E para se desfazerem da ‘ralé parlamentar’, um método: a delação; um instrumento: a pressão mediática; um recurso: o juiz”. Deste modo, “astros dos meios de comunicação (…), os juízes podem tornar-se, sem o quererem ou sem o pensarem, o braço secular do populismo” (Minc, 2000: 47-48). Mais claro do que isto é impossível. Maior coincidência com a posição dos autores brasileiros também não seria possível. Vinte e dois anos antes.
As Origens
ESTE PODER DA JUSTIÇA foi acompanhado pelo crescimento do establishment mediático, em particular a partir dos anos ’90, tendo-se estabelecido entre ambos uma aliança estratégica que viria a reforçar o seu poder. A leitura destes dois livros dar-nos-á um quadro bastante completo e analítico deste poder emergente que resulta da referida “santa aliança”. São conhecidos os casos mais radicais, mas o que mais marcou a cena internacional e a própria tessitura da narrativa, pelo seu pioneirismo e pelos efeitos que teve sobre todo o sistema político italiano, foi o caso de tangentopoli, com Antonio di Pietro como protagonista, que ficaria famoso não só por desmantelar o sistema de poder existente em Itália até ao início dos anos ’90 (a Primeira República), mas também por ter exposto ao vexame televisivo os inúmeros protagonistas da política italiana sujeitos a processo. Cito, a este propósito, de novo, Minc: “A Itália ofereceu-se, assim, há menos de cinco anos uma revolução certeira. Com a sua ‘guilhotina seca’ que baniu as antigas elites. Com o seu herói revolucionário, o juiz Di Pietro. Com o Palácio de Justiça de Milão transformado numa espécie de Convenção. Com as cadeias de televisão como se fossem clubes de sans culotes” (Minc, 2000: 47). Cenas de humilhação indecorosas que nada tinham a ver com o direito a processos justos. Sabemos como acabou: da Italia dei Valori de Di Pietro, o partido regenerador que fundou, à saída de sendeiro deste justiceiro, agora dedicado à agricultura. Sabemos também o que se lhe seguiu: cerca de duas décadas de protagonismo político de Berlusconi e a queda de Itália no ranking dos países desenvolvidos em competitividade, transparência e liberdade de imprensa (veja-se o meu Media e Poder, Lisboa, Vega, 2012, p. 220, nota 120). Depois, foi o caso de Baltazar Garzón, erradicado compulsivamente do sistema judicial por sentença do Supremo Tribunal. Também nos USA ficou famosa a perseguição do magistrado republicano Kenneth Starr ao Presidente Bill Clinton com vista à sua destituição por impeachment no famoso caso Lewinsky. O Presidente teria mentido ao Congresso acerca de relações sexuais com a senhora Lewinsky e por isso deveria ser destituído. E o caso de Eva Joly, que viria a abraçar a carreira política sobretudo com Europa Ecologia (com Cohn- Bendit), tornando-se eurodeputada e apresentando-se, mais tarde, como candidata à Presidência da República francesa, em 2012, obtendo 2,31% de votos. O direito ao serviço da política para a resgatar da má vida. O Estado que se serve do direito para atingir determinados fins. O recente caso do justiceiro Moro, protagonista central da Vaza Jato (a referência à Lava Jato, pelo Intercept Brasil, que denunciou publicamente as manobras de bastidor do juiz), é ainda mais radical – de juiz a poderoso Ministro de Bolsonaro, em pouco tempo demissionário destas funções.
O tema do lawfare é actualíssimo, num tempo em que Donald Trump foi, inutilmente, tentando, através do direito, ganhar o que afinal perdeu nas urnas, numa tentativa frustrada de usurpação política da justiça; ou no Brasil, onde o sistema judicial brasileiro promoveu um longo processo de desmantelamento do poder do PT, através do processo Lava Jato, da inacreditável destituição da Presidente Dilma Rousseff, mediante impeachment, e do impedimento da candidatura de Lula nas presidenciais de 2018, através de não demonstrada acusação e de inúmeros atropelos à justiça, logo a começar pela violação da Lei Constitucional e das normas da ONU ou pela divulgação ilegal de conversas da Presidente Dilma com Lula. Poderia continuar, por exemplo, em Portugal, mas fico-me por aqui.
Lawfare
A PROBLEMÁTICA chegou agora a Portugal em livro através da obra já referida. De resto, os seus autores acabam também de fundar o Lawfare Institute. No essencial, esta obra, enriquecida com um bom prefácio de Francisco Louçã, visa no essencial explicar o que é o lawfare, como funciona e para que serve, propondo, no final, três casos que ilustram com evidência esta prática pela Administração americana, na área económica (o caso da Siemens) e na área política (o caso do Senador republicano do Alaska, Theodore R. Stevens), e pelo poder judicial brasileiro (o caso do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva).
Verdadeiramente o que é que está em causa no lawfare? Simplesmente o uso extrajudicial e puramente instrumental da justiça. Ou seja, a justiça como arma usada para aniquilar o inimigo, em aliança com o poder mediático (as chamadas externalidades) e usando instrumentalmente meios jurídicos específicos para obter vantagem, a geografia processual, certas normas favoráveis à sua aplicação, como a delação premiada ou a plea barganing, e a temática penal da corrupção, tão insinuante e atraente para a opinião pública. Na verdade, do que se trata é de introduzir na luta política (ou comercial) a lógica da guerra, enquanto ela visa o aniquilamento do inimigo ou a sua submissão total aos desígnios do executante do lawfare. Aqui, o direito é usado como arma, mas tacticamente modulado, visando anular a resistência do alvo e vergá-lo ao seu desejo para obter o resultado previamente fixado. A justiça deixa de ser a tentativa de resolução pacífica de conflitos para passar a ser uma arma de destruição, uma arma de guerra, “softwar”. Tudo isto é claramente ilustrável contando o processo que levaria Bolsonaro ao poder e o juiz Moro a seu poderoso ministro. Mas os autores também explicam como o Estado americano vergou a Siemens, levando-a a cortar com qualquer tipo de relacionamento com o Irão, dando assim cumprimento à política externa dos Estados Unidos, ou como a relação de forças no Senado americano mudou com a condenação do Senador Stevens (Martins, Martins e Valim, 2020, p. 121-122).
Características Essenciais
TRÊS, no essencial, são, pois, as variáveis: 1) a geografia processual (a área jurisdicional mais favorável a um ataque eficaz; no caso brasileiro, Curitiba; no caso americano do Senador Stevens, Washington e não o Alasca); 2) o uso de normas favoráveis à pressão do aparelho judiciário (por exemplo, a delação premiada, permitindo simplificar a acusação); e 3) as chamadas externalidades (ou a pressão mediática junto da opinião pública para legitimar a acção). É assim que funciona o lawfare,que se tornou um perigoso processo disruptivo do sistema democrático através de um dos seus três pilares fundamentais: o pilar judicial.
Uma Ameaça à Democracia
NA VERDADE, estamos perante uma enorme ameaça à democracia representativa e ao que ela representa para as sociedades contemporâneas, não só porque distorce a luta política, convertendo-a na lógica amigo-inimigo (de schmittiana memória), na lógica da guerra, mas também porque envenena o próprio poder judicial, minando drasticamente a sua própria legitimidade e a sua função. Nisto, o establishment mediático fica de rastos porque também ele fere irremediavelmente aqueles que são os princípios básicos da sua própria deontologia e esteio fundamental da vida democrática, transformando-se em perigoso inimigo quer da representação política quer da própria justiça. A aliança estratégica entre o establishment mediático e a justiça em vez de favorecer, como parece, a transparência da vida democrática e dos seus procedimentos introduz, pelo contrário, uma lógica que é estranha a ambos, anulando um longo, secular e delicado processo de composição jurídica entre a defesa dos direitos individuais e o interesse geral representado pelo Estado. Numa palavra, o lawfare corresponde a uma prática que é inimiga da convivência democrática e que se torna promotora de soluções políticas não democráticas e populistas, como já fora bem assinalado por Alain Minc nas duas obras citadas.
Eu creio que este livro também será muito útil ao nosso país, porque alerta para práticas que, afinal, têm vindo a ser usadas com grande eco na opinião pública e que, afinal, podem ser muito, isso sim, favoráveis não só aos arautos do populismo português, mas também aos que na sombra pretendem determinar a evolução da nossa vida democrática e atropelar grosseiramente todos os que tiverem o infortúnio de se tornar seus alvos. O pelourinho electrónico não é forma de fazer justiça, nem o direito pode ser usado como arma para fins que são alheios à justiça. É, por isso, bem-vindo este livro.

“S/Título”. Detalhe.
OS MANIFESTOS ROSACRUZES
Uma tradição secreta com 400 anos de história (Alma dos Livros, 2020, Pág.s. 271). Autor - Rui Lomelino de Freitas
Por João De Almeida Santos

Rui Lomelino de Freitas, João De Almeida Santos, Ricardo Antunes na FNAC de Alfragide, 17.11.2020.
UMA BOA CONVERSA, hoje, 17.11.2020, na FNAC de Alfragide, com o autor do livro, Rui Lomelino de Freitas e o Editor da “Alma dos Livros”, Ricardo Antunes. A gravação ficará disponível no Youtube da FNAC a partir de 6 de Janeiro de 2021. Um excelente livro, com uma longa, exaustiva e cuidada introdução, os três Manifestos (“Fama Fraternitatis R.C.”, “Confessio Fraternitatis R. C.” e “Núpcias Alquímicas”), um Glossário com 30 entradas e uma bibliografia fundamental com 38 títulos. Ficamos a saber quase tudo sobre os Rosacruzes.
Os Princípios
AO QUE PARECE, tudo começou em Tuebingen am Neckar, a bela cidade da Suábia, onde, há muito, num período muito importante da minha vida, vivi, em Wanne, Hartmeyerstrasse. E tudo começou sobretudo graças a Tobias Hess e a Johannes Valentinus Andreae. Os três Manifestos são de 1614, 1615 e 1616. O último é um longo conto de cerca de 100 páginas. Os seus autores queriam mudar o mundo, enviando os Manifestos aos poderosos da Europa e propondo uma reforma geral e universal de todo o mundo. Inspiravam-se no hermetismo, no esoterismo cristão, na mística e na filosofia islâmicas e em Paracelso, o principal inspirador. Sua figura central era Cristão Rosacruz, o modelo humano, ou ideal-tipo, em que se ancoravam os rosacruzes. Moviam-se no interior da alquimia e das suas práticas, conducentes à espiritualização integral do ser humano. Os princípios em que se baseavam eram o regresso às Sagradas Escrituras, a filosofia natural, a centralidade do indivíduo, os valores da humildade, do silêncio e da cooperação, o paralelismo especular entre o macrocosmos e o microcosmos, a exigência de separação e purificação do contingente para a espiritualização e o acesso ao universal, com vista a uma reforma geral e universal de todo o mundo, a sua verdadeira utopia.
O Espírito do Tempo
É NA CONFESSIO que estão consignados os 37 princípios por que se regiam. Também para eles o número sete era o número perfeito: por exemplo, são sete os dias que Cristão Rosacruz leva para se conduzir com a sabedoria possível e permitida pelo Supremo às Núpcias Alquímicas. Johannes Valentinus Andreae, a quem são atribuídas as “Núpcias Alquímicas”, também escreveu uma utopia, “Christianopolis”, que integra o conjunto constituído pelas utopias da época, a “Utopia” (1516), de Thomas Morus, a “Cidade do Sol” (1602) , de Campanella, e a “Nova Atlântida” (1627), de Francis Bacon. Em geral, os rosacruzes alinhavam com o espírito da época, com a revolução científica (Copérnico, Galileu e Newton), a reforma luterana e a calvinista, o renascimento, o humanismo italiano (Pico della Mirandola, Lorenzo Valla e Marsilio Ficino) e com a recusa da autoridade do Papa e do seu poder universal de legitimação dos poderes políticos nacionais (através de bulas). Nessa altura, Hugo Grotius deu a machada final ao escrever o Mare liberum, publicado em 1609. Ou seja, os rosacruzes refutam a mundividência medieval, a autoridade do Papa e apostam numa reforma geral e universal da humanidade, inscrevendo-se nos grandes princípios que estruturam a modernidade.
Zenão, o Alquimista de Yourcenar
O QUE ME SUSCITOU uma enorme curiosidade foi o paralelismo entre esta mundividência e a de Zenão, o médico, filósofo e alquimista da Marguerite Yourcenar de “L’Oeuvre au Noir” (Paris, Gallimard, 1968). Zenão e Cristão Rosacruz. A mesma inspiração, a do médico suíço Paracelso. Um trajecto de viagens parecido. E sobretudo paralelismo com Paracelso, o grande inspirador dos Rosacruzes. Cito duas passagens da própria Yourcenar, na nota final à obra: Zenão teria “trinta e um anos quando morreu Paracelso”, “dont je le fais l’émule et parfois l’adversaire”(p. 495); e, ainda, “as viagens de Zenão, a sua tripla carreira de alquimista, de médico e de filósofo (…), seguem muito de perto o que se sabe ou o que se conta deste mesmo Paracelso, e o episódio da permanência no Oriente, quase obrigatório na biografia dos filósofos herméticos, inspira-se também nas peregrinações reais ou lendárias do grande químico suíço-alemão” (p. 497). Há evidentemente uma enorme simpatia da autora pela figura de Zenão (e, claro, pela alquimia, implicitamente considerada superior pelo desenho da simpática figura do protagonista) ao lado das convenções impiedosas e obscurantistas dos poderes político-religiosos daquele tempo. Mas era um moderado, Zenão. E nisto talvez se afastasse dos rosacruzes, que execravam a figura do Papa e previam a sua iminente queda. O título do livro (“Oeuvre au Noir”) designa nos tratados alquímicos a fase da separação e da dissolução da substância que era, diz-se, a parte mais difícil “du Grand Oeuvre” (p. 501). Convergência perfeita, se se entender que esta era a operação que visava superar (pela separação, pela purificação) a contingência, as rotinas e os preconceitos com vista à obtenção do ouro espiritual (pelos rosacruzes). A obra correspondia àquele balanço a que Kant chamou “Ausgang”, a saída da humanidade do estado de menoridade, pela elevação espiritual ao universo da Razão, balanço muito valorizado pela reinterpretação que Michel Foucault fez do escrito de Kant “Was ist Aufklaerung?” no ensaio “Qu’est-ce que les Lumières?” (1993).
“L’Oeuvre au Noir” baseou-se num minucioso estudo documental sobre a mesma época da Fraternidade Rosacruz, tendo Zenão nascido 104 anos antes de ter sido publicado o primeiro Manifesto. Mas, como vimos, a inspiração era a mesma, as fontes eram as mesmas, a orientação alquímica era a mesma. Talvez o assunto já esteja estudado, mas, mesmo assim, é caso para eu próprio avançar nesta pesquisa um pouco, no futuro.
Conclusão
O MOVIMENTO ROSACRUZ continuou e continua, seguindo caminhos diversificados. A complexa simbologia que encontramos nas “Núpcias Alquímicas” pode muito bem ser o pretexto para tentarmos decifrar o oculto que se encontra por detrás daquela riquíssima e fantástica imagética linguística, que, de resto, evolui ao longo de sete dias, sete. Alguma geometria e perfeição geométrica se encontrará nesta sofisticada narrativa. Talvez a leitura da utopia de Christianopolis, completada pela releitura de L’Oeuvre au Noir, ajude a fazer luz.
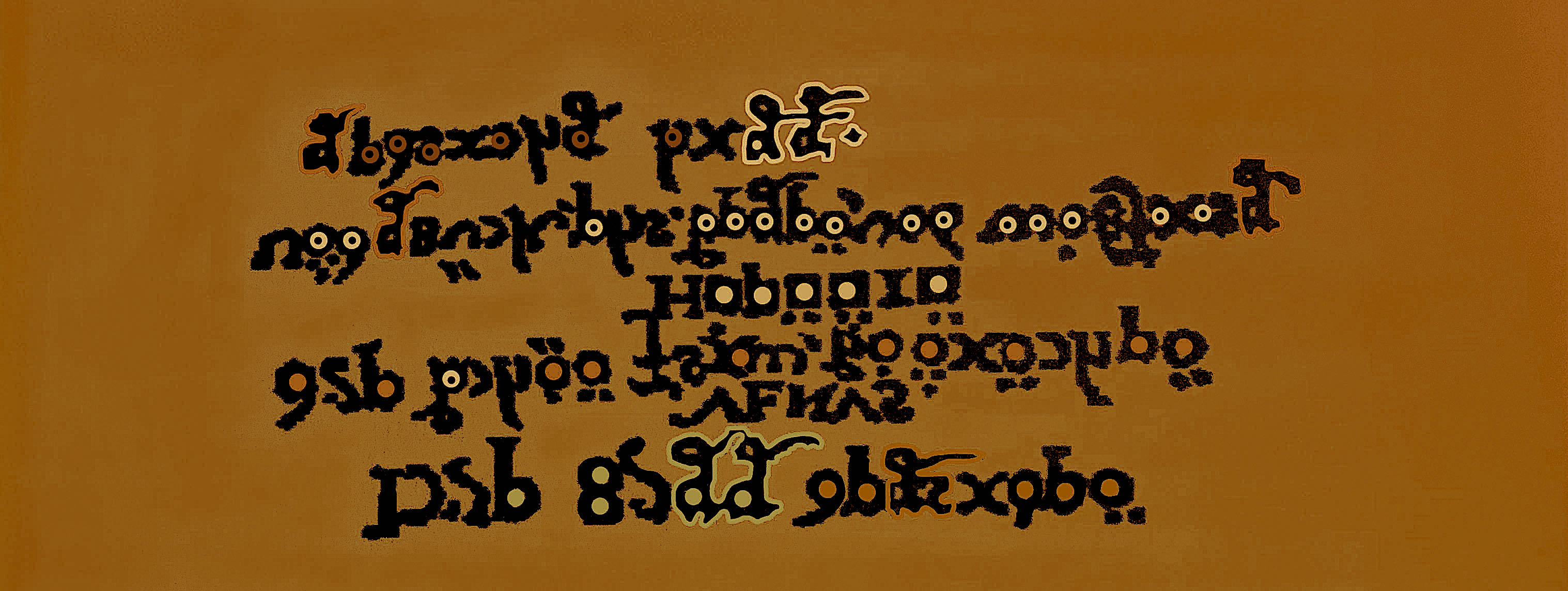
Elaboração de minha autoria sobre texto do Quinto Dia das “Núpcias Alquímicas”.
LINHAS VERMELHAS
Três Casos e uma Reflexão Por João De Almeida Santos

“A Linha do Horizonte”. Jas. 11-2020.
ARTIGO – “LINHAS VERMELHAS”
OS CASOS SÃO OS SEGUINTES: Steve Bannon o ideólogo do nacional-populismo internacional viu a sua conta e um vídeo apagados do Facebook, do Twitter e do Youtube por manifesto atentado ao “código de conduta” destas redes sociais; o antigo líder do Labour inglês, Jeremy Corbyn, foi suspenso do partido por permitir o crescimento do anti-semitismo dentro do partido, tendo ele próprio posições que roçam o anti-semitismo; o terceiro caso refere-se à formação de um governo regional nos Açores, da responsabilidade do PSD, ancorado num “geringonça” de direita que integrará o partido “Chega”.
Steve Bannon
O PRIMEIRO CASO remete para a necessidade, cada vez maior, de introduzir uma qualquer regulação nas redes sociais, dotando-as de um “código de conduta” (expressão que já foi usada pelas próprias plataformas) em rede com vista a impedir comportamentos não aceitáveis à luz dos grandes princípios das declarações universais e, em qualquer caso, não admitidos pela generalidade das constituições das democracias representativas. As administrações das grandes plataformas digitais têm esse poder e sofisticados meios digitais para controlar o uso das redes. Os meios de comunicação têm os chamados códigos éticos (que pouco praticam) e uma clara imputabilidade de responsabilidades legais e morais. As plataformas já têm alguma experiência neste controlo, tendo em 2019 assinado um “código de conduta” com a Comissão Europeia com vista a impedir a desinformação durante as eleições para o Parlamento Europeu. Bannon passou claramente das marcas ao dizer o que disse sobre Christopher Wray, o Director do FBI, e de Anthony Fauci, Director do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas. Ainda que fosse uma mera figura de estilo, ela seria sempre passível de uma interpretação violenta por parte dos militantes mais radicais, passando das palavras aos actos. Ao comportamento na rede, porque é público, deveria ser aplicado (mas considero que deveria mesmo quando é restringido ao círculo digital de amigos ou comunitário, no interior das plataformas), com as devidas adaptações à natureza do meio, um código de conduta próximo daquele que é aplicável aos media, com os princípios de uma comunicação responsável (tenho experiência pessoal de alguns cuidados – excessivos – que duas plataformas já usaram com duas obras minhas e não me queixo, porque prefiro isso ao seu uso desbragado).
Jeremy Corbyn
O CASO DE CORBYN é de uma extrema gravidade e fortemente prejudicial para o Labour: a suspensão de um líder do Labour acusado de posições que permitiram ou favoreceram o anti-semitismo no Labour, motivando a saída de inúmeros e importantes militantes judeus. Corbyn foi líder vários anos. O seu radicalismo pode explicar, por um lado, a não contida aversão à actual União Europeia e, lá no fundo, no fundo, desejar o Brexit, e, por outro, também uma certa aversão às políticas de Israel, em particular à sua política internacional. Sim, mas as diferenças políticas não se podem transformar em abstracto e ofensivo preconceito contra um país democrático onde até há um partido trabalhista – membro da (quase defunta) Internacional Socialista – que tem vindo a alternar-se no poder com o Likud, o centro-direita. Imagino o que não teria sofrido o Prémio Nobel da Paz e ex-Presidente de Israel, Shimon Peres, ao ver assim tratado o seu país por um grande partido irmão. Mesmo assim, trata-se de uma insólita suspensão de um ex-líder partidário num partido com os pergaminhos do Labour. A acusação veio da Comissão britânica dos Direitos Humanos e Corbyn, de facto, foi suspenso. O fundo da questão resume-se a isto: não se trata de diferenças políticas ou de juízos políticos sobre concretas políticas, mas sim de uma posição anti-semita de fundo de Corbyn que arrastou o partido para uma posição muito delicada ou mesmo insustentável, no plano interno e no plano internacional. Por isso, o actual líder, Keir Starmer acabou por tomar esta radical e insólita decisão: suspender Corbyn do Labour. Talvez seja excessiva, pois, Corbyn já não é líder, mas politicamente tem o significado de um alto preço pago pelo Labour e pelo próprio Jeremy Corbyn (que já disse que não aceitará a punição). Mas esta é questão interna de um partido político.
O caso do “Chega”
O TERCEIRO CASO diz respeito à formação do Executivo regional dos Açores na sequência das recentes eleições. Pondo de parte que o Ministro da República cometeu um erro grave ao não indigitar Vasco Cordeiro, que venceu as eleições, para formar governo e submeter o seu programa à vontade soberana dos representantes, retirando daí as devidas consequências no caso de o programa não passar, a questão politicamente mais delicada é a de a coligação liderada pelo PSD integrar o partido “Chega”. O PS declarou que, ao negociar com este partido, o PSD passou uma linha vermelha, ou seja, se colocou numa posição politicamente insustentável. Creio que o PS foi acusado, pela direita, do mesmo quando formou a geringonça com o PCP e o Bloco. Agora é a vez do PS. Uma simetria perfeita que não se deve estranhar. Que seja o parlamento a determinar a solução governativa é a natureza do sistema representativo que o exige, mas já a aliança com este partido corresponde a passar uma linha vermelha, diz o PS. Linha vermelha de risco, suponho. Não tanto, acho eu, linha vermelha constitucional. Sim, do ponto de vista do combate político e da defesa dos seus princípios o argumento tem todo o sentido, em especial para um partido do centro-esquerda, como é o PS. Posição, de resto, confortada pelo abaixo-assinado de algumas personalidades da chamada “direita democrática”, ontem tornado público. Mas, do ponto de vista institucional, não, já que o Chega é um partido legalmente constituído, está representado nos Parlamentos nacional e regional e, que se saiba, nunca foi objecto de qualquer acção que visasse declará-lo inconstitucional. A democracia tem esta virtude insofismável: permitir que quem age à revelia dos seus valores possa existir politicamente desde que cumpra as regras constitucionalmente e legalmente determinadas. Isto, para já não falar do poder da lógica integrativa: é melhor que este partido se exprima no interior das instituições do que o faça fora, nas ruas e nas praças, eventualmente com violência. Lembro que em Itália o xenófobo Matteo Salvini, “irmão” mais velho de André Ventura, foi vice-primeiro ministro e que, um ano e meio depois, acabou por sair do governo e conhecer um drástico redimensionamento na sua aceitação pela opinião pública, passando de um score eleitoral de cerca de 34% para valores médios das sondagens equivalentes a cerca de 24% (8 sondagens, no mês de Outubro). Uma democracia robusta não se amedronta com a arruaça ideológica nem se socorre da coerção para derrotar os adversários. Dá-lhes um virtuoso abraço de urso. Para que fique claro: tal como defendi publicamente e de forma muito empenhada o acordo do PS com o PCP e o Bloco de Esquerda, também defendo a plena legitimidade de o PSD Açores formar governo com o apoio do “Chega”.
Conclusão
TRÊS CASOS, três respostas ao radicalismo.
Steve Bannon banido das redes sociais, uma medida que não terá mais do que uma importância simbólica porque não afectará a sua intervenção política, que é sobretudo desenvolvida em back office, nos bastidores da direita americana e europeia, através do “The Movement”. Mas pode servir como exemplo e sobretudo como ponto de partida para se chegar a uma forma de regulação na rede, estando já a ser dados alguns passos nesse sentido. As instituições políticas nacionais e supranacionais deverão ter um papel activo a desempenhar, como já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos.
Jeremy Corbyn suspenso do Labour, suspeito de anti-semitismo. Não se tratou aqui de diferenças políticas, mas de uma posição de fundo inaceitável para um partido social-democrata. É aceitável que Corbyn possa ser sibilinamente contra a União Europeia, exiba preferências de socialização dos meios de produção, mas já não pode ser aceitável que o líder de um grande partido social-democrata de governo e de um grande país europeu assuma atitudes (e ao que parece foram muitas as manifestações de evidente hostilidade e ofensivas para com Israel) que revelam um preconceito inaceitável sobre um povo que viveu a tragédia que conhecemos e uma solitária democracia que há muito vive em risco permanente.
Finalmente, a posição do PS sobre a formação do governo nos Açores. O PSD tem toda a legitimidade para formar governo com o “Chega”, partido presente nos Parlamentos nacional e regional e não declarado inconstitucional. Pagará um preço político por isso. Mas a diferença política, que é saudável, não pode transformar-se em pregação moral quando a acção política decorre no quadro constitucional. Quase apetecia relembrar o velho ditado: “faz o que eu digo, não o que eu faço”. No meu modesto entendimento, é melhor que a extrema-direita esteja representada no Parlamento (ou que, por via de eleições, até possa fazer parte de uma solução governativa) do que a fazer agitação nas ruas e praças deste país, eventualmente com violência e polarizando o descontentamento generalizado da cidadania, com perigosos resultados políticos.

“A Linha do Horizonte”. Detalhe.
NOTA SUPLEMENTAR ao artigo “PLUTOPOPULISMO OU DEMOCRACIA?”, com actualização da Ilustração “QUO VADIS?”
JOE BIDEN É O NOVO PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS
A Democracia venceu o Plutopopulismo
Por João de Almeida Santos

“Quo Vadis?”. Jas. 11.2020. Modificado.
ARTIGO - "JOE BIDEN É O NOVO PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS"
JOE BIDEN VENCEU as eleições presidenciais americanas, que ocorreram na Terça-Feira, dia 3 de Novembro. Num país tecnologicamente tão avançado são precisos quatro dias para se conhecer o vencedor. Mas diga-se a verdade: Biden teve mais de 4 milhões de votos populares do que Donald Trump. Na maior votação de sempre dos Estados Unidos, Joe Biden foi o candidato mais votado da história americana (com uma abstenção de cerca de 36%) e, no fim, depois de uma contagem verdadeiramente sofrida, acabará também por bater o adversário com (Previsivelmente) 306 grandes eleitores, em 538. Para os que falam de irregularidades é preciso lembrar que o voto popular, onde Biden obteve cerca de + 2,8% que o adversário, confirma que os americanos preferiram Biden a Trump.
O Voto Popular
MAS HÁ QUE DIZER que a base eleitoral dos republicanos acrescida do estilo espalha-brasas, arlequinesco e burlesco de Trump demonstrou a sua eficácia, o que significa que a política não exprime somente organicidade nem racionalidade programática e axiológica. A capacidade de falar directamente à emoção vale muito em política. Como, de resto, na vida, no amor, na fé. Mas é claro que nestas eleições, depois de um mandato presidencial atípico, a racionalidade venceu e confirmou o que vem acontecendo com uma impressionante regularidade: os americanos, fora do complexo sistema eleitoral, na verdade, preferem os democratas aos republicanos: Bill Clinton, Al Gore, Barack Obama, Hillary Clinton. Só John Kerry não venceu no voto popular. Todos eles, desde 1992, ganharam as eleições no voto popular, embora Al Gore e Hillary Clinton não tenham tido sucesso na eleição dos grandes eleitores presidenciais.
A Enorme Responsabilidade da Dupla Biden-Harris
Biden é um homem politicamente experimentado e certamente terá em consideração os cerca de 70 milhões de eleitores que votaram em Donald Trump e no partido republicano. Um recorde, também, com um Presidente atípico e iconoclasta. E a verdade é que vivendo o mundo uma enorme e caótica crise, com várias faces, terreno fértil para os charlatães e pescadores de águas turvas, esta vitória de Biden acabará com o vigoroso estímulo ao crescimento de propostas populistas no mundo que a Presidência Trump representou, embora, em boa verdade, o plutopopulismo não tenha sido esmagado, vistos os resultados e a dimensão da base eleitoral de Trump. Caberá agora a Joe Biden e a Kamala Harris fazerem algo pela reconstrução da política americana, tendo também em consideração a influência que ela tem em todo o mundo. Falo de política, não de negócios. Sim, porque o problema é muito amplo e profundo. No meu entendimento, a fractura estrutural que se está a verificar reside no gap que existe entre uma cidadania de múltiplas pertenças que tem ferramentas de informação e de intervenção como nunca antes teve e o establishment, que continua a fazer política por inércia, sem sobressalto que o desperte para voos mais consentâneos com a nova identidade da cidadania e com os desafios que a humanidade tem pela frente. Um gap, ou fractura, central em política, em condições de abrir espaço ao surto de movimentos políticos de novo tipo capazes de disputar a centralidade no sistema. Instrumentos para isso já existem, continuando, todavia, a faltar enquadramento jurídico-político para esta nova realidade. Mas não creio que o fechamento institucional e constitucional em concha das actuais elites consiga evitar a mudança. Ela já está a acontecer e não pelas melhores razões. Assim sendo, não seria melhor abrir amplamente o sistema a novos protagonismos antes que outros e menos desejáveis acabem por se impor e consolidar, como ia acontecendo com estas eleições presidenciais americanas? Na verdade, a tarefa dos democratas, de novo na Casa Branca, não será somente uma tarefa americana. A responsabilidade é mundial. Para o bem e para o mal. Esperemos, pois, que a dupla Biden-Harris esteja à altura dos gigantescos desafios com que nos confrontamos. A União Europeia bem precisada está de um parceiro credível e empenhado para, juntos, condicionarem a política internacional pelas melhores razões, e não pelas piores.

“Quo Vadis?”, Detalhe.
PLUTOPOPULISMO OU DEMOCRACIA? (*)
AS ELEIÇÕES AMERICANAS Por João de Almeida Santos

“Quo Vadis?”. Jas. 11-2020.
ARTIGO - "PLUTOPOPULISMO OU DEMOCRACIA? As Eleições Americanas"
NOS USA, A COMPETIÇÃO ao último voto entre um candidato populista anti-sistema e outro que representa o que de mais sistema seria possível encontrar foi ao rubro. Ambos com mais de setenta anos (um com 74 e outro com 78). E, contra o iconoclasta, os democratas escolheram um ícone do sistema. As sondagens dos últimos dias davam Trump mais perto de Biden e o resultado parece continuar incerto, dada a natureza destas eleições. Um importantíssimo aspecto de que pouco se fala, de tão personalizadas serem e por isso polarizarem todas as atenções, é que nestas eleições também se desenha o perfil do poder no Congresso. A ver vamos. Já votaram dezenas e dezenas de milhões de americanos e, hoje, dia 3 de Novembro (no momento em que escrevo), concluir-se-á o processo de consulta aos eleitores. A escolha é clara: sistema ou anti-sistema. Mas é também entre previsibilidade e incerteza. E, ainda, entre um cinzento apparatchik e um burlesco arlequim. Tertium non datur. Quando, afinal, é mesmo disso que se trata, haver quem rompa este cÍrculo vicioso entre establishmente anti-establishment, sem revolução. Porque, afinal, assim como estamos, não se sai do establishment e da política dos pequenos passos, que, de tão pequenos, acabam por tropeçar na pura gestão dos interesses privados sem olhar ao interesse geral. Sim, porque da vontade geral pode não decorrer necessariamente o interesse geral.
Plutopopulismo
A SITUAÇÃO É DRAMÁTICA, quando se vive uma crise sanitária mundial com desfecho imprevisível sobre a vida dos cidadãos, por motivos de saúde ou por motivos de economia. E quando a este dramatismo se vem, nestes dias, juntar, no coração da União Europeia, um recrudescimento do militantismo homicida dos radicais islâmicos (Paris, Nice, Viena), numa espiral de violência simbólica e física entre um inconsequente e insistente caricaturismo islâmico e o terrorismo, num desafio trágico entre a liberdade laica e a fé islâmica, provocando danos maiores do que a causa do próprio conflito entre sátira e religião.
Vivemos tempos difíceis, sim, num tempo que também é de transição, de mudança civilizacional e que, por isso, exige reflexão, ideias e acção, com a necessária profundidade histórica.
Tudo isto, ao contrário do que pode parecer e do que se diz habitualmente, pede mais política e não menos política. Damos as mãos para combater o inimigo (externo) e não falamos de política? Não, porque o que acontece decorre directamente da política e só a política permite afrontar os perigos e a mudança. O pior que poderia acontecer seria ela chegar pelas mãos de um salvador, perante a passividade total do establishment e da cidadania. Na verdade, os tempos de crise são tempos de política pura e dura que se espera que não continue a ser interpretada, nos USA, por alguém alguém a quem são atribuídas cerca de 22 mil aldabrices desde o início do mandato, que envia da Casa Branca 200 tweets num dia e que, em dois anos, viu o seu Gabinete perder 30 altos colaboradores. Pelos vistos, os tempos estão maduros para gerarem aquilo que alguns já chamam plutopopulismo de fachada democrática, mas não tanto que o venham a consolidar precisamente naquele que é o mais poderoso e influente país do mundo. Plutopopulismo. É isso mesmo. Sem mediações. Nem políticas, nem financeiras. Tudo concentrado num homem só.
Que Fazer?
MAS, ENTÃO, A PERGUNTA de um milhão de dólares é a seguinte: que política?
O que sabemos é que a política tradicional, confinada no palácio, endogâmica e à procura de consenso na nova middle class socialmente maioritária está a demonstrar que é incapaz de interpretar a mudança profunda que está a ocorrer na sociedade e que começa logo precisamente na identidade e nos sentimentos de pertença de uma cidadania cada vez mais complexa. E também sabemos que os poderes fortes vivem melhor com a anemia da política e a discrasia da representação e que estas (política e representação), enfraquecidas, mas chamadas a ocupar o gigantesco palácio do Estado, se limitam a gerir o statu quo sem grandes rasgos, mas com alguma voracidade em cargos e benesses. Os diferentes arcos da governação é o que têm feito, associando o tecnocratismo ao relativismo pós-moderno e à crise das ideologias e dos valores. E quando os tempos ficam maduros para o regresso da política logo surgem os intérpretes do oráculo para revelar ao povo a boa nova e tempos de resgate da dignidade ofendida e perdida. É o que está a acontecer. Para compreender como estas coisas acontecem é só ver o início do filme da Leni Riefenstahl, Triumph des Willens, de 1935, a chegada do salvador vindo lá do alto, do céu, um “deus ex machina” que vem repor a ordem na desordem que está a ocorrer no palco da tragédia alemã que começou com o Tratado de Versailles e que continuou com a República de Weimar até ao gran finale do nazismo.
Há Razões para Sorrir?
NÃO SEI, no momento em que escrevo, o que irá acontecer nos Estados Unidos. Mas sei que nenhum dos dois candidatos seria a minha opção. Porque um e outro se movem dentro de um paradigma em crise, não oferecendo respostas credíveis para a resolver. Biden será a solução menos gravosa, sem dúvida, mas representa de forma intensa a confirmação daquilo que, afinal, constituiu a razão última da vitória de Trump nas eleições presidenciais de 2016. A vitória de Biden saberá, pois, a desforra do establishment, humilhado por Trump, ao derrotar Hillary Clinton. A de Trump significará que o sistema continua a ser incapaz de responder aos novos desafios, acabando por gerar, de facto, um plutopopulismo de fachada democrática, interpretado por um arlequim cada vez mais digital e televisivo. Em qualquer dos casos, não há boas razões para sorrir.
___________
(*) Artigo escrito (e não modificado) no dia 03.11, antes, pois, de serem conhecidos os resultados das eleições presidenciais americanas. No momento em que o publico (09:00 do dia 04.11) Biden, segundo o NYT, está com 227 delegados e Trump com 213 (havendo empate no Senado e uma curta vitória dos democratas na Câmara). Está tudo em aberto e o actual Presidente surpreende pelo número de estados em que vence, podendo mesmo vir a ganhar de novo estas eleições. Há que aguardar. Mas uma coisa é já certa: estas eleições merecem uma profunda reflexão sobre o caminho que a política está a levar. E não só nos Estados Unidos.

“Quo Vadis?”. Detalhe.
VEM AÍ A PÓS-DEMOCRACIA?
Ensaio
Por João de Almeida Santos

“A Bola de Cristal e o Futuro”. Jas. 10-2020.
COMEÇO POR DIZER que quando usamos conceitos como pós-democracia ou pós-representação a referência é sempre a democracia representativa. Os teóricos têm de estar sempre a inovar, mesmo que isso represente alguma violência ao real. Mas a criatividade teórica, para ser eficaz, precisa de conceitos estimulantes e desafiadores. Ora estes dois conceitos parece indicarem que a democracia representativa está velha, se consumou, se gastou. O que não é verdade, porque ela é muito jovem, se a medida for o tempo histórico, a longa duração. E até poderemos afirmar, sem risco de errar, que a democracia representativa até pode ser considerada uma utopia difícil ou mesmo impossível de alcançar.
Sufrágio Universal e Democracia
SEJA COMO FOR, a democracia representativa, que só existe desde que haja sufrágio universal, é, de facto, bastante jovem, pois ela não se identifica stricto sensu com sistema representativo, que é bem anterior, não sendo compatível com regimes censitários. O que tínhamos, pois, até ao sufrágio universal era simplesmente um sistema representativo em regime censitário. A sua história anda de braço dado com a implantação do sufrágio universal e, claro, com o sistema representativo. E é bastante jovem porque, neste sentido, a sua plena implantação histórica só se verificou verdadeiramente, passados três turbulentos e dramáticos decénios, na segunda metade do século XX, uma vez que, como disse, só da combinação do sistema representativo com o sufrágio universal poderá resultar a democracia representativa, sendo também certo que a pedra-de-toque que a distingue de todas as outras formas de democracia é o mandato não-imperativo. Ou seja, o mandato não revogável (sobre o conceito de representação veja-se o excelente texto de Diogo Pires Aurélio – Aurélio, 2009).
A Democracia como Utopia
DEPOIS, em boa verdade, ela configura-se como uma utopia se considerarmos que o voto, neste regime, tem poder constituinte, é individual, é secreto, é universal e convoca aquilo a que Kant chamou imperativo categórico, ou seja, que cada voto seja determinado pela ideia de que deverá ser assumido como se dele resultasse uma legislação universal com poder impositivo. O que significa que este voto, exprimindo uma profunda convicção (fundamentada e argumentada), traz com ele uma responsabilidade absoluta, como se o mundo viesse a ser regulado por ele. Um acto singular com pretensões de validade universal e, consequentemente com o princípio da responsabilidade como valor matricial. É neste princípio, difícil de atingir na sua plenitude, que se funda a democracia e que lhe dá um valor que nenhum outro regime consegue exibir. Um princípio que exige plena maturidade da cidadania.
Democracia e Mandato
E A CONFIRMAR esta leitura vê-se que o seu resultado é um mandato de tipo não imperativo: através dele o representante assume uma dimensão universal porque passa a ser titular do principal órgão de soberania, o Parlamento, esse mesmo que legisla segundo o mesmo princípio de universalidade, ou seja, de acordo com o interesse geral (da nação) e não de acordo com o interesse particular, seu, de classe ou regional. E nem sequer de acordo com o círculo eleitoral que o elege (veja-se sobre a natureza do mandato o Art. 7, Secção III, Cap. I, Título III, da Constituição francesa de 1791).
O Espaço Intermédio
MAS A VERDADE é que tudo está a mudar e, mantendo-se a matriz representativa originária, para a qual ainda ninguém conseguiu encontrar substituto válido, algo mudou no sistema representativo. E o que mudou reside, para além do sufrágio universal, na relação entre os representantes e os representados, aquilo a que alguém chamou “espaço intermédio” (Tagliagambe, 2009), aquele espaço que se situa entre a cidadania e o poder, entre a rua e o palácio, entre o acto do voto e o exercício do poder que dele resulta. Hoje tudo se sabe (a verdade e a mentira) e até é possível fazer política e comunicar para além daqueles que são os canais tradicionais de intermediação da política e da comunicação, partidos e media. Antes, não. E até era proibido (logo no século XVIII) informar acerca do que se passava no Parlamento. Ou seja, a participação política deixou de se reduzir ao (já tão reduzido, nos regimes censitários) acto de votar para designar a representação e legitimar o mandato. A ideia de participação cresce à medida que este “espaço intermédio” também cresce, ou melhor, é ocupado pelas plataformas de comunicação (social) ao serviço da relação entre os representantes e os representados.
Desintermediação e Democracia Deliberativa
ISTO ACONTECEU sobretudo com o aparecimento da televisão e, nos nossos dias, viria a aprofundar-se com a emergência da rede, das TICs e das redes sociais, ou seja, com a possibilidade de aceder ao espaço público deliberativo sem interferência dos chamados gatekeepers, dos mediadores, seja da comunicação seja da política. E foi por isso que o discurso sobre a pós-democracia (representativa) ganhou uma forte acuidade, lá onde o processo de construção do consenso e o processo de formação da decisão passaram a correr também noutros canais que não os tradicionais. Numa palavra, a política e a comunicação já estão desintermediadas, tendo terminado o monopólio da intermediação pelos tradicionais meios (media e partidos) (Biancalana, 2020). Por isso, alguns consideram que estamos perante uma pós-democracia (representativa) porque a representação deixou de ser a fórmula exclusiva para o exercício do poder; outros, como eu, consideram que esta nova fase pode ser favorável, não à pós-democracia ou à pós-representação, mas ao relançamento da democracia representativa se ela evoluir para uma democracia deliberativa, uma forma superior de democracia representativa que, em parte, vem resolver o problema do decisionismo e da fractura entre representantes e representados. Ou seja, uma forma de inclusão da cidadania na política e na democracia através de uma qualificação do consenso e do processo decisional, da metabolização política informal e formal (não simplesmente instrumental), pelos representantes, dos fluxos que correm na esfera pública deliberativa, onde hoje a cidadania poder intervir directamente sem mediações e gatekeeping. Numa democracia deliberativa a representação política mantém-se com as características de sempre, mas incorpora esse “espaço intermédio” que nos primeiros tempos do sistema representativo estava completamente vazio (após o voto, de resto, censitário, não era permitido conhecer o que se passava no palácio do poder, sendo crime a sua divulgação). Diria mais. Se, de facto, a política convencional desconhecer esta mudança radical estará condenada porque surgirão (como já acontece) forças que ocuparão este “espaço intermédio” contra a própria democracia representativa. O que já aconteceu, como se sabe: a intervenção da Cambridge Analytica no Brexit e nas Presidenciais de 2016 nos USA. A partidocracia e a mediocracia, ambas endogâmicas, representam esta cegueira relativamente ao que mudou radicalmente desde a criação do sistema representativo: da ocultação, legalmente sancionada, do exercício do poder (no século XVIII) passou-se à transparência total quer do exercício do poder quer dos seus próprios bastidores, devido à evolução dos meios de comunicação, ao sufrágio universal, ao progresso constitucional e, agora, ao novo espaço público deliberativo, com a network society e as suas componentes orgânicas.
Participação e Representação
VEM ESTE DISCURSO A PROPÓSITO de um pequeno ensaio de Michele Sorice, director do Centro de Investigação da Universidade Luiss (“Centre for Conflict and Participation Studies), de Roma, publicado como introdução ao volume da revista Culture e Studi del Sociale sobre “Conflito e partecipazione democratica nella società digitale” – vol. 5 (2), 2020. O ensaio tem precisamente como título “A participação política no tempo da pós-democracia” e o autor utiliza uma linguagem conceptual muito eficaz para abordar estas novas tendências em curso.
Michele Sorice vai ao tema directamente e chama atenção para o esvaziamento da ideia de conflito na competição política, para a diferença entre representação e participação, a redução da política a “governance”, a excessiva fragmentação da intervenção política na era digital (hiperfragmentação) e a consequente despolitização que tem vindo a ser associada à “network society”, o “imperialismo das plataformas”, reforçado pelo desenvolvimento do chamado “capitalismo digital”, designado como “capitalismo das plataformas”, e ainda para o conflito entre “os velhos espaços públicos da sociedade de massas” e a “hiperfragmentação” induzida pela “network society”. Sorice cita Colin Crouch, Post-Democracy After the Crises (Crouch, 2020), uma passagem em que este autor afirma que se tornou necessário rever as relações das redes sociais com a democracia e a pós-democracia, visto o uso que as grandes plataformas fazem dos perfis de milhões e milhões de utilizadores para fins de construção de um novo poder global precisamente pós-democrático e alternativo às elites tradicionais. E associa-lhes também as hiperlideranças, os populismos, os processos de despolitização e a chamada pós-esfera pública induzida pela “platformization”. E chama ainda a atenção para a deslocação do poder das oligarquias ideológicas da política tradicional para as elites tecnocráticas, plenamente funcionais às dinâmicas de comercialização da cidadania, a sua valorização mais como valor de troca do que como valor de uso. O que diz tudo. O autor liga o processo de plataformização à pós-democracia e à chamada pós-esfera pública. E é neste quadro, que, segundo ele, se coloca a crise de legitimidade dos partidos, a transformação dos movimentos sociais, a emergência de novas formas de agregação, como, por exemplo, os movimentos urbanos, o desenvolvimento da cidadania activa e a afirmação de novas formas de acção social directa. Crise dos partidos e emergência das plataformas de mobilização – é nesta encruzilhada que irrompem estes fluxos sociais que podem mudar o panorama da democracia representativa. E é aqui que bate o ponto, segundo o autor, ou seja, na necessidade de mobilização da ideia de conflito (por oposição ao processo de anestesia política em curso) para uma revitalização da participação e da política. Esta ideia permite superar, por um lado, a simples ideia de representação, mas também o simples direito generalizado a tomar a palavra como paradoxal anestesiante político de massas, ou seja, a participação de todos como redução do poder da cidadania, enquanto ela pode induzir a ilusão de um autogoverno que, afinal, não decorre automaticamente deste tipo de participação. Uma ilusão, sim, porque esta participação é “hiperfragmentada” e não se encontra ancorada em novas formas culturais alternativas, em conflito com as formas hegemónicas, e não está inscrita, diria, com Gramsci, num “bloco histórico” capaz de se constituir como alternativa hegemónica. Mesmo assim, considero que este “poder diluído” (mas não hiperdiluído) da cidadania é superior ao exclusivo poder de delegação (regular e cíclico), em eleições, na representação, que tende a remeter a participação para uma esfera residual, considerada até como potencialmente subversiva. Além disso, Sorice vê na relação do neoliberalismo com esta hiperfragmentação da cidadania uma tendência fatal porque se trata de uma participação ilusória e politicamente inócua, ou seja, não conflitual nem alternativa.
O Capitalismo da Vigilância
Sem dúvida que não é possível ignorar as “dinâmicas de poder presentes no ecossistema mediático nem as lógicas económicas e os mecanismos proprietários que regulam a actividade dos próprios social media”, como diz Sorice. E para ilustrar este último aspecto bastaria ao autor referir o livro da Shoshana Zuboff, “The Age of Surveillance Capitalism” (Zuboff, 2019; obra gentilmente oferecida pela Luiss University Press), uma análise impiedosa do poder das grandes plataformas e da forma como o obtêm, evidenciando assim a desigualdade estrutural entre plataforma e utente, traduzida no uso abusivo de dados pessoais para efeitos de tratamento dos big data e de previsão dos comportamentos para fins comerciais e de poder financeiro. O autor sintetiza, e muito bem, esta questão, traduzida no capitalismo e no imperialismo digital desenvolvido no processo de plataformização das sociedades, entendendo por isso o domínio das grandes plataformas, como, por exemplo, a Google ou o Facebook, sobre as sociedades.
Conceitos
ESTA LINHA CRÍTICA já tinha sido avançada pelo autor no livro que coordenei sobre “Política e democracia na era digital” (Santos, 2020), no capítulo de sua autoria e de Emiliana de Blasio (“O partido-plataforma entre despolitização e novas formas de participação: que possibilidades para a esquerda na Europa?”, pp. 71-101). E aqui, neste ensaio, insiste em chamar a atenção para reais tendências que estão a ocorrer na sociedade em rede e para os seus perigos, desvirtuando aquelas que eram, no início, reconhecidas como virtudes da novas tecnologias da libertação. Mas usa também um corpo conceptual que importa integrar na análise política dos actuais fenómenos políticos, sendo certo que a academia teima em não sair do velho sistema conceptual. Com efeito, Sorice dá palco a conceitos como “ecossistemas comunicativos digitais”, “hiperliderança”, hiperfragmentação”, diferença entre participação e representação e entre “governance” e “e-government”, “platformization”, capitalismo e imperialismo digital, pós-democracia, pós-representação, “capitalismo das plataformas”, “network society”, participação sem conflito, participação conflitual, “comercialização da cidadania”, “pós-esfera pública”. Conceitos interessantes e fundamentais para aceder à política e à comunicação tal como hoje se configuram. E é claro que acompanho o autor nesta análise crítica.
Diria, todavia, que falta agora ver o lado positivo da emergência da rede, das TIC e das redes sociais (social media) seja do ponto de vista da comunicação seja do ponto de vista da política.
Quem ler o livro da Shoshana Zuboff, já referido, ficará muito bem elucidado sobre o processo de acumulação do novo capitalismo digital, ou “capitalismo da vigilância”, e também sobre o seu poder, sobre a passagem das tecnologias da liberdade a instrumentos de acumulação capitalística. Processo a que o autor também alude. E também é verdade que o acesso universal ao espaço público, a participação de todos, a integração política virtual podem tender a anular o conflito e a anestesiar a verdadeira participação política, fragmentando excessivamente uma intervenção sem novas formas culturais alternativas, sem uma cartografia cognitiva e com a ilusão de participar pelo simples direito de acesso à nova esfera pública. E ainda a favorecer hiperlideranças de inspiração populista acoradas na relação directa e carismática com o povo da rede. Sim, tudo isto pode acontecer e, em parte, já está a acontecer, até porque a política clássica tem vindo a evoluir cada vez mais para uma lógica endogâmica que a afasta da cidadania.
O Novo Mundo Digital
MAS TAMBÉM É VERDADE que a rede, em geral, as TIC e as redes sociais abriram canais de acesso e de participação absolutamente novos e praticamente livres de gatekeeping. Acesso em dois sentidos: a) para obter informação em múltiplos suportes e em diversificadas fontes; b) e para intervir livremente no processo comunicacional e no processo político acedendo sem mediadores ao espaço público deliberativo. Estes canais de acesso valorizaram extremamente o espaço público deliberativo e deram origem a formas de organização autónomas do poder partidário, as plataformas digitais temáticas, como, por exemplo, moveon.org ou meetup, em condições de dar voz ao conflito e de mobilizar a cidadania. O exemplo da plataforma moveon.org nos USA é muito significativo. Por exemplo apoiando Bernie Sanders, Barack Obama ou o Obamacare.
O que quero significar é que aos media tradicionais se veio juntar uma nova e poderosa realidade, a que chamo “espaço intermédio”, que permite um mais aberto e livre acesso ao espaço público na dupla dimensão da recepção de conteúdos e da produção de conteúdos, dando origem a um novo tipo de cidadania: a do prosumer. Este facto veio reforçar a importância do “espaço intermédio” enquanto espaço público deliberativo – por onde corre a relação entre representados e representantes – e tornar possível designadamente um revigoramento da democracia representativa e uma maior accountability quer do poder político quer do poder mediático, seu irmão gémeo. Na verdade, a mudança é profunda porquanto não só representa o alargamento do espaço público e o fim do gatekeeping, mas também porque representa uma mudança qualitativa na relação comunicacional com a evolução da “mass communication” para “mass self-communication” e com a transformação do cidadão em prosumer, em receptor e produtor de comunicação e política, dando assim efectividade política ao conceito criado por Alvin Tofler, em The Third Wave, em 1980 (Tofler, 1980; e Castells, 2007).
Não vejo, todavia, esta expansão gigantesca do acesso ao espaço público deliberativo nos dois sentidos acima referidos sem um enquadramento, uma cartografia cognitiva, uma bússola que conduza a cidadania num certo sentido. Neste caso, mais do que falar em novas formas de mediação, falaria em hegemonia, em conquista ético-política da esfera reticular e em capacidade de polarização da cidadania por novas formas culturais alternativas. Na verdade, do que se trata, com o novo espaço público deliberativo e com o novo tipo de acesso, é simplesmente da sua enorme expansão e de uma lógica de funcionamento totalmente distinta da que era dominada pelos senhores do gatekeeping comunicacional, mas também político. Nada mais. Mas que já é muito, lá isso é. E é por isso que concordo com Michele Sorice na ideia de que são necessárias novas formas culturais, que podem ser interpretadas e accionadas pelos partidos políticos desde que sejam capazes de responder, não transformisticamente, aos novos desafios. O fim dos monopólios que sirva, ao menos, para isso. E não creio que o chamado “capitalismo da vigilância” consiga controlar totalmente este novo mundo, tal como nem os chineses o conseguem controlar, apesar de, esses sim, procurarem hegemonizá-lo através das ideologias do nacionalismo e do consumismo, sem deixarem, todavia, de usar todos os instrumentos de controlo disponíveis, que são muitos e diversificados (Santos, 2017).
Conclusão
NÃO CREIO, pois, que seja boa ou viável a proposta pós-democrática ou pós-representativa porque, na verdade, os fundamentos e as funcionalidades da representação se mantêm. Pelo contrário, a democracia deliberativa, mantendo intacta a representação, reabre os canais de acesso à informação e à política e rompe com o monopólio e o exclusivismo da representação porque dão à cidadania a possibilidade de entrar em cena no palco da deliberação pública, influenciando não só a o processo de construção do consenso, mas também a própria produção da decisão. A política deliberativa enriquece a democracia representativa, mas não a substitui nem a diminui. Por um lado, ampliando o leque de possibilidades de empoderamento político da cidadania e, por outro, revigorando a própria representação e os partidos políticos, enquanto portadores de visões do mundo capazes de agregar a cidadania de acordo com as pertenças de cada um e com cartografias cognitivas que lhe sirvam de bússola. As plataformas temáticas têm o poder de se constituir como canais complementares de acesso ao espaço público deliberativo e deste modo influenciar decisivamente a política e a representação. A rede é um “espaço intermédio” incontornável e as redes sociais não são mais do que derivados orgânicos desta realidade. E por isso não é possível falar delas como se fala de media, tendo estrutura e lógica diferentes dos media convencionais. E também por isso não creio que seja útil abordá-las com a dicotomia tornada famosa por Umberto Eco: a dos apocalípticos e dos integrados.
Referências bibliográficas para melhor compreender esta matéria
- Aurélio, D. P. (Coord.). (2009). Introdução a: Representação Política. Lisboa: Horizonte, pp. 9-51.
- Biancalana, C. (Coord). (2018). Disintermediazione e nuove forme di mediazione. Verso uma democrazia post-rappresentativa? Milano: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
- Castells, M. (2007). “Communication, Power and Counter-power in the Network Society. In International Journal of Communication 1 (2007), 238-266.
- Crouch, C. (2020). Post-Democracy After the Crises. Cambridge: Polity.
- De Blasio, E. e Sorice, M. (2020). “O partido-plataforma entre despolitização e novas formas de participação: que possibilidades para a esquerda na Europa?”. In Santos, 2020, pp. 71-101.
- Santos, J. A. (2020). Política e Democracia na Era Digital. Lisboa: Parsifal.
- Santos, J. A. (2017). “Mudança de Paradigma: A Emergência da Rede na Política. Os casos Italiano e Chinês”. In ResPublica, 2017, 17, pp. 51-78.
- Sorice. M. (2020). “La partecipazione politica nel tempo della post-democrazia”. In Culture e Studi del Sociale-CuSSoc, 2020, 5(2), pp. 397-406
- Tagliagambe, S. (2009). El Espacio Intermedio. Madrid: Fragua.
- Tofler, A. (1980). The Third Wave. New York: William Morrow.
- Zuboff, S. (2019), The Age of Surveillance Capitalism. USA: Public Affairs.
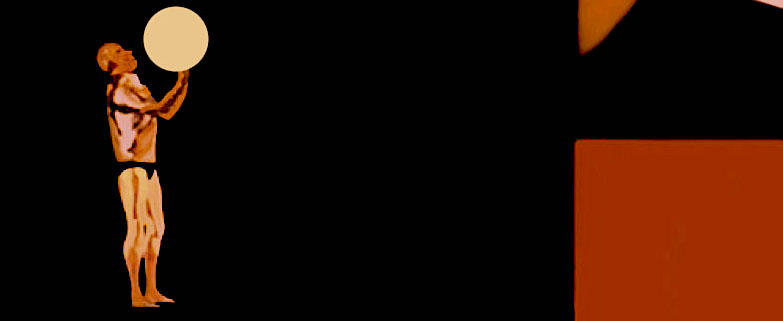
“A Bola de Cristal e o Futuro”. Detalhe.
TRÊS DE NOVEMBRO
Por João de Almeida Santos
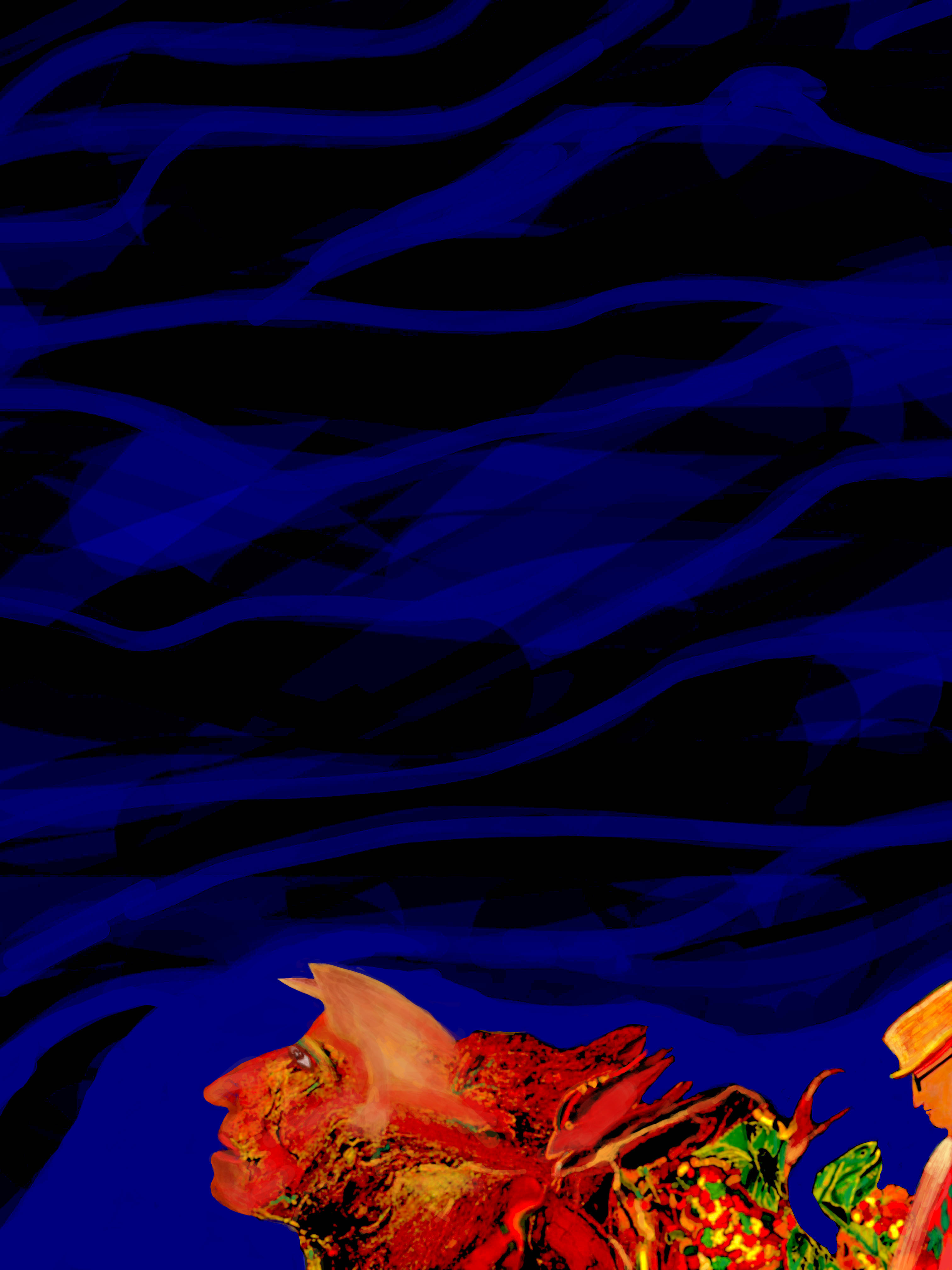
“Aguas Profundas”. Jas. 10-2020.
ARTIGO – “TRÊS DE NOVEMBRO”
TEMO O DIA 3 DE NOVEMBRO. Por duas razões. Em primeiro lugar, que a maior potência mundial continue a ser governada por alguém que claramente não tem condições para tal, nem subjectivas nem objectivas, com todas as consequências que isso terá na política mundial. Se em 2016 o então candidato já não era uma incógnita, em 2020, com quatro anos de governo e de exposição pública diária, parece ser evidente que Donald John Trump não tem condições para desempenhar um cargo de tamanha responsabilidade, tendo-se confirmado as piores suspeitas. Os eleitores americanos decidirão e ficaremos, então, a saber muito sobre a América profunda. Em segundo lugar, porque há o risco de a política, ela própria, atingir o seu grau zero numa grande democracia com tremendas responsabilidades perante o mundo, se é verdade que os USA sempre anteciparam as tendências evolutivas da prática política mundial em contexto democrático de inspiração liberal.
O Valor da Credibilidade
FIXO-ME, POIS, NESTE SEGUNDO ASPECTO. Se mesmo com a gigantesca crise do COVID19, a maior e pior gerida (juntamente com o Brasil) à escala planetária, se com um presidente que não só não paga os impostos devidos, mas que também se recusa a mostrar as suas declarações de impostos, ainda assim, os americanos o votarem, ficaremos a saber que a ideia de política ficou reduzida à ideia de poder e que o voto até pode servir para legitimar tudo e o contrário de tudo. Na História há exemplos trágicos disto. Mas também seria uma ocasião para que os inimigos da democracia passassem ao ataque do sufrágio universal, declarando inútil o próprio voto e, consequentemente, a própria democracia.
Todos sabemos que a política está em profunda crise, que o tempo das grandes narrativas acabou, que os grandes grupos económicos e financeiros multinacionais é que determinam as crises ou a ausência delas, que os Estados nacionais já se tornaram impotentes para as travar, mas que não há instâncias supranacionais com reais poderes de regulação e controlo, que vivemos gravíssimas crises, a do ecossistema e a sanitária mundial, e que também está a acontecer uma profunda revolução no funcionamento das sociedades com o aparecimento e a difusão das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), da rede, em geral, e das redes sociais, com a emergência, segundo alguns, de um novo capitalismo digital, o “capitalismo da vigilância” (Shoshana Zuboff) – então, um ulterior abaixamento de nível da política no mais poderoso país do mundo irá contribuir para aprofundar ainda mais a crise e talvez provocar o maior retrocesso civilizacional, desde o fim da segunda guerra mundial. Retrocesso na prática e no plano simbólico, sabendo-se, desde os tempos do sociólogo francês Gabriel Tarde, que a acção por imitação é um dos mecanismos centrais de funcionamento das sociedades.
Donald John Trump e o Twitter
NÃO SEI BEM como caracterizar o Presidente Trump, do ponto de vista político, quer no plano das ideias quer como personagem. Ele respira politicamente ao ritmo de tweets, faz diplomacia, toma decisões e comunica-as usando esse instrumento ultraleve da comunicação, o Twitter, onde não é possível fundamentar e legitimar nada, porque é pouco mais do que uma máquina de interjeições e de murmúrios, neste caso altamente ruidosos. Suspiros políticos que exprimem estados de alma à velocidade da luz e com a força de um trovão. Twitto, logo existo. Puro cartesianismo político. E como o Twitter é o instrumento apropriado para o pensamento light, também o pensamento se redimensiona cada vez mais à medida do Twitter. E se o meio for a mensagem, como dizia McLuhan, estamos mesmo conversados. Já não bastava o império da imagem para retirar gravitas, densidade ao discurso político e para lhe subtrair a componente analítica e fundamentadora, que agora é o próprio discurso escrito a perder também ele a dimensão analítica e a reduzir-se a pouco mais do que a sound bite. O irracional entrou no discurso político para ficar e ocupou-o totalmente. A palavra aproxima-se assustadoramente da imagem (mas não se trata de poesia, entendamo-nos) e as grandes narrativas ideológicas já são vagas lembranças do passado. Assim vai a política. À velocidade de um tweet, agora já praticado regularmente e com gosto fora das terras de América.
O que que se seguirá? Um pensamento político ao nível do sound-bite, da imagem cenografada e de tweets de poucas linhas. Pensamento sem conteúdo a que correspondem, depois, conteúdos práticos, na acção política, sem pensamento, mas encharcados até à medula de doses maciças de interesses da mais variada índole, excluído naturalmente o interesse geral, considerado residual e descartável. Mas, sim, se Trump ganhar ficamos sem palavras para falar de política. Será o triunfo do cataventismo, do irracional, das fake news, misturados com um vago nacionalismo interesseiro e xenófobo traduzido numa fórmula se significado: “America first!”.
Questões de Fundo
ESTRANHO, NÃO É? Um personagem como Trump a suceder a Obama, um Presidente negro, charmoso, elegante, culto, politicamente habilidoso e moderadamente progressista. Culpa de Hillary Clinton, a tão vituperada e gélida candidata do sistema que perdeu para o programa televisivo The Apprentice e o seu personagem principal? Não creio. Afinal até teve cerca de três milhões de votos mais do que Trump, mas que não se traduziram em delegados devido ao sistema de eleição presidencial e ao trabalho meticuloso da Cambridge Analytica. A razão de fundo é a mesma que explica o surto e o crescimento dos movimentos da direita populista e soberanista na Europa. A fadiga do sistema. O seu cinzentismo. O politicamente correcto. A redução da política a mera “governance”. A ausência de alma no exercício político. A revolta dos indignados pelo afastamento das elites do povo. A rebelião das massas? Uma mistura explosiva, a da televisão com as redes sociais e os algoritmos, que foi o que se verificou em 2016?
Mas, digamos a verdade, quatro anos depois, o poder já chegou ao povo? Ou esse mesmo povo já está a ser vítima em grande escala da impreparação do homem que pretensamente o vinha resgatar das mãos das elites de Washington? Iremos assistir a um regresso de Washington pela mão de Joe Biden e dos democratas? À desforra do sistema contra o anti-sistema? Ao regresso do mesmo, daqueles que foram a razão primeira da derrota de Hillary Clinton e da vitória de Donald Trump, em 2016?
Talvez. E confesso que nunca desejei tanto que o sistema vencesse como agora, porque o mundo está cada vez mais perigoso, cheio de pregadores, de vendedores de banha da cobra, de falsos profetas, apesar de se dizer que, afinal, ninguém é profeta na própria casa. A crer-se nas sondagens, a desforra está para breve: três de Novembro. Sim, e ficaremos mais tranquilos. E a política voltou a entrar pela porta principal. Mas voltaremos ao passado, ao mesmo, e o cansaço voltará rapidamente a abrir as portas de par em par a novos pregadores que apelem à rebelião das massas, agitando no ar digital um Twitter?
Temo que tudo volte ao mesmo… quando tudo mudou. E, se assim for, até o mais humilde transformista parecerá ser um revolucionário. #JAS@10.2020
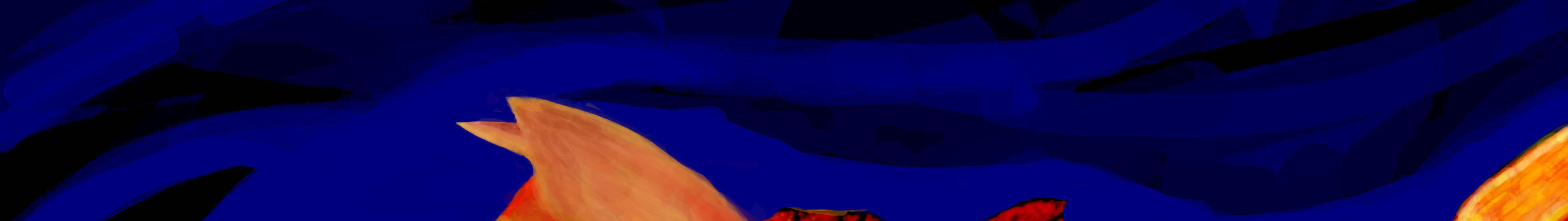
“Águas Profundas”. Detalhe.
NAS PRESIDENCIAIS DISCUTE-SE POLÍTICA (Não relações de vizinhança) Por João de Almeida Santos

“A caminho de Belém…”. Jas. 10-2020
NÃO ME PARECE POLITICAMENTE MUITO SAUDÁVEL que, à esquerda, se desvalorize as eleições presidenciais, quase como se se pudesse prescindir delas. A esquerda, que sempre se caracterizou por valorizar a política contra a mera governança, tem o dever de não reduzir as presidenciais a simples política de boa vizinhança, neste caso, com um virtual vencedor, seja qual for o panorama revelado pelas sondagens. É claro que a boa vizinhança (institucional) é importante, mas não é decisiva na gestão da vida política e muito menos na mobilização da cidadania. A política deve ser feita a olhar em frente e não a olhar para o lado.
A Política e a Boa Vizinhança
Até compreendo que o PS não apresente candidato, dada a natureza da função presidencial, a sua natureza unipessoal e os números revelados pelas mais recentes sondagens. Claro que compreendo, até por razões utilitárias e de puro pragmatismo político. Até porque há sempre alguém desta área em condições de interpretar bem esta função, candidatando-se por sua conta e risco. Mas não me parece politicamente muito interessante que no seu discurso (e falo do que tenho ouvido dos mais importantes dirigentes nacionais do PS acerca das candidaturas) se introduza um “mas” quando surge uma candidata desta área (e militante do partido) com provas dadas, políticas e profissionais, e batalhas travadas ou que se dê como vencedor antecipado um candidato, gerindo o discurso político em função dessa antevisão e em nome de uma futura boa vizinhança e de (discutíveis) perfis psicológicos dos candidatos, uma variável, esta, sempre muito delicada e incerta.
A Democracia Televisiva
O provável candidato Marcelo Rebelo de Sousa interpretou bem a fase de transição de uma Presidência altamente crispada para uma nova Presidência menos distante. Sem dúvida. Mas também é verdade que descrispou tanto que acabou por retirar “gravitas” ou densidade à função presidencial. De oito passou para oitenta. Da solidão do palácio de Belém saiu para a rua e por lá ficou, materializando o personagem televisivo e a audiência nas ruas e nas praças deste país, sempre com uma câmara de filmar por perto como se a realidade ganhasse mais realismo se filmada. A verdade, não esqueçamos, é que a génese da sua presidência (diria mesmo da sua vida política) se localiza no universo mediático, sobretudo televisivo, de onde saiu directamente para a arena política, ainda que, entretanto, tenha passado por algumas experiências políticas de relevo, votadas, todavia, todas elas ao insucesso. De resto, Marcelo Rebelo de Sousa não é, neste aspecto, muito original. Ronald Reagan, Schwarzenegger, Ross Perot, Donald Trump, Silvio Berlusconi saíram directamente da tela ou do monitor para a política em posição de vencedores (à excepção de Ross Perot, que, todavia, à base de talk shows televisivos, conseguiu cerca de 20% dos eleitores americanos nas presidenciais). Como se vê, neste terreno não se têm afirmado lideranças de esquerda.
É verdade que o conceito de “televisual democracy” já circula nos livros de teoria política e, neste caso, bem se poderá dizer que todos estes personagens são políticos orgânicos desta “democracia televisiva”. São expressão acabada do processo de confiscação televisiva do discurso político que se iniciou nos anos cinquenta nos USA com o nascimento do marketing político e da posterior conversão da política de comunicação dos Estados Unidos em narrativa sobre o Presidente, através da criação do “Office of White House Communications”, que acabou entregue a um relações públicas, com Nixon. É certo que Berlusconi, não sendo um personagem televisivo, controlava quase metade da audiência italiana de televisão e mais de sessenta e cinco por cento da publicidade televisiva e que, com Trump, algo mudou pois já se estava na era das redes sociais, mas sendo também certo que saiu do monitor onde se lançara com The Apprentice. A “democracia televisiva”, ou “democracia do público” (B. Manin, A. Minc), onde o público ocupa o lugar do cidadão, tem, pois, os seus agentes orgânicos, os seus intelectuais orgânicos, os seus anchormen e jornalistas. Que não são personagens “naturaliter”, como diria Bobbio, de esquerda. Não me parece, pois, que esta moldura política deva ser adoptada no discurso da esquerda. Afinal, as presidenciais talvez sejam a melhor ocasião para discutir política com alguma profundidade, libertas que estão (pela própria natureza da função presidencial) das discussões acerca dos concretos “cadernos de encargos” para uma boa “governança”.
Uma Política Tablóide?
E a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa se coloca inteiramente nesta linha e a interpreta diariamente, em prime time e com profissionalismo. É um personagem “catch-all”. E surge como um político orgânico da narrativa televisiva sobre o mundo, colhendo, sem dúvida, grandes dividendos em termos de audiência e de conquista do consenso, mas sofrendo também dos males da narrativa mediática, onde a televisão surge como “príncipe dos media” (Denis McQuail). Ou seja, a narrativa mediática que mais sucesso apresenta em termos de captação de audiências é a que adopta a estratégia tablóide, que, em geral, se alimenta do negativo (assuma que forma assumir) e das chamadas estórias de “interesse humano”, uma fonte infindável de notícias para uma estratégia sensacionalista ou tablóide. Estas duas orientações, duas faces da mesma moeda, dominando o discurso televisivo, não podem deixar de influenciar também os seus protagonistas e intérpretes políticos. E MRS era e é um relevante e quotidiano protagonista deste espaço público à procura de afecto. Ele recebe na própria medida em que dá e, neste fluxo virtuoso, o consenso revigora-se e o personagem consolida-se como espelho do público, mais do que como espelho do cidadão. Resta saber se a política é isto e se o nosso destino é traçado à medida de um monitor televisivo.
O que pretendo dizer é que mesmo que o meio não seja a mensagem, contrariando a tese de McLuhan, os seus protagonistas estão em grande parte capturados pelo meio, podendo mesmo desenvolver-se algo parecido com uma síndroma (televisiva) de Estocolmo. Pouca política e muito espectáculo. Panem et circenses. E muito afecto, sempre de circunstância (televisiva), “interesse humano”, ou seja, interesse por histórias individuais exemplares ou ilustrativas do emocional, do risco, do drama, da dor. Política tablóide, numa permanente vertigem emocional de identificação com o público, em especial com aquele que sofre. MRS pode, assim, ser lido a partir deste código, sendo muito plausível a assertividade de uma leitura deste tipo. E talvez até de um certo populismo, embora politicamente algo inconsequente.
Mas creio ser óbvio que no ADN da esquerda de inspiração iluminista e racionalista, onde se inscreve o PS, não esteja uma adesão política a este estilo de narrativa. Bem pelo contrário, a esquerda sempre recusou este tipo de aproximação à política, valorizando mais o discurso analítico e desprezando militantemente o tabloidismo e o populismo. A minha pergunta é a seguinte: mas o PS não precisa de afirmar uma visão do mundo e do papel da política na sociedade para além da visão televisiva do mundo e da sua redução à ideia de governança? O que eu creio é que a ideia de hegemonia (no sentido gramsciano) é algo que anda muito arredada da “intellighentsia” do PS numa época em que a crise assalta drasticamente a doutrina do socialismo democrático e da social-democracia, ou seja, o centro-esquerda.
Presidenciais: uma oportunidade para discutir política
É por isso que também nestas eleições o centro-esquerda deveria, em nome da boa tradição da esquerda, repor a centralidade da política relativamente quer à lógica da mera governança quer à lógica do tabloidismo político ou à própria política do “interesse humano” tão praticada pelo sensacionalismo informativo e pelo seu congénere político. A identidade política algo simulacral do simpático Marcelo Rebelo de Sousa, a política como mera boa vizinhança, o império da democracia televisiva, a política do “interesse humano”, que tem como contraponto a lógica da fria governança, não creio que estejam, de perto ou de longe, na matriz ideológica da esquerda e, por isso, uma cumplicidade real do PS com a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa desvirtuará aquela que deve ser a inspiração e o alimento ideal de quem se sente à esquerda. Uma posição destas equivalerá a que o PS declare como ociosas as eleições presidenciais, deixando subentendido que, nesta circunstância, poderiam nem se realizar. Não ponho em causa que possa haver liberdade de voto para os militantes e que não haja posição formal do PS. O que julgo ser péssimo é haver uma posição de implícito apoio a MRS, através de declarações dos seus principais dirigentes nacionais e da neutralização da máquina partidária e da militância neste sentido. Por isso, considero que esta pode ser a ocasião para os militantes do PS agarrarem a política com as duas mãos e irem ao combate, mostrando a Augusto Santos Silva, a Carlos César, a Ferro Rodrigues e a Fernando Medina que o PS não é redutível a mera massa de manobra dos seus dirigentes do momento nem a audiência de uma qualquer “democracia televisiva”. Como militante socialista, com as quotas em dia, não seguirei esta orientação e apoiarei a candidata que representa o centro-esquerda e o socialismo democrático. Não gosto da televisão que temos, não gosto da “democracia televisiva” e não gosto que se reduza a política ao culto de relações diplomáticas de vizinhança entre o inquilino de S. Bento e o inquilino de Belém. Que a direita o faça, é compreensível pela sua própria natureza e identidade, mas que a esquerda o faça é incompreensível. Sobretudo quando estamos a assistir a uma grave anemia política do socialismo democrático e da social-democracia um pouco por todo o lado. E não creio que tenhamos entre nós um Obelix do centro-esquerda que nos defenda da crise.#Jas@10.2020
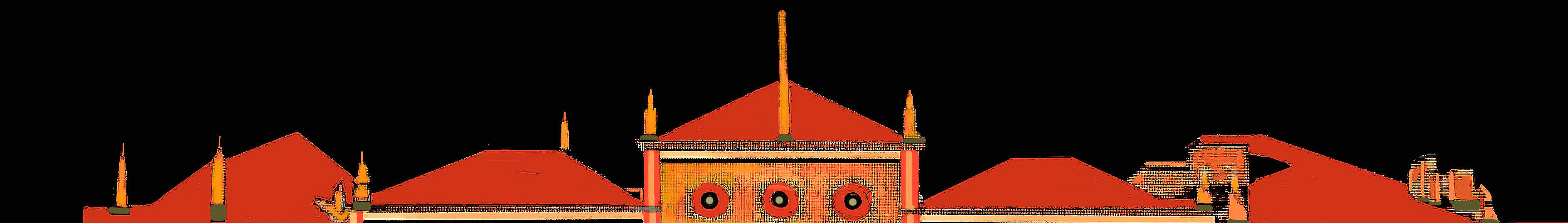
“A caminho de Belém…”. Detalhe.
APOCALYPSE NOW?
O Documentário da NETFLIX sobre “O Dilema das Redes Sociais” Por João de Almeida Santos

“A Notificação”. Jas. 10-2020. Elaboração minha sobre imagem do Documentário.
VI O DOCUMENTÁRIO da NETFLIX “O Dilema das Redes Sociais” e não gostei. Não gostei sobretudo porque todo o enfoque está do lado de uma crítica apocalíptica, devastadora, não mostrando o que de positivo as redes sociais (a rede em geral) trouxeram para a cidadania. E fez-me lembrar os debates sobre apocalípticos e integrados a propósito da comunicação de massas e das indústrias culturais. E, naturalmente, o próprio livro de Umberto Eco, “Apocalittici e Integrati”, saído em 1964. A crítica devastadora à nascente cultura de massas, sobretudo à televisão, pelos apocalípticos, em geral identificados com as elites da alta cultura e maioritariamente de esquerda. E também me fez lembrar, claro, o grito contra o fim da sociabilidade com a irrupção deste tertium que passou a polarizar toda a atenção das salas, públicas ou privadas, ignorando a dimensão física do convívio a favor da dimensão simulacral. O mesmo que agora o documentário discute com dramatismo a propósito do domínio viciante das plataformas móveis sobre os adolescentes e sobre nós próprios, quando substituímos a conviviabilidade pelo fecho no universo digital próprio. A força magnética das plataformas móveis, mais poderosa e individualizada do que o magnetismo da televisão. Já publiquei, em duas edições, um livro sobre esta questão, a propósito da televisão: “Homo Zappiens. O feitiço da televisão” (Lisboa, Parsifal, 2019). As críticas, muitas delas, eram e são justas. A sua diabolização, pelo contrário, errada e irrealista. Afinal, a televisão continuou e permitiu o acesso à informação e ao entretenimento a milhões de pessoas e assumiu uma dimensão universal. Aponta-se o início dos anos noventa do século passado, com a Guerra do Golfo, como o início da era da televisão universal, com a CNN. Agora, depois do seu aparecimento como meio de comunicação já radicado socialmente, nos anos cinquenta, a televisão continua, com os seus defeitos e as suas virtudes, mas está a passar por um processo onde a sua dominância está a ser posta em causa pela emergência recente das redes sociais, com todo o cortejo de apocalípticos a voltar de novo à boca de cena, a gritar o caos e o fim do mundo.
Prosumer
Ao ver o Documentário (precisamente na Netflix, no meu IMac, não na televisão nem no cinema) fiquei até com a sensação de que este alinha claramente no combate radical que o poder convencional (mediático e político) está a promover contra as redes sociais e a rede em geral (um dos personagens diz que estava viciado em e-mails). E não me chega que no fim venham dar conselhos de bom comportamento na relação com a rede, até porque logo são acompanhados de conselhos militantes em defesa do abandono radical das redes sociais. Insinua-se a ideia errada de que a rede tem por detrás uma intencionalidade malévola, quando, afinal, ela é mais um espaço livre onde cada um pode, ao contrário da televisão, intervir em duas direcções: como receptor e como emissor, como prosumer. O nível de controlo é aqui muito baixo e algumas vezes até é desejável, como no combate à desinformação (que já aconteceu, por exemplo, nas recentes eleições para o Parlamento Europeu através de um protocolo assinado entre as grandes plataformas, Google, Facebook, Twitter, Youtube e a Comissão Europeia, e com resultados assinaláveis).
Crítica, sim, apocalipse, não!
Bem sei que há nelas um potencial viciante, que é um imenso mundo onde tudo acontece, um gigantesco “espaço intermédio”, que são uma revolução na comunicação e que se torna necessário metabolizar racionalmente o seu uso, que os administradores dispõem de um potencial de vigilância enorme que poderão usar de forma abusiva (como já aconteceu com a Cambridge Analytica). Sei tudo isto. E sei ainda mais, agora que me apercebi do impacto mundial do fenómeno (viciante) do Tik Tok. E que estes elementos críticos são para levar a sério pelos poderes nacionais e supranacionais e por cada um individualmente. E também sei que esta é uma revolução civilizacional como talvez nunca tenha existido na história da humanidade, pela sua rapidez e sobretudo por atingir a dimensão da inteligência e da comunicação com uma profundidade nunca vista. Sei isto e, neste aspecto, o documentário é útil porque alerta para os perigos. Mas é excessivo na crítica. Diria mesmo excessivamente militante e demolidor, com os operadores destas redes (que participaram no documentário) alcandorados à posição de filósofos do caos e do apocalipse, mais até do que da distopia a que se referem. Apetece-me dizer: a dependência nasceu com as redes sociais? Antes só conhecíamos a virtude?
Antes das redes sociais…
Muitas coisas devem ser esclarecidas porque contrariam a posição de fundo do documentário, a começar pela militância dos intervenientes e do estratega do documentário. No fim, até se passou das redes sociais e das fake news para os perigos da inteligência artificial, em geral. Que são reais, como se compreende, mas algo desviantes, neste contexto. Falou-se excessivamente de dinheiro e de negócio, como se estes não fossem legítimos e estas multinacionais fossem as primeiras a existir no mundo globalizado. Leiam o excelente livro da Naomi Klein, “No Logo”, e logo verão o que já existia (e existe) antes das redes sociais e das grandes plataformas digitais. E falou-se também da educação dos próprios filhos, ensinados a estar longe das redes sociais, por eles, que, pelos vistos, as criaram e administraram. Não, não gostei porque mais me pareceram defensores militantes do poder convencional assustados com o poder que as redes sociais podem dar e já estão a dar à cidadania. Depois, o tabloidismo desbragado da violência nas ruas, imputada implicitamente às redes sociais, como se não tivesse havido antes destas, e em pleno século XX, no arco de 30 anos, duas guerras mundiais que mataram cerca de 50 milhões de pessoas.
Estes falam como filósofos do apocalipse
Estes ex-funcionários das redes sociais surgem aqui como filósofos, psicólogos, políticos, sociólogos mais do que como técnicos, operadores, engenheiros e gestores das redes sociais a explicar-nos que vem aí o caos e o apocalipse. Só faltou mesmo dizer que boa era a ordem exclusiva do poder mediático e do poder das organizações mediadoras da política. Temo que este último artigo alucinado de Miguel Sousa Tavares (“Desculpem-me se volto ao mesmo”), publicado no “Expresso” de 03.10.2020, sobre as redes sociais tenha sido agravado pelo visionamento deste documentário. Documentário por documentário, achei muito mais interessante o da jornalista do “The Observer”, Carole Cadwalladr, sobre “O papel do Facebook no Brexit e a ameaça à democracia” (2019) e a Cambridge Analytica, a que correspondera um ensaio seu e de Emma Graham-Harrison sobre a mesma matéria publicado pelo “The Guardian” (17.03.2018).
Afinal, do que se trata?
Mas vamos ao assunto. Até há quem lhes chame tecnologias da liberdade. Isto lê-se nos livros de Castells, o grande sociólogo catalão (hoje Ministro do Governo de Pedro Sánchez) que tem desenvolvido abundante investigação sobre esta matéria. E lê-se no excelente ensaio de Jack Linchuan Qiu, investigador da Annenberg School for Communication, da Universidade da Califórnia do Sul e cofundador do “Grupo Electrónico de Investigação em Internet na China”, sobre “Internet na China: Tecnologias de liberdade numa sociedade estatista”, incluído no livro de Castells (Ed.) sobre “La Sociedad Red: Una Visión Global” (Madrid, Alianza Editorial, 2011, pp. 137-167). A ele me refiro abundantemente no Ensaio que publiquei no número 17/2017 da Revista Respublica (“A Emergência da Rede na Política. Os Casos Italiano e Chinês”, pp. 51-78). O documentário não vê esta parte, a da liberdade, a que está confiada à cidadania, o processo de desintermediação da comunicação e da política, o livre acesso ao espaço público, o fim da exclusividade editorial e programática dos agentes orgânicos do poder mediático e do poder político, o fim do seu monopólio de “gatekeeping” sobre o espaço público. E depois não vê que o cidadão pode, também ele, protagonizar-se na Net, intervir no espaço público sem pedir licença aos “gatekeepers” de sempre (conhecêmo-los bem, os “Donos de Toda esta Informação”), a maior parte das vezes descaradamente política, económica e ideologicamente alinhados. Sim, os nossos hábitos de acesso à rede são registados e analisados pelo algoritmo que depois torna possível vender-nos como consumidores de certos produtos simbólicos (ou não). Sim, são os nossos hábitos, mas, no fim, só compramos se quisermos. E, pergunto, não somos também vendidos como consumidores enquanto espectadores das televisões? Bem sei que agora a comunicação de massas tem outra característica diferente porque se tornou “mass self-communication”, “comunicação individualizada de massas”, sendo possível devolver propostas de consumo em linha com as nossas preferências pessoais dominantes. É verdade, mas mantém-se a possibilidade de recusa em amplo espectro. O marketing 4.0 deve ser banido, por lei? Aliás, todo o marketing deverá ser banido, por nos instrumentalizar? Antes das redes sociais o mundo era perfeito? Segundo Miguel Sousa Tavares parece que sim.
Contra o novo “Capitalismo da Vigilância”
Parece que este Documentário foi feito para combater o chamado “Capitalismo da Vigilância”, protagonizado pelos gigantes das plataformas digitais, Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc., mais do que para entender o que realmente é a rede e são as redes sociais. Na verdade, do que se trata, com a rede, é de um mundo digital onde se vive, se comunica e se produz. Mas este mundo não é alternativo ao mundo real. É complementar e dá oportunidades de que os cidadãos antes não dispunham. Quando a televisão apareceu e se impôs na política muitos diziam que, assim, a política não passaria de espectáculo enganador. É verdade, o palco televisivo permite encenações e representações que equivalem ao teatro e ao cinema. Mas também é verdade que levou a política a milhões, que permite ao mais humilde e pouco cultivado cidadão escolher o representante com base nos mesmos mecanismos cognitivos de escolha que usa na sua vida quotidiana (“olhando para o seu rosto, a este político eu não compraria um carro em segunda mão”), democratizou a informação e personalizou a política. E é aqui que o assunto bate com mais força: a rede, inaugurando um processo de desintermediação, permite uma vasta democratização dos processos comunicacionais e políticos. Sim, na rede não há uma certificação da comunicação como existe no mundo mediático, existindo apenas protocolos (assinados entre as plataformas e organismos nacionais ou supranacionais, como, por exemplo, a Comissão Europeia) que permitem aos gestores eliminar desinformação e conteúdos intoleráveis à luz das grandes cartas universais de direitos, sendo necessário promover a educação e uma vasta literacia digital, a começar logo na escola, que permitam uma efectiva auto-regulação, normas de uso inteligente da rede, cidadania digital. Mas, digam-me lá, o tabloidismo desbragado que todos os dias passa, em prime time, nas televisões de canal aberto é uma boa alternativa à rede? O “Correio da Manhã”, Jornal e Televisão, é uma boa alternativa à rede? E que dizer da Fox News? Os códigos éticos do jornalismo são praticados pelos próprios que os assinaram? Não, não são. E esta, ao contrário da rede, é informação que se pretende certificada, apesar de contrariar gravemente os próprios códigos éticos que criou e adoptou (e que, de resto, deve adoptar).
Uma campanha radical, sim!
A campanha dos poderosos contra as redes sociais existe. E continua. Nela entram as elites que estão nos interfaces da comunicação e que até há pouco detinham o poder de acesso ao espaço público e ao espaço público deliberativo. O poder de “gatekeeping”. E entram os grandes meios de comunicação, argumentando que só eles podem dar informação certificada e em linha com as normas dos respectivos códigos éticos. E entra a política convencional porque também o seu poder exclusivo de intermediação começa a ser posto em causa. Há grandes plataformas digitais, como, por exemplo, a MoveOn.org, que já mobilizam mais a cidadania do que os partidos tradicionais. E já se fala de (e já existem, até) partidos-plataforma que partem da rede para a política e não da política para a rede. E este novo mundo já tem um novo conceito de cidadão: prosumer, simultaneamente consumidor e produtor de informação e de política. E, como disse, também a comunicação de massas está a ser substituída pela “comunicação individual de massas” de matriz digital. É uma revolução que o Documentário não regista, mas que torna possível uma enorme viragem civilizacional, cultural, na informação e na política, assim saibamos usar estes poderosos meios. O que, de resto, só acontecerá se os poderes maiores o permitirem, a começar pelo poder político. Mas até aqui a cidadania poderá obrigá-los a proceder em conformidade, usando a rede.
Conclusão
Este documentário inscreve-se na doutrina dos apocalípticos, que, neste caso, e paradoxalmente, são mais integrados do que os outros, os que estão a metabolizar a mudança reconhecendo que esta está inscrita na normal evolução das sociedades, sendo necessário metabolizá-la. E creio mesmo que, tal como aconteceu com a televisão, esta revolução será devidamente metabolizada pela História e conhecerá o destino que formos capazes de construir, agora que a cidadania tem meios para o fazer como nunca teve no passado.#JAS@10-2020

CIDADANIA E IDENTIDADE A propósito de um Manifesto sobre a disciplina de "Cidadania e Desenvolvimento" Por João de Almeida Santos

Detalhe da Declaração de 1789, retocado graficamente por mim.
NÃO SEI SE JÁ REPARARAM que no famoso manifesto sobre o direito de objecção de consciência em relação à disciplina de “Cidadania e Desenvolvimento” (“Em defesa das liberdades de educação”) não há uma única referência aos principais protagonistas do ensino, além dos estudantes: os professores. A interpretação do programa é feita por eles. E também eles são pais, têm convicções, trabalham numa democracia onde o princípio da liberdade está constitucionalmente garantido, possuem graus superiores de educação, têm uma ética profissional e competências específicas para o ensino e estão obrigados a exercer a profissão de acordo com a ética pública. E é muito estranho que estas personalidades considerem que todos eles são perigosos militantes das causas fracturantes e do politicamente correcto. Esta omissão é grave por ser negligentemente ofensivo para os nossos professores, milhares e milhares de profissionais competentes, eticamente responsáveis e honestos. Vejamos.
As Cartas Universais de Direitos
NO MEU MODESTO ENTENDIMENTO, esta disciplina deveria ser ministrada tendo como quadro de referência as grandes Cartas Universais de Direitos, desde a fabulosa “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” (1789), matriz moderna da nossa civilização, a “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, de 1948, até à “Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”, de 2000 e 2009. E a responsabilidade destes conteúdos curriculares não pode deixar de estar confiada ao profissionalismo e à ética profissional dos professores, sendo o lugar, a função e o papel da educação parental outros que não os da escola. A cidadania inscreve-se nos grandes princípios constitucionais e não colide com as identidades. Uma coisa é a cidadania, outra são as diferentes identidades, incluídas as religiosas, civilizacionais, étnicas ou culturais. A cidadania exprime-se com a linguagem das grandes Cartas de Direitos e das constituições, nas quais está ancorada, e é ela que garante as condições para uma livre e consciente expressão das diversas identidades que coabitam na sociedade. Socialmente, a cidadania é prévia às identidades e quando se exprime politicamente através de uma democracia representativa e de um Estado de direito constitui-se como garante da livre expressão das diversas identidades. O conceito de cidadão não pode ser confundido com o conceito de indivíduo – pertencem a esferas distintas. Tal como os conceitos de cidadania e de identidade comunitária. Todos os cidadãos, quaisquer que sejam as suas identidades religiosa, civilizacional, étnica ou cultural, têm o dever de “patriotismo constitucional”, ou seja, o dever de assumir e praticar as normas constitucionais que regulam o próprio ser da sociedade e a própria condição social do indivíduo.
Cidadania e Identidade Nacional
EU ACONSELHARIA ESTAS PERSONALIDADES a lerem um excelente ensaio de Juergen Habermas sobre “Cidadania e Identidade Nacional”, de 1991 (porventura um dos seus mais notáveis textos), onde distingue estes dois conceitos (cidadania e identidade) e procura fundamentar uma cidadania europeia – portanto, comum – através daquilo que ele designa por “Verfassungspatriotismus”, um “patriotismo constitucional” como moldura institucional para as diversas identidades e garante da sua livre expressão desde que respeitadoras dos princípios constitucionais e/ou das Cartas de Direitos. Na verdade, o que ele propõe é a ancoragem da cidadania nas grandes Cartas Universais de Direitos (mesmo antes de a União Europeia ter adoptado a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em 2000, que entraria em vigor, como Protocolo, com o Tratado de Lisboa, em 2009), desvinculando-a, no essencial, do jus sanguinis e do jus soli, que seriam remetidos para um plano administrativo e regulamentar e para o plano da pertença estatal implícita, visto que, afinal, a pertença a um Estado está hoje associada à livre vontade do cidadão, e “a que corresponde (também) o direito de emigrar e de renunciar à (própria) nacionalidade”. Ele considera, pois, que o processo de construção de uma cidadania europeia decorre da superação da identificação de cidadania com pertença nacional ou nacionalidade no sentido de “um status do cidadão delimitado por direitos civis”. E que a sua consecução seria o maior garante da livre expressão das diferentes identidades nacionais ou regionais que coexistem na União. No plano nacional, a cidadania funciona também com esta lógica, ou seja, é a condição da própria liberdade e da justa expressão das várias identidades que coexistem no território nacional. Ou seja, a cidadania situa-se hoje para além dos particularismos determinados por território, sangue, etnia, comunidade ou família. Na verdade, este conceito tem vindo a evoluir no sentido de uma progressiva superação destes particularismos, dando lugar a um conceito muito mais vasto e universal. E é nesta evolução que se inscreve o próprio conceito de cidadania europeia já enunciado no Tratado de Maastricht.
Ética Pública
POR ESTAS RAZÕES, a ideia de cidadania inscreve-se num plano superior ao da família ou da comunidade, não devendo, pois, ficar limitado ou subordinado às respectivas idiossincrasias. Até porque ela incorpora uma realidade social que é mais vasta do que o universo familiar ou comunitário. O nascimento do Estado-Nação foi um marco decisivo nesta superação do privado ao conferir um estatuto universal aos representantes e membros dos órgãos de soberania, não sendo o seu mandato susceptível de revogação pela sociedade civil, pelo privado, exactamente (embora haja também outras razões) porque, pelo voto, ascendem a um plano superior, o do Estado. É precisamente por isso que a escola pública e a educação para a cidadania, mais do que a uma ética da convicção, deverão, também elas, subordinar-se à ética pública e à ética da responsabilidade, garantidas pelas competências e pela ética profissional dos professores e pelos princípios das grandes Cartas de Direitos, inscritos nas constituições dos Estados democráticos de direito. Na verdade, não se deve confundir cidadania com identidade porque aquela tem uma natureza pública e esta tem uma natureza privada ou comunitária. A cidadania existe num plano societário, que é mais vasto que o plano comunitário, e por isso deve exprimir-se dominantemente através da ética pública e da ética da responsabilidade e não através da ética da convicção.
Conhecimento e idiossincrasia
A vingar a posição destas personalidades poderíamos começar a assistir à lenta confiscação privada das humanidades, em geral, para evitar que algum filósofo ensinasse marxismo aos seus filhos, que algum psicólogo ensinasse Freud, que algum sociólogo ensinasse a escola de Frankfurt, que algum historiador ensinasse Hobsbawm ou que algum economista ensinasse Rudolf Hilferding, Piero Sraffa ou Ernest Mandel, para não falar das artes, numa lista infindável de proscritos pelas sensibilidades familiares protetoras das suas próprias identidades caseiras em nome de um conceito privado ou comunitário de cidadania e da sua redução às idiossincrasias familiares. Eu diria mesmo que as famílias se arriscam, assim, a confiscar o próprio futuro dos seus membros, sendo certo que o horizonte em que inscreve a educação pública é muito mais vasto do que o horizonte familiar. Falo naturalmente de uma socialização alargada do conhecimento. Ou, pelo menos, esta educação é complementar e não exclui o familiar, que ocorre, todavia, numa sede diferente. Mais ainda: a interacção entre a família e a escola pública enriquece, não diminui, a formação dos jovens para a cidadania.
Cidadania e "Politicamente Correcto"
MAS NUMA COISA EU CONVENHO: serei o primeiro a entrar no combate contra o perigo de deixar deslizar a educação para a cidadania para as identidades fracturantes dos engenheiros sociais, dos apóstolos do politicamente correcto, dos vigilantes do pensamento e da linguagem e dos que tudo subordinam à (sua) ética da convicção, incluída a ética pública e a ética da responsabilidade.
“Les Beaux Esprits Se Rencontrent”
FINALMENTE, este manifesto só não é totalmente incompreensível à luz dos padrões civilizacionais modernos porque os apóstolos do politicamente correcto e os engenheiros sociais lhe dão alguma razão. Também estes, tal como os do manifesto, sobrepõem radicalmente a sua ética da convicção à ética da responsabilidade e à ética pública. E dá nisto. “Les beaux esprits se rencontrent”.

O MEU VOTO NAS PRESIDENCIAIS
Por João De Almeida Santos

“A Caminho de Belém…”, Jas. 09-2020.
TENDO BEM CONSCIÊNCIA DA DELICADEZA DA FUNÇÃO PRESIDENCIAL, mas também das limitações do mandato, votarei em Ana Gomes nas presidenciais pelas seguintes razões:
I. a) inscreve-se na área política em que me situo; b) o meu partido, o PS, não apresentou até ao momento, nem provavelmente apoiará formalmente, um candidato; c) é uma mulher desassombrada, corajosa e empenhada; d) quando deixou de ser eurodeputada não ficou por lá, como outras pessoas, no centro da Europa, encostada ao Partido Socialista Europeu, tendo regressado à luta política no seu País; e) é mulher e é tempo de uma mulher subir à mais alta magistratura; f) pôr a canditata perante a responsabilidade de traduzir o seu criticismo político em acção política concreta.
II. E também é verdade que não me revejo no modelo presidencial adoptado pelo actual Presidente, embora tenha apreciado o cuidado que sempre pôs nas relações com o Primeiro-Ministro, inaugurando uma viragem muito significativa relativamente ao mandato crispado do anterior Presidente;
III. Relativamente ao Bloco, dá-me impressão que este partido tem poucas alternativas a algumas personagens quer para as candidaturas presidenciais quer para as candidaturas europeias. Sinceramente, eu, que sigo a vida política com muita atenção e regularidade, não me lembro de Marisa Matias fora das candidaturas presidenciais ou europeias. Há quantos anos anda por lá?
IV. Quanto a João Ferreira tenho a vaga sensação de ser um jovem muito protegido dentro do PCP, pois não me lembro de grandes intervenções públicas suas, apesar de ter vindo, nos últimos tempos, a assumir a liderança da maior parte das candidaturas do PCP. Mas certamente a falha será minha. De resto, embora tenha o maior respeito por este partido (de que, em jovem, fui militante), não me revejo na sua concepção do mundo;
V. André Ventura, que interpreta uma faixa do eleitorado que se sente saturada pelos erros e os desvios do sistema, faz o seu papel e vai aproveitar a campanha para consolidar o “Chega” como protagonista de peso no sistema, alavancado pelas insuportáveis vagas de sectarismo politicamente correcto e utilizando a velha técnica do “agenda-setting”: decisivo na comunicação políticas é subir ao topo da agenda, polarizando a atenção social e usando, para tal, todos os meios que foram necessários.
VI. Bem sei que nas presidenciais há muitas variáveis em jogo, incluídas, naturalmente, as funções presidenciais. A função exige sabedoria, delicadeza no relacionamento com os outros poderes institucionais, determinação e boa capacidade de relacionamento internacional. De algum modo a função presidencial é, por um lado, supletiva e, por outro, garante da saúde democrática do sistema. Funções que Cavaco Silva não interpretou com elegância e sofisticação, por ser um ser humano fortemente crispado. Mas se é verdade que Marcelo Rebelo de Sousa veio compensar essa rigidez e crispação presidencial, também é verdade que exagerou na descompressão e na reinterpretação “light” da figura presidencial. Excesso de monitor televisivo e défice de “gravitas” presidencial.
VII. Por outro lado, também é de sublinhar que as eleições presidenciais não deveriam ser utilizadas como mero meio de divulgação da mensagem política pelos partidos políticos ou mesmo como oportunidade de certos personagens se darem a conhecer ao grande público, instrumentalizando algo que é muito sério, ou seja, um processo que leva à eleição da figura que simboliza a unidade nacional.
VIII. Talvez Ana Gomes tenha uma verve um pouco intensa, quase justicialista. Mas num país que tem vindo a conhecer excessivos processos de uso desbragado de poderes para proveito próprio, designadamente no ambiente financeiro, é natural que alguém acabe por assumir as dores dos cidadãos espoliados, na área do centro-esquerda. Mesmo assim, reconheço que a sua carreira na diplomacia certamente a poderá ajudar a moderar a acção em defesa dos valores democráticos, da lisura comportamental, da honestidade e da defesa do interesse público.
IX. A minha adesão à candidatura de Ana Gomes decorre da minha visão do mundo, da minha filiação partidária e sobretudo da minha liberdade. E se compreendo a posição do PS, enquanto partido de governo, preocupado em preservar futuras relações com a Presidência, também considero que a política não pode ficar confinada a relações diplomáticas entre prováveis futuros detentores dos máximos poderes da nossa democracia, expulsando a política da própria política e confinando-a a puro tacticismo. É por tudo isto que me parece que o mais natural seria os socialistas, individualmente considerados, acarinharem a candidatura desta mulher socialista desassombrada e lutadora. Eu fá-lo-ei. E aqui fica o meu depoimento.
O LIVRO “POLÍTICA E DEMOCRACIA NA ERA DIGITAL”
Num artigo de GIOVANNI VALENTINI no Diário italiano "IL FATTO QUOTIDIANO"
Por JOÃO DE ALMEIDAS SANTOS

O cabeçalho da rubrica e do artigo.
“POLÍTICA E DEMOCRACIA NA ERA DIGITAL” (Lisboa, Parsifal, 2020) João de Almeida Santos (Org.)
PERMITAM-ME QUE DÊ NOTA DE UM ARTIGO saído hoje, 19.09.2020, no diário italiano “Il Fatto Quotidiano”, de Roma, um dos mais influentes jornais italianos da actualidade, da autoria de Giovanni Valentini, um dos fundadores e também Vice-Director do jornal “La Repubblica”, Director dos Semanários “L’Europeo” e “L’Espresso” e escritor, na sua habitual rubrica de Sábado “IlSABATODELVILLAGIO”: “Domani e Lunedì Persino Internet si Schiera per il Taglio”.
O ARTIGO, que abre com um leitmotiv que é a citação de um texto meu, retirado do mais recente livro que publiquei, juntamente com Emiliana de Blasio, J. M. Sánchez-Duarte, Manuel Anselmi, Michele Sorice, Pierre Musso (“Política e Democracia na Era Digital” – Lisboa, Parsifal, 2020), trata da questão do referendo que terá lugar amanhã e segunda-feira e que pergunta aos italianos: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente” (…) la “riduzione del numero dei parlamentari…?” Ou seja, trata-se de aprovar ou reprovar, por esta via, uma lei constitucional já aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado (mas aqui sem a maioria de 2/3 exigida pela Constituição), em Outubro de 2019, e que prevê a redução dos deputados a 400 e dos senadores a 200, depois de tantas tentativas, lideradas por Aldo Bozzi, Massimo D’Alema, Luciano Violante, Silvio Berlusconi, Enrico Letta e Matteo Renzi, para a redução do número dos representantes.
GIOVANNI VALENTINI defende a redução com o seguinte argumento: o actual número dos representantes (deputados e senadores), 945, fixados por uma lei constitucional de 1963 (630 deputados e 315 senadores), já não faz sentido uma vez que, com os instrumentos digitais de comunicação hoje disponíveis, cada representante pode trabalhar mais e melhor, não havendo, pois, necessidade de um número tão elevado. Bem pelo contrário, a redução do número dos representantes em vez de reduzir a democracia representativa (como alguns defendem) poderá, na era digital, favorecer o advento de uma “democracia deliberativa” “mais participada, circular e eficiente” (…) e “mais adequada aos tempos em que vivemos”. A posição central que o representante pode hoje assumir no processo político e comunicacional, usando os instrumentos digitais, as TICs, as plataformas digitais e as redes sociais não só aumenta a sua capacidade de produção política e comunicacional como aumenta também a capacidade de intervenção da cidadania no processo, gerando uma circularidade virtuosa que pode, naturalmente, prescindir de um tão elevado número de representantes. E, acrescentaria eu, também atendendo ao facto de a representação se referir à Nação e não aos círculos eleitorais por onde os representantes são eleitos.
ESTA A TESE do jornalista e escritor, que retoma, como leitmotiv, o que escrevi no capítulo 6. do livro “Política e Democracia na Era Digital” (“Conectividade – uma chave para a política do futuro).
ESTOU ABSOLUTAMENTE DE ACORDO com o autor, não tanto por ser, de facto, excessivo o número de representantes no Parlamento italiano e nem sequer pelo valor financeiro que lhe corresponde (a democracia tem custos que são virtuosos), mas sim pela razão que ele aponta: graças ao digital, cada representante pode intensificar o seu mandato como nunca fora, antes, possível, ao mesmo tempo que vê aumentar a intervenção da cidadania no processo de produção do consenso e da própria decisão, gerando uma interacção virtuosa, ou seja, promovendo a evolução da democracia representativa para uma democracia deliberativa mais participada, mais eficiente, mais transparente e com um processo decisional mais qualificado.
OBRIGADO, GIOVANNI VALENTINI.
O Artigo integral.

SOBRE O DISCURSO DE ÓDIO NA INTERNET
JOÃO DE ALMEIDA SANTOS

“Politically Correct”. Jas. 08-2020
A PROPÓSITO DA MONITORIZAÇÃO, através de um Observatório sobre o discurso de ódio na Internet que o Governo português vai promover, recordo um concurso lançado, em 2018, pela União Europeia sobre este tema no espaço da União: Project: OvERlOOk web ObsERvatory On Online hate speech TOPIC: Call for proposals to monitor, prevent and counter hate speech online”. A chamada fez parte do Rights, Equality and Citizenship Programme for the period 2014 to 2020. Deadline: 11 October 2018. E RECORDO também a iniciativa da Comissão Europeia e das grandes Plataformas da Rede acerca do mesmo assunto: “The European Comission and the IT Companies announce Code of Conduct on illegal online hate speech”. 31.05.2016. “The Commission together with Facebook, Twitter, YouTube and Microsoft (“the IT companies”) today unveil a code of conduct that includes a series of commitments to combat the spread of illegal hate speech online in Europe”. ESTA ATENÇÃO especial não é, pois, nova e já foi objecto de iniciativas da União Europeia, pelo menos desde 2016. Seria bom que o Governo, para começar, publicitasse os resultados do Projecto Europeu acima referido e também os acordos alcançados com estas Grandes Plataformas. Seria necessário saber se, no seguimento do concurso de 2018, cujos resultados foram conhecidos nos inícios de 2019, já existe, ou não, um Observatório Europeu sobre “Hate Speech”.
É O INÍCIO de um processo de regulação básica da comunicação online que, no meu entendimento, não interfere com a liberdade na rede. Nas eleições para o Parlamento Europeu, em 2019, este Código de Conduta já fora aplicado com resultados muito significativos: a título de exemplo demonstrativo da relevância política atribuída às fake news e, em geral, à desinformação, a nível político-institucional e organizacional, refiro a iniciativa da Comissão Europeia e das principais plataformas digitais, Facebook, Google, Twitter e YouTube, citando uma notícia de “El País”: “Según el informe de la Comisión, Google informó de la retirada entre enero y mayo, a nivel mundial, de más de tres millones de canales de YouTube; Facebook desactivó más de dos millones de cuentas falsas en el primer trimestre de este año; y Twitter verificó si 77 millones de cuentas eran reales” (El País, 14.06.20). A QUESTÃO que se põe tem duas faces:
-
1. Se os governos ou a União Europeia podem monitorizar o discurso público e, eventualmente, sancioná-lo, quando agredir os princípios básicos das constituições e dos tratados ou dos seus protocolos.
-
2. Se as Universidades podem e devem estudar todos os fenómenos sociais, sem interferências políticas e institucionais sobre os conteúdos.
ESTA ÚLTIMA questão veio à agenda pública
a propósito de um livro sobre o Chega,
envolvido em aspectos censórios e militantes.
Mas a primeira, se for identificada como
política de apoio e financiamento da investigação
científica nas Universidades e UI&D,
nada tem de censurável. Bem, pelo contrário.
Eu próprio, que tenho ideias bem firmes
sobre a democracia e a liberdade,
tendo lutado por elas durante o regime
fascista, participei num concurso da UE
sobre o discurso de ódio nas plataformas
online, liderado pela Fundação da CGIL,
a mais importante federação de sindicatos
italiana, “Fondazione Giuseppe di Vittorio”.
MAS HÁ ALGO de que, decididamente,
não gosto: polícias do pensamento,
sejam eles de direita ou de esquerda.
E eles abundam por aí disfarçados,
à esquerda, de politicamente correcto
e de polícias da ética republicana.
E não gosto porque o combate só pode
ser um: o discursivo e argumentativo.
Não se vai lá com abaixo-assinados de
repulsa pelo que o outro pensa.
Combate-se, argumentando, não policiando.
Tenho na minha biblioteca dezenas
e dezenas de livros sobre o fascismo,
o nazismo, o comunismo das mais variadas
orientações. E comprei-os com dinheiro meu.
Para estudar e compreender. Para combater
no pano das ideias. Na verdade, o combate
mais importante é o da educação para
a cidadania, para os valores sociais e
para uma estética como base da
sociabilidade. Lembro-me sempre das
Cartas sobre a Educação Estética do Homem
("Ueber die aestetische Erziehung des Menschen",
1794 - que os vigilantes do politicamente
correcto um dia corrigirão para
“Cartas sobre a Educação Estética do
Ser Humano”, exactamente como fizeram
com a “Declaração Universal dos
Direitos do Homem”, de 1948,
e como certamente farão com a "Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão", de 1789),
de Friedrich Schiller, e da sua curiosa
proposta de um Estado Estético (uma reflexão
minha sobre este assunto em Santos, J. A.
Os Intelectuais e o Poder, Lisboa, Fenda,
1999, pp. 42-51).
EM MATÉRIA de publicações nas redes
sociais, o critério das grandes plataformas
é muito menos exigente do que o dos chamados
“códigos éticos” do jornalismo, claramente
aceites pela sociedade, mas muito pouco
praticados pelo jornalismo actual.
Outra coisa é os governos começarem
criar autonomamente códigos de conduta.
Não conheço nenhum código ético de jornalismo
assinado por um governo democrático,
mas conheço, sim, um código assinado
pela Assembleia Parlamentar do Conselho
da Europa, quanto a mim o melhor código ético
alguma vez adoptado (Resolução 1003 da
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa,
de 01.07. 1993). Os códigos são, de resto,
coisa antiga, que já vem desde o código
Harris de 1690, e visam no essencial garantir
a independência e a correcta gestão do
bem público informação, ao serviço da cidadania.
Outra coisa diferente é a de as Universidades
darem atenção aos discursos que circulam
na rede ou na comunicação social –
incluídos os discursos de ódio - com
o objectivo de os estudarem, enquanto fenómenos
sociais. Isso, sim, é absolutamente desejável.
Quanto ao combate, é, claro, legítimo e desejável,
mas não pode ser feito em nome do politicamente
correcto e ainda menos em nome
da ciência (social). Combate-se com argumentos
e influência social.
NÃO CONHEÇO o livro do autor italiano
sobre o Chega (li apenas o artigo
de Marina Costa Lobo, no público de ontem,
e o famoso abaixo-assinado),
mas conheço relativamente bem
o discurso deste partido e parece-me
que há três coisas que devem ser evidenciadas,
a propósito: a) se este partido é, ou não, nos
termos da CRP, inconstitucional (nomeadamente
nos termos do n. 4 do art. 46); b) este partido
alimenta-se da oposição ao politicamente correcto,
misturando um populismo anti-sistema com um
populismo identitário; c) e cresce porque
está permanentemente no topo da agenda,
levado pelos vigilantes do politicamente correcto
(mas, a este respeito, seria aconselhável
que vissem o que diz a teoria do “agenda-setting”,
de Maxwell McCombs e Donald Shaw).
EM CONCLUSÃO, é útil e desejável
que haja um Observatório Europeu,
liderado por Universidades e por UI&D,
sobre o discurso de ódio, sobre fake news
e desinformação,
iniciando um processo de regulação da
rede (para além do que são já as normas
legais existentes e aplicáveis ao uso
do espaço público), fundado essencialmente
na auto-regulação e na defesa de um
espaço público respeitador dos princípios
que constam das Cartas Universais dos
Direitos Fundamentais.
O que não é, todavia, desejável
é o policiamento do pensamento e da
linguagem nos termos em que os vigilantes
do politicamente correcto o têm vindo a fazer.
Sinceramente, eu tenho mais medo dos polícias
do pensamento e da linguagem do que das
velhas botas cardadas. Colonizar consciências
é mais perigoso do que amedrontar corpos.

“Politically Correct”. Detalhe.
UMA POLÉMICA POLÍTICA NA GUARDA
A MINHA POSIÇÃO
Por João De Almeida Santos

“G. de GUARDA”. Jas. 05-2020.
A GUARDA É A MINHA TERRA. Mais concretamente, Famalicão da Serra. Fui Presidente da Assembleia Municipal da Guarda oito anos, dois mandatos, e Presidente da Assembleia da COMURBEIRAS, Comunidade Intermunicipal, entre 2006 e 2013. Recentemente, nas eleições europeias de 2019, fui mandatário distrital da candidatura do PS. Mesmo assim, não comento habitualmente a política na minha terra, por opção.
I.
DESTA VEZ, todavia, pronunciar-me-ei sobre a polémica entre a Assembleia Municipal da Guarda, através da sua Presidente, Cidália Valbom, e o Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, a propósito da realização de uma Assembleia Municipal presencial, não nas suas próprias instalações na sede do Município, na Sala António de Almeida Santos, mas nas instalações do Teatro Municipal da Guarda (TMG), precisamente para que pudessem ser cumpridas as normas de salvaguarda do perigo de contágio pelo COVID-19, vistas as boas dimensões da sala de espectáculos. A reunião, ao que se sabe, foi convocada para envolver todos os representantes políticos no combate à pandemia, em todas as suas frentes, da sanitária à económica, e tendo em consideração que os presidentes das 43 Juntas de Freguesia são membros da Assembleia, tendo, muitos deles, dificuldades de participação numa assembleia através de plataforma digital.
Feitas todas as diligências, o Senhor Presidente da Câmara, que tutela o espaço, proibiu a realização da Assembleia, invocando infracção das normas sanitárias em vigor.
II.
Não considero relevante, para o efeito, discutir se a Senhora Presidente Cidália Valbom, ao convocar a Assembleia, garantiu (em termos sanitários) a plena legalidade para a realização do acto ou se o Senhor Presidente Carlos Chaves Monteiro entendeu que havia infracção. Aceito que haja boas razões de parte a parte e que a preocupação sanitária seja de ambos. Mas, no essencial, não é disso que se trata, até porque a haver infracção, certamente inadvertida, a própria Assembleia seria a única responsável pelo acto, ficando sujeita às sanções previstas pela lei.
III.
O que aqui me traz, pois, é, no essencial, a questão da relação entre poderes municipais independentes, como refere o art. 44 da Lei Autárquica (Lei 75/2013), e que possuem legitimidade própria e directa. Ou seja: é legítimo que o PC proíba a Assembleia Municipal de realizar uma sessão no seu próprio espaço, a sala António de Almeida Santos, ou em qualquer outro espaço do Município, como viria a acontecer, com base no poder administrativo de gestão dos espaços do Município, incluído o da própria sala da Assembleia Municipal? No meu entendimento, não, qualquer que seja a razão invocada. E porquê? Porque se trata de dois poderes separados e com igual legitimidade, sendo que é um deles, o Poder Deliberativo, a ter como principal competência o controlo dos actos do Executivo, como refere o artigo 25 (n. 2) da Lei Autárquica e inclusivamente o artigo que estipula que o PC deve “dar cumprimento às deliberações da assembleia municipal, sempre que para a sua execução seja necessária a intervenção da câmara municipal” (art. 35, alínea c). No caso em apreço, garantir (“afetar”) à Assembleia “instalações e equipamentos necessários ao seu funcionamento” – art. 31.º, n.º 2 -, competindo à Presidente da Assembleia “assegurar o seu regular funcionamento” – art. 30, n.1, alínea a). Ora, o que, na verdade, aconteceu foi exactamente o contrário do que estipulam os artigos citados. E digo não, também porque, aberto um precedente, seguir-se-ia outro e outro, resultando daí, e por esta via, uma real inversão de papéis: o controlo presidencial da Assembleia por via administrativa. O poder executivo a controlar o poder deliberativo. Mais. Mesmo que um acto do poder deliberativo possa ser considerado ilegal ou ilegítimo não poderá ser o poder executivo a declará-lo como tal, sem ferir o princípio da separação de poderes. Pode alertar, não executar uma proibição, impedindo o normal funcionamento de um outro órgão, que é independente.
IV.
Por outro lado, e neste caso, uma Assembleia Municipal extraordinária, com o fim declarado, e em lugar previsto para que precisamente pudessem ser cumpridas as exigências sanitárias consignadas em norma legal, não poderá ser considerada, como foi, um normal evento solicitado por uma qualquer entidade da sociedade civil. Bem pelo contrário, em situação excepcional, este órgão, pelo facto de integrar institucionalmente todas as sensibilidades do Concelho, tem o dever não só de controlar a acção do executivo (politicamente mais restrito) em matéria tão sensível, como também de procurar envolver activamente todos os responsáveis, e em particular os presidentes das juntas de freguesia, para uma mais eficaz resposta à crise do COVID-19, não só no plano sanitário, mas também no plano económico e social, lá onde as juntas de freguesia desempenham e desempenharão sempre um papel nuclear. Não creio, pois, que se tratasse de uma irrelevante conferência ou debate, como referiu o Senhor Presidente da Câmara.
V.
O ponto fundamental é este, no meu modesto entendimento: o Presidente da Câmara não tem legitimidade para proibir uma sessão da Assembleia Municipal, em qualquer caso; não pode chamar a si o poder de julgar e de decidir acerca das suas decisões; e, finalmente, não pode impedi-la de funcionar, enquanto órgão independente. Esta é uma questão de fundo, porque ela pode configurar uma inversão nas competências dos órgãos autárquicos, resvalando até para uma espécie de cesarismo autárquico legitimado pelo estado de excepção. Lá mais para oriente, por exemplo, na Hungria, é o que já está a acontecer, tendo motivado uma forte reacção da União Europeia contra o Senhor Orbán, chefe do Executivo húngaro. Bem sei que o Senhor Presidente Carlos Chaves Monteiro não se filia neste tipo de orientação política, mas este gesto sim. Para finalizar: se a Assembleia Municipal com a convocação de uma Assembleia Municipal extraordinária para o fim declarado, cometesse, por qualquer motivo, apesar da generosidade e do alcance estratégico da iniciativa, uma infracção legal só ela seria por isso responsável, ficando sujeita às sanções previstas na lei, mas nunca ao arbítrio administrativo da vontade do Presidente da Câmara, num processo que tornaria ainda mais irrelevante os já irrelevantes poderes das Assembleias Municipais. A questão é política, mas, mesmo assim, sempre há um Tribunal Administrativo competente para, nos termos do art. 4., al. j) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, dirimir diferendos sobre “relações jurídicas entre pessoas colectivas de direito público ou entre órgãos públicos, no âmbito dos interesses que lhes cumpre prosseguir”.
VI.
E eu, como antigo Presidente da Assembleia Municipal da Guarda, durante oito anos, não poderia, una tantum, ficar mudo perante o que considero um uso excessivo do poder administrativo perante um órgão deliberativo, nestas circunstâncias. Conheço bem a realidade das juntas de freguesia do Concelho para entender o valor da iniciativa de reunir os seus Presidentes em Assembleia para unir forças para um combate que só agora começou. #
A PROPÓSITO DO MANIFESTO DOS 200 MAGNÍFICOS
JOAO DE ALMEIDA DA SANTOS
AO INIMIGO CONVENCIONAL, representado por quem ameaçava com as armas a integridade de outrem, junta-se agora um novo inimigo invisível que urge combater com as armas da ciência, da solidariedade, da lucidez e da ética da responsabilidade, individual e colectiva. Este encontro entre a ética da responsabilidade individual e a ética da responsabilidade colectiva tem o nome de ética pública porque a esfera pública é, de facto, o lugar de encontro com o outro e com os outros, o lugar de encontro entre convicção e responsabilidade. Falo da ameaça do vírus, claro, e de tantas outras que com ele se hão-de revelar, para além do muito que já revelou. A ameaça do vírus vem juntar-se à ameaça de ruptura do ecossistema. Um problema sistémico, como afirmam os autores do Manifesto. São, pois, muito sérias as ameaças e, por isso, urge tomá-las convenientemente em consideração. Mas como? Apelando mais uma vez aos máximos dirigentes políticos mundiais? Mas se o poder instalado não se reforma, porque é transformista! Lembram-se de “Il Gattopardo”, do Tomasi di Lampedusa (livro) e do Luchino Visconti (filme)? Então, que fazer? Uma “rebelião das massas”, não daquelas de que, em 1930, falava Ortega y Gassett, mas do neopovo da rede?
REGRESSAR À NORMALIDADE?
TALVEZ o único caminho para lá chegar seja uma profunda mudança no modo de conceber e de exercer a política, aquela que depende dos cidadãos, eles, que agora têm nas mãos instrumentos que podem induzir profundas mudanças. O final do Manifesto “Não a um Regresso à Normalidade”, assinado por cerca de 200 personalidades do mundo da arte e da ciência, talvez possa sugerir algo interessante: “A transformação radical que se impõe – a todos os níveis – exige audácia e coragem. Ela não acontecerá sem um empenho massivo e determinado. Para quando as acções? É uma questão de sobrevivência, tal como é uma questão de dignidade e de coerência”. Empenho massivo em acções tendentes a provocar uma mudança de rumo, a resolver um problema que não é circunstancial, mas sistémico – este o tema do Manifesto.
A pandemia servirá de escola. O vírus percorreu rapidamente o mundo e o mundo teve de reagir até à escala individual, micro, com uma mobilização individual e comportamental que não tem precedentes. E isso significa que a mobilização de massa individualmente centrada é possível. Mass self-mobilization, diria, glosando o conceito do (agora) Ministro Castells. Para nos obrigarmos a nós próprios a mudar de vida e, naturalmente, para exigirmos aos máximos responsáveis pela condução dos nossos destinos uma mudança de rumo. É isto possível? Eu creio que sim, desde que a palavra seja obrigar, impedindo o transformismo. Mas para mudar é preciso encontrar uma mundividência estruturada e mobilizadora bem diferente da que os populistas e neopopulistas oferecem como resposta à visível crise do sistema.
A mobilização é possível, sim, há instrumentos para isso, através da rede, das TIC, das redes sociais, das grandes plataformas digitais. Sem dúvida. Mas em torno de que ideias para a política? E quem serão os protagonistas da mudança, nas ideias e na prática?
POLÍTICA
REGRESSANDO a um discurso mais próximo de uma perspectiva reformista, é possível dizer que a crise já nos disse muito sobre o papel social do Estado, agora muito revisitado, a responsabilidade social das empresas e a sua consistência estratégica, a ética da responsabilidade e a sua dimensão comportamental, a ética profissional e a sua dominância sobre o risco iminente, a pregnância de uma verdadeira ética pública.
Eu diria que este tempo de incerteza é o momento certo para revisitar a política e as categorias com que se rege em profundidade. Para a revisitar nas dimensões acima referidas. Personagens que interpretaram com sucesso o seu próprio tempo de vida e que são mundialmente conhecidos e admirados dizem agora que sim, que é tempo de mudar de vida, que não se pode regressar à velha normalidade e às suas categorias. E eu, que não tive o sucesso deles, concordo. E não só porque o vírus nos bateu à porta, mas sobretudo porque os tempos estão maduros para a mudança… ou para a regressão a tempos escuros e de má memória. Mas a mudança para ser mudança tem de bater às portas da política.
Na verdade, a mudança há muito que se anuncia, muito antes de sermos confrontados com este malicioso e veloz vírus. E, todavia, quem decide não só parece que não a quer ver como nem sequer tenta uma manobra transformista. TINA (There Is No Alternative), sim, para eles não há alternativa à política que temos. Talvez porque são incapazes de a ver, de sair do paradigma em que sempre se moveram e que constitui o seu horizonte possível. Mas também é verdade que há cada vez mais novos aprendizes de feiticeiro, para não dizer inacreditáveis personagens de opereta, que tornam a mudança difícil. Por outro lado, a política tem vindo a ficar cada vez mais reduzida a puro management, à gestão remota dos grandes números da economia, a um discurso “algebrótico” e burocrático sem alma.
ÉTICA PÚBLICA
NA RAIZ do problema está, pois, a política, tout court: a ideia de autogoverno das sociedades e a respectiva ética pública. E, portanto, sobe ao topo da agenda a exigência de cruzar a independência e autonomia individual da classe política com o conhecimento, o saber e a cultura para a boa concepção e gestão política das sociedades, com a necessária síntese entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade e, consequentemente, entre ética profissional e ética pública. Mas há também um velho e grave problema que parece que ninguém que ver: os métodos de pré-selecção da classe política dirigente, onde vale mais a endogamia do que a competência e o saber.
São estes os ingredientes que deverão integrar o exercício da política porque só com eles é possível responder com eficácia aos complexos e enormes desafios que se põem às sociedades, hoje. São estes, mais do que as bases programáticas, que fazem o bom ou o mau tempo na política democrática. Só haverá bons programas se eles assentarem em bons princípios, bons métodos e bons executores. Vão longe os tempos do estruturalismo, onde as pessoas eram simplesmente identificadas com as funções que desempenhavam. E onde a função fazia o órgão. A responsabilidade individual diluía-se na responsabilidade da estrutura. Boas estruturas convertiam maus profissionais em bons dirigentes, ou não? Ou eram elas que, com eles, ruíam? Bem se tem visto, por exemplo, com os banqueiros! O capital humano é, sim, absolutamente decisivo. Afinal, são os seres humanos que constroem as estruturas e, por isso, o que lhes diga directamente respeito é sempre fundamental.
GREED IS NOT GOOD
É VERDADE, mas isso não quer dizer que os indivíduos singulares não se encontrem socialmente inscritos em esferas de maior dimensão e que, por isso, as suas competências e as suas convicções não devam ser também referidas a essas esferas. Falo do interesse geral e da ética pública por contraposição aos jogos de interesse privado que têm vindo a confiscar cada vez mais a política, através precisamente dos aprendizes de feiticeiro e dos fantoches de serviço. Não é coisa nova e por isso estamos onde estamos. E é mais que certo que o tempo que estamos a viver acabará por revelar ainda com maior nitidez onde estão e o que fazem estes personagens. Muitos, demasiados até, são sobejamente conhecidos porque não escondem a ganância, para não dizer que até a exibem. E não, “greed is (not) good”, caro Fareed Zakaria. Gestores gananciosos que perdem milhões e que, depois, se atribuem milhões como prémio de gestão não é ganância boa, é roubo. E nem sequer já é possível dizer que privado é bom simplesmente porque é privado (embora também seja), visto que nas tempestades o socorro acaba sempre por vir do lado público, do Estado, dos bolsos de contribuintes a quem, em tempos de bonança, é dito para se arredarem do management, isto é, da política pura e dura.
É por tudo isto que, mais uma vez, a política deve intervir a partir da ética pública para defesa do interesse geral. Os que defendem que a política se deve reduzir ao management são, afinal, os mesmos que se servem instrumentalmente do Estado para enriquecer, expulsando a ética pública e o interesse geral da gestão política. Por isso, creio que chegou o tempo de dar uma volta a tudo isto, repensando radicalmente a política com novas categorias e cartografias e recentrando aquilo que sempre foi a sua matriz originária. É neste sentido que me associo ao apelo de tantas personalidades que, em abaixo-assinado, apelam a que mudemos de vida. E, para isso, antes dos programas, é preciso recomeçar a partir de nós mesmos e, em particular, dos que têm responsabilidade políticas.
CONCLUSÃO
TERMINO como comecei. Sim, mas para mudar, que fazer? Como? Fazer um apelo aos líderes mundiais, a todos? É como não o fazer a nenhum. Bem pelo contrário, seria preciso ir para essas grandes plataformas digitais interpelar os concorrentes a concretas eleições, tomando posição em cada caso concreto. Mas ir com ideias precisas sobre o que é preciso mudar, dizendo-lhes claramente que essa será a medida do voto de milhões de eleitores. Hoje isto é possível e desejável, graças à rede, até porque o velho establishment mediático continua a ser, não contrapoder, como erradamente reivindica, mas a outra face da moeda do poder. Na experiência das campanhas de Barack Obama a plataforma Moveon.org desempenhou um papel crucial. E de lá para cá o poder da rede aumentou consideravelmente, a ponto de, em Portugal, durante este período que vivemos, o ensino ter ficado literalmente a decorrer nas plataformas digitais e em rede. Sim, também acho que não devemos regressar à velha normalidade, como antes, afinal, já não achava, ou seja, quando a normalidade se transformou em realidade sem alternativa. Já vimos bem como acabaram os arautos do TINA. #
Narrativas da Crise – 2
Diagnóstico do Nosso Tempo
João de Almeida Santos
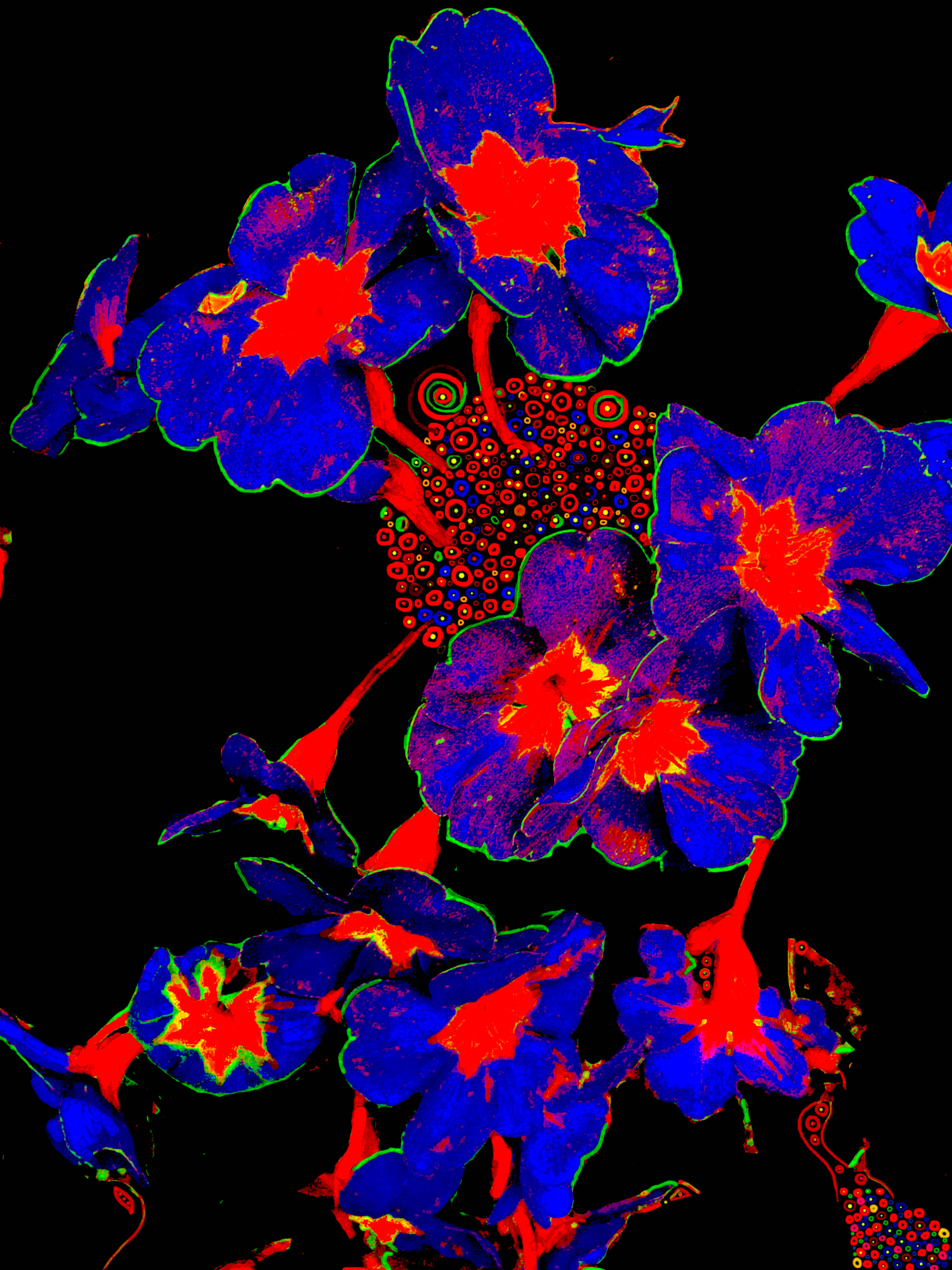
Chakra. Jas. 01-2029
Tomo de empréstimo este título de um escrito de Karl Mannheim para propor algumas reflexões sobre o tempo que estamos a viver. E começo por dizer que ao reler a versão italiana de um livro de Zygmunt Bauman, de 1999, curiosamente intitulado, nesta versão, "La solitudine del cittadino globale” (mas na versão em inglês é “In search of politics”), parei logo nas primeiras páginas, pela exuberância e actualidade de dois conceitos por ele utilizados. Bauman referia-se a Pierre Bourdieu e à sua distinção entre um “uso cínico” e um “uso clínico” da razão e do conhecimento (do modo como funcionam os mecanismos sociais complexos).
“Uso Cínico” e “Uso Clínico” da Razão
- O uso cínico é aquele que se serve do conhecimento para fins de utilidade exclusivamente pessoal, não importa como seja a sociedade, justa ou injusta, solidária ou não. O uso clínico é aquele que se serve do conhecimento para, em comunidade, combater o que é errado, nocivo ou lesivo do nosso sentido moral. Um visa a pura utilidade pessoal; o outro visa a terapia do que vai mal na sociedade. Um é de natureza subjectiva e autorreferencial; o outro é de natureza comunitária ou societária.
Que estranha antecipação destes tempos o uso destes conceitos, a sua semiótica. Cínico versus clínico, em tempos de pandemia. Vem mesmo a propósito. Do ponto de vista da União, e a propósito da pandemia, houve países que tentaram até ao fim das reuniões do Eurogrupo fazer um uso cínico do conhecimento e do poder (em particular os Países Baixos, para onde têm fiscalmente migrado importantes grupos económicos) e outros que fizeram e propuseram um seu uso clínico (os do Sul do continente), acabando por obter uma vitória relativa. Mas até foi necessário ameaçar com o fim da União para se chegar a um fundo de 540 mil milhões comunitários para combater a crise. Ufa, que alívio! Parabéns ao Ministro Centeno. Não são propriamente eurobonds ou dívida mutualizada, mas anda lá perto. Também não são uma mão cheia de nada, como afirmam alguns. Tinha de ser ou seria o fim da EU. Ficamos agora a aguardar as medidas para a crise económica que aí virá.
- Fui, como sempre faço, ver a etimologia grega de ambos os conceitos. A do primeiro (“cínico”) remete para as palavras gregas kyôn (kynós) e kynikós – cão e canino. E remete também para a chamada filosofia cínica, de que foi fundador Antístenes. Em poucas palavras, o ideal desta filosofia era a autárkeia, a autorreferência e a recusa do nomos societal, numa certa oposição entre natureza e sociedade, entre privado e público, com apologia do primeiro termo. A do segundo (“clínico”) remete para klinikós – doente, o médico que visita o doente na cama, clínico. E é claro que esta etimologia remete para uma relação social, a que se estabelece entre o médico e o doente.
Não deixa de ser curioso – e por isso me detive neste livro de Zygmunt Bauman – que esta contraposição entre os amigos do “cada um por si”, os “cínicos”, e os que reivindicam a primazia da comunidade, os “clínicos”, assuma, já antes da pandemia, com Bourdieu e, depois, com Bauman, esta curiosa e estranha dimensão semiótica. A posição de Bauman é clara sobre esta dicotomia. Está do lado do “uso clínico”: a liberdade individual só pode ser o produto de um empenho colectivo, se não quiser conhecer gravíssimos efeitos iatrógenos: pobreza de massa, desemprego e medo generalizado. As palavras não são neutras e daí o uso da expressão “uso clínico” e “iatrogenia”, em tempos de pandemia e de busca de terapias para os problemas, que, numa primeira fase, serão de natureza médica, numa segunda fase, de natureza económica e, sempre, de natureza social, e para os quais será preciso encontrar também terapias correctas, através de um “uso clínico” da razão e do conhecimento acerca do funcionamento da sociedade.
- E o que nesta crise é curioso é que a autorreferência, a autárkeia seja condição para impedir a contaminação colectiva. O que até parece ser um triunfo dos cínicos, dos utilitaristas sobre os clínicos: preserva-te a ti porque assim preservarás toda a sociedade. Simples, não é, caro Watson? Mas não, não é assim tão simples. E sabem porquê? Porque a garantia de salvaguarda de todos e de cada um está centrada na comunidade. Num exército de operadores de saúde que constituem a garantia última da tua sobrevivência. Um exército comandado pelo poder político, ou seja, pela sociedade. A garantia está, portanto, no “uso clínico” do conhecimento, da razão e do poder. E, de facto, se é a comunidade dos operadores de saúde que está na linha da frente, quem comanda todo o dispositivo de guerra é o governo, não só do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista dos recursos. E sendo também certo que, num plano macro, a maior garantia dada pela União foi para o colectivo, que é a Nação (240 mil milhões), a segunda foi para outro colectivo que é a empresa (200 mil milhões) e que só a última foi para ao singulares (100 mil milhões). Mas, sim, também para estes vai uma garantia da Comunidade.
Afinal, há sociedade ou não?
- Esta pandemia é, pois, muito esclarecedora para a política. Tão esclarecedora que até levou um discípulo de Hayek e da Thatcher a dizer que, afinal, sempre há uma coisa a que podemos chamar sociedade. Se um não sabia o que é a justiça social (Hayek) e a outra dizia que não havia sociedade (Thatcher), mas só indivíduos, agora, indo em sentido oposto ao que seguiu o “cínico” discípulo de Sócrates, Antístenes, e o seu sucessor Diógenes de Sinope, Boris Johnson (que a comunidade médica o salve, é o meu desejo), aprendendo depressa (com os gregos?), recuperou a ideia de sociedade e a imprescindibilidade do “uso clínico” da razão e do conhecimento. Para um classicista como Boris Johnson talvez a filosofia cínica já não ocupe hoje um lugar tão central no seu pensamento. E nem sei se, hoje, com o que a vida já lhe ensinou, lá no fundo não pensará, se tal lhe fosse possível, que a ideia de uma sociedade maior, a União Europeia, seria, de facto, a melhor defesa para o combate a este insidioso inimigo. Não sei, não!
- A questão é profunda e tem a ver não só com o sentido da vida, mas também com o contexto em que ela é vivida: do íntimo ao social. É certo que todos estamos a experimentar, em medida relativa, um certo eremitismo com o recolhimento a que fomos forçados pelo poder invisível de um vírus ameaçador pelo seu poder intrusivo. Fomos obrigados à defensiva para podermos sair vitoriosos perante a ofensiva do inimigo. O Clausewitz de “Vom Kriege” ensina: a defensiva é superior à ofensiva. É nesta trincheira defensiva que estamos a viver, só nos sendo permitido saídas furtivas para não sermos alvejados pelo inimigo, que avançou de forma avalassadora no terreno, aumentando o número de vítimas e criando mais dificuldades logísticas aos que estão na frente de combate, apesar de numa lógica defensiva. Numa “guerra de movimento” que certamente se irá transformar numa “guerra de posição”, para usar os conceitos de Gramsci.
“L’enfer c’est les autres”?
- Este confinamento leva-nos a pensar em nós próprios e muito nos outros. Os que nos podem devolver o contágio. “L’enfer c’est les autres”, como dizia o Jean-Paul Sartre, no Huis Clos, de 1943-44, em plena guerra? Não creio. Os outros também somos nós, porque a imagem nos é devolvida precisamente pela sociedade (pelo outro), para onde se escoam rapidamente os nossos próprios actos. E que nos chegam, depois, devolvidos como consequência. Observo e julgo – sou observado e sou julgado. Portanto, se “l’enfer c’est les autres”, então o inferno também somos nós próprios (para os outros). A sociedade como um jogo de espelhos.
Mas não terá tudo isto efeitos sobre o que seremos num futuro próximo? Bem sei que, enquanto humana natureza, o nosso ritmo evolutivo é lento e que, por isso, não haverá uma revolução na nossa relação com nós próprios, com os outros e com a natureza. Mas também creio que uma correcta interpretação do que está a acontecer poderá constituir-se como a nova narrativa de forças políticas que queiram afirmar-se como alternativa aos que sempre disseram e dizem “TINA!”, “There Is No Alternative”. Nem tanto ao mar nem tanto à terra, porque o que eu sei é que a mudança só poderá ser por via de uma política culta, sim, culta e civilizacionalmente preparada. E é aqui que reside o problema e talvez a solução.
Espanto
- Por isso mesmo, confesso-me literalmente chocado com o que aconteceu. E não é pela gravidade do facto. Confesso-me chocado sobretudo pela impreparação dos centros de poder mundial, da política, dos serviços de informação, dos laboratórios altamente sofisticados, das Universidades no topo dos rankings mundiais… terem ali à frente dos olhos a tragédia de Wuhan durante tanto tempo e não terem sequer reagido à gravidade do fenómeno. Bem pelo contrário, fazendo jus ao politicamente correcto, terem-se exclusivamente preocupado em trazer os seus cidadãos da cidade sem saberem realmente do que se tratava. Vamos à Lua ou a Marte, mas não sabemos o que se passa aqui ao lado, em Wuhan. Tudo estes poderes vêem, com drones ou sem drones, com satélites ou sem satélites, com serviços de inteligência ou sem serviços de inteligência… e não se aperceberam do que se passava em Wuhan, apesar das mensagens dos corajosos Fang Bin ou dos Chen Qiuschi. Dá a sensação de que somos governados, em todas estas frentes, por imbecis burocratas (passe a redundância) e de a competência residir mais no preenchimento de formulários e na elaboração de receitas fiscais do que na leitura pública do real para uma acção prospectiva.
Não será preciso mais Europa e melhor Política?
- Chega-nos agora a notícia de que os USA injectam 3.9 biliões de euros na economia (Governo + Reserva Federal). Têm uma população de cerca de 330 milhões de habitantes. A EU tem 450 milhões e, depois de reuniões esfarrapadas, vai injectar 540 mil milhões de euros, a que se somam 750 mil milhões do BCE, num total de 1, 29 biliões de euros, como fundo financeiro para apoio a nações, empresas e indivíduos. Isto diz tudo acerca do estado da União em período de grave crise sanitária e económica: os USA com menos habitantes injectam na economia o triplo dos recursos financeiros. E muito mais diz quando países que sempre foram profundamente europeístas admitiram, pela primeira vez, pôr a União em causa se não fosse encontrada uma solução solidária.
- Os nacionalistas e os populistas, sobretudo os identitários, esses sim, que sempre rejeitaram a União, voltam a achar que tudo é pouco. Que a União não presta porque dá pouco. Nunca a quiseram, mas acham que devia dar mais. Chegam, impantes, ao espaço público (de onde não saem) e dizem que a União não presta porque dá pouco: uma mão vazia e outra cheia de nada. Eu também acho que é pouco, mas a pergunta simples é esta: e se não houvesse União?
- A crise é grave, terá efeitos económicos devastadores, mas não creio que muito mude, porque serão sempre os mesmos a gerir os recursos de combate à crise. Especialistas em explorar as situações de crise, onde circula muito dinheiro com controlo menos apertado e abundam as razões solidárias para reivindicar. A política também não mudará porque estão lá os mesmos de sempre. Onde há burgessos a mais. E interesses privados a cavalgarem o interesse público. Falta de visão estratégica. Os mesmos mecanismos de selecção orgânica das classes dirigentes. A endogamia de sempre. Os entraves burocráticos que tudo atrofiam.
Em suma
E, todavia, há ingredientes suficientes para que as forças do progresso possam retirar lições e promover uma mudança profunda, sabendo-se que ela, afinal, há muito estava inscrita na natureza das coisas. Será? Importa evitar que reste apenas um rasto de destruição com os mesmos de sempre a enriqueceram brutalmente com a crise, com os recursos usados para a debelar. Não estou muito optimista, mas acredito que poderá haver um sobressalto na cidadania que obrigue a política a regenerar-se e a dotar-se de meios que a ponham ao nível mais dos desafios de hoje do que dos interesses de ontem. Há muito por onde começar. Ou a União Europeia não começou precisamente quando recomeçou a reconstrução estratégica da Europa, no pós-guerra, logo a seguir ao Plano Marshall?

Chakra. Detalhe.
NARRATIVAS DA CRISE
João de Almeida Santos
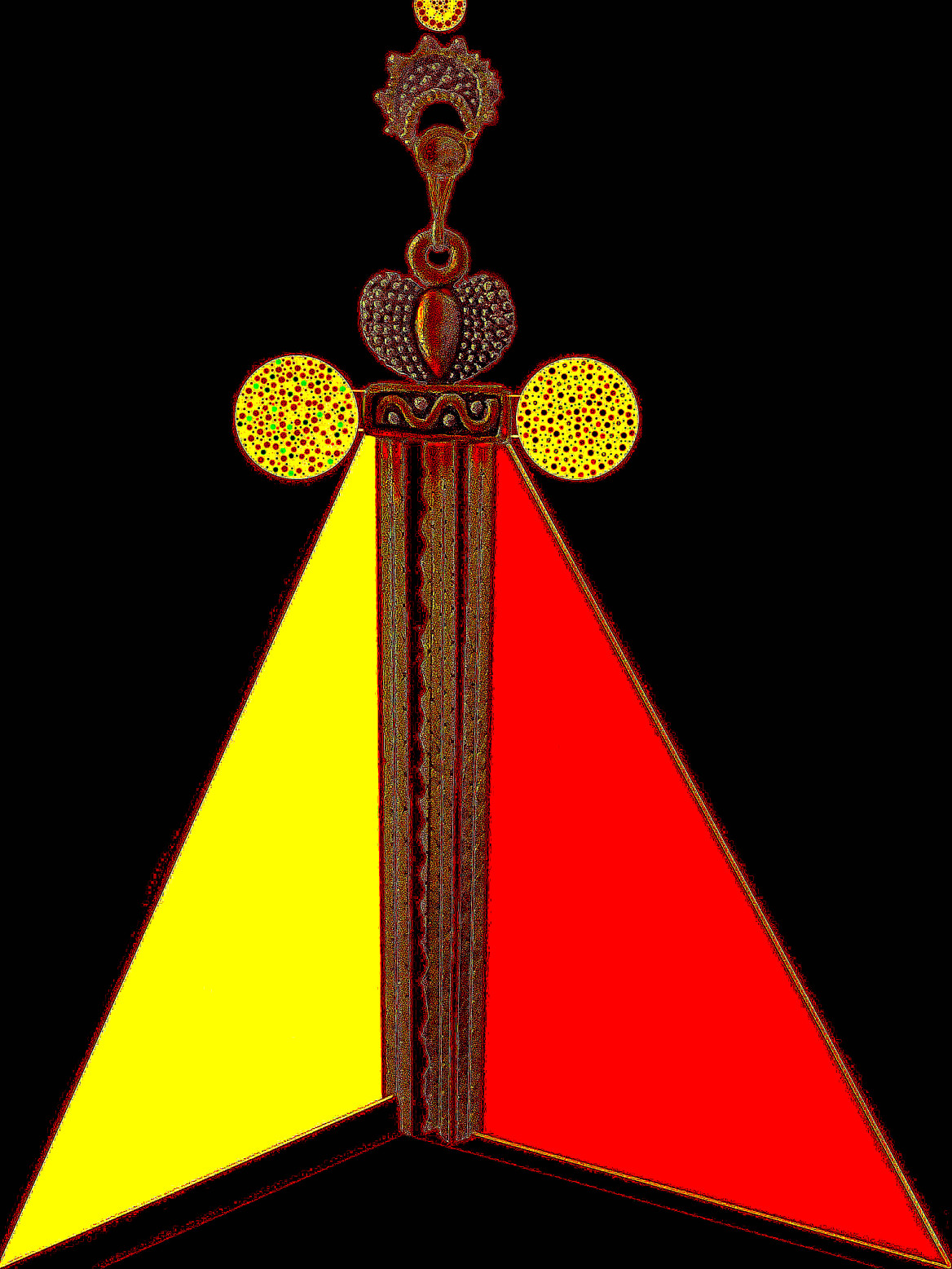
O TRONO. Original de minha autoria.
O ARTIGO – “NARRATIVAS DA CRISE”
EU CONCORDO com as restrições ditadas pelo “estado de emergência” se, no essencial, o que há a fazer é cortar, enquanto é tempo, as cadeias de contágio, perante um vírus altamente contagioso. Na verdade, estas restrições têm um único objectivo: estancar a contaminação. Raciocínio banal que prescinde de grandes elaborações filosóficas. Mas a coisa está a provocar debate entre os juristas: a necessidade do estado de emergência e as suas contradições. Alguns ilustres juristas já vieram a público esmiuçar o assunto. Até há quem veja nisto um confronto dialógico entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa por interpostos juristas, politizando o debate.
A DEMOCRACIA ESTÁ SUSPENSA?
Suspendeu-se a democracia temporariamente (onde é que eu já ouvi isto?), não é, senhor constitucionalista? Ou não se trata de uma suspensão, porque a democracia prevê isso mesmo, isto é, auto-suspender-se? Mas não é isto uma contradição em termos? E não é suicídio? Esta suspensão é temporária (logo, não pode ser suicídio) e visa restabelecer as condições necessárias para, a seguir, se viver a vida e a democracia em plenitude, dizem uns. Logo, é autodefesa. Mas não era necessária, dizem outros. É uma suspensão com elementos contraditórios, acrescentam ainda outros. E todos já parece estarem mais preocupados com a filosofia do direito do que com a expansão do vírus. Mesmo assim é bem melhor esta preocupação jurídico-filosófica do que a do excelso Giorgio Agamben a negar a epidemia e a acusar o governo italiano de querer, a pretexto do COVID-19 (uma normal gripe, diz ele), querer instaurar um estado de excepção pelo medo: “Parece quase que, esgotado o terrorismo como causa de medidas de exceção, a invenção de uma epidemia possa oferecer o pretexto ideal para ampliá-las além de todo o limite”. A realidade, custe o que custar, tem de confirmar as teses do livro que publicou, em 2003, sobre o “Stato di Eccezione”. De resto, o homem até acha que já vivemos há muito em estado de excepção Mas eu congratulo-me, até às entranhas, com a cacetada monumental que o Paolo Flores d’Arcais lhe deu na MicroMega (ver a nota final).
Mas, sim, a suspensão até pode ser democrática (está prevista constitucionalmente), mas a situação que resulta da decisão não é. O que não me incomoda muito vista a dimensão e a natureza da ameaça. Na verdade, já os romanos chamavam a isto ditadura (comissária, para usar o conceito do democrata Carl Schmitt) e Maquiavel considerava-a positiva, por ser transitória e não afectar a ordem constitucional (“in diminuzione dello stato” – Opere, 1966, Milano, Mursia, pp. 187-189). Daí ser uma “ditadura comissária” e não uma “ditadura soberana”. A “ditadura comissária” permitia repor a ordem (neste caso, a ordem sanitária) depois de uma fase de grave anomia (sanitária, por via do contágio descontrolado). Também aqui a excepção, ou a emergência, estava prevista. O Cônsul nomeava o ditador sob invocação de “estado de necessidade” (e “necessitas legem no habet”). Lá, em Roma, eram seis meses e o ditador não podia, de facto, alterar a ordem constitucional nem o seu mandato podia durar mais do que o mandato do Cônsul que o tinha nomeado.
Não me parece, pois, que se possa dizer que continuamos a viver em ambiente democrático. Não. A democracia está suspensa porque os seus valores fundamentais estão suspensos (direitos e a separação dos poderes, visto que se verifica de certo modo uma “governamentalização da República”, para o dizer com o inefável Agamben do “Stato di Eccezione”). A começar pelo da liberdade. Como se vê. E se tivéssemos cá um Orbán ou um Salvini, e não um António Costa, a coisa até poderia mudar de figura: seria caso para nos preocuparmos com o futuro, mais do que já estamos. E seria caso para os Agambens da nossa praça se preocuparem realmente. Não me parece, todavia, que haja no ADN do PS o vírus do estado de excepção, com alto poder contagioso interno que vá do Primeiro-Ministro até ao guarda da esquina. Na verdade, trata-se, neste caso sim, de uma governamentalização da República, diria uma vez mais o Agamben, dando-lhe, afinal, uma imagem de normalidade contemporânea (o estado de excepção como “paradigma normal de governo” contemporâneo, segundo o inefável filósofo) em vez de considerar que é realmente uma excepcionalidade, embora prevista constitucionalmente. E, na verdade e neste caso, o “ditador” é, de facto, um governo legítimo, nomeado pelo Cônsul que é o Presidente da República e aprovado pelo Senatus Consultum, o Conselho de Estado e o Parlamento, neste caso. E nem sequer dura seis meses, mas quinze dias (se não for renovado).
A VERDADEIRA RAZÃO
A razão desta excepcionalidade não é, de facto, política (graves perturbações da ordem pública por razões de ordem política). É sanitária e é clara: romper a cadeia de contágio, libertar as forças do SNS para combater os efeitos do vírus, dar assistência aos que já foram atingidos e inverter a tendência.
Bem sei. Mas, para alguns, não era preciso o enquadramento de emergência porque, dizem, o governo já tinha poderes para agir com eficácia. Talvez queiram, com este argumento, salvaguardar a emergência do risco de banalização e os direitos perante uma sua (perigosa?) captura governativa. Oh, digo eu, que me perdoem os sofistas do constitucionalismo, o que é preciso é impedir a banalização do contágio e garantir o irrenunciável direito à vida. Tenho mais medo do algoz viral do que do Marcelo Rebelo de Sousa ou do António Costa.
O QUE DIZ A NATUREZA?
Mas que a situação é estranha, é. Viremos, então, o bico ao prego.
A velocidade impressionante com que a natureza falou (se for a natureza) sugere-me uma narrativa muito simples. Diz ela, a natureza: ”haveis de parar à força para que eu possa respirar melhor. Vós, para mim, sois um (coroa) vírus porque estais a impedir-me de respirar, a provocar-me uma grave pneumonia. Fui contaminada por vocês, humanos, e se não reagir morro… Eu bem ouvi o representante máximo das vossas nações, António Guterres, avisar que deveriam arrepiar caminho. Não o fizeram e decidi agir pela força. E, já agora, digam ao Bolsonaro que pare com a destruição dos meus pulmões na Amazónia para não ter que reforçar a dose, especialmente no Brasil. Sei que há as favelas e que a punição seria infinitamente mais gravosa. Mas o homem ainda não percebeu que estou a falar e a agir a sério”.
Na verdade, esta parece uma decisão da Natureza sofrida e ditada realmente por um “estado de necessidade” que exige um “estado de excepção”. Questão de sobrevivência da “madre natura”. Por isso, primeiro, mandou-nos uma santa, Greta de seu nome (que logo desapareceu), a avisar, com ar muito, mas mesmo muito, zangado. Depois passou à acção e castigou-nos letalmente, pôs-nos inactivos, paralisou-nos e reduziu a nossa sociabilidade ao mínimo.
Mas quando respirar melhor, a mãe natureza irá deixar-nos livres de novo? Daqui a quando? E nós teremos aprendido a lição? Ou há uma mão humana invisível em tudo isto e um sério risco de ter perdido o controlo do processo, pondo-se (a mão invisível) a si própria em causa, como se pode concluir pela contaminação real de tantos poderosos deste mundo?
A GLOBALIZAÇÃO, A CRISE E A REDE
A globalização é uma importante variável em tudo isto. Ninguém pára. O low cost pôs o mundo em frenesim giratório, cada um transportando-se a si e à sua circunstância. E aumentando de forma insuportável a poluição. Ninguém parava, queria dizer…
Agora emerge também a rede com toda a sua força para reactivar o mundo de outro modo e sem vírus que afecte o corpo (que é um modo de dizer porque ele também existe na rede). Até parece que é a única forma de sociabilidade segura que nos resta! E, de facto, a rede é cada vez mais a sociedade replicada (com vírus e tudo). E terapia contra a solidão, criando comunidades e processos digitais que já produzem realidade… Aqui está a melhor resposta ao Austin do “How to do things with words”. Ou o poder performativo da rede, a força performativa do signo. Transformar as palavras e os signos em actos. E gerar comunidades e sociabilidade digital.
Depois disto, quem continuará a bradar contra o “povo da rede”? É que a escola, neste momento, já só existe na rede. Todos damos e temos aulas através das plataformas digitais. E todos, e cada um, em casa. Se assim continuar iremos ter uma profunda revolução… e não só na educação. O trabalho à distância vai crescer exponencialmente até porque se vai concluir que, afinal, é possível programá-lo com eficácia, de forma generalizada, poupando imensos recursos…
Este pode ser o salto para a mudança definitiva de paradigma.
E DEPOIS DA PANDEMIA?
Quando acabar esta guerra tenho a certeza que vai acontecer o que aconteceu depois da segunda guerra mundial, todos para a rua, a respirar liberdade, a dançar, a cantar, a beber, aparecerão os neo-existencialistas a dizer “primum vivere deinde philosophare” e que “a existência precede a essência”, mesmo quando um novo Plano Marshall – se a União Europeia tiver a coragem e a sabedoria de o fazer – já estiver a ser instalado para reconstruir as cidades destruídas por dentro dos seus alicerces económicos e financeiros e novas oportunidades começarem a ser exploradas…
Tudo isto, sim, mas lá que vamos pagar um elevadíssimo preço, lá isso vamos. Preparem-se.
NOTA
Os textos de Giorgio Agamben e a crítica de Paolo Flores d’Arcais.
- (https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-contagio;
- http://temi.repubblica.it/micromega-online/filosofia-e-virus-le-farneticazioni-di-giorgio-agamben/;
- http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596584-o-estado-de-excecao-provocado-por-uma-emergencia-imotivada?fbclid=IwAR3KrGdgIp5fQxaeJNVq4463hGQygrtW0-R23-pRACI2mux5AfgOhOzbvYM).

O Trono. Detalhe.
A ÚLTIMA OPORTUNIDADE DE
PEDRO SÁNCHEZ
João de Almeida Santos

Espanha está a transformar-se num interessante laboratório político, quase destronando a politicamente imaginativa e algo caótica Itália. Quase, porque a realidade italiana ainda continua a superar a imaginação de qualquer realista virtuoso que se dedique à análise política. Bastará concentrar-se no percurso do Movimento5Stelle ou na autoflagelação do Partito Democratico. O que não surpreende se até o tradicionalista e previsível Reino Unido nos tem levado a uma inamaginável surpresa perante as infindáveis peripécias do Brexit, de Cameron a May, ao exuberante Boris Johnson.
Um casamento forçado
Aqui ao lado, estamos a conhecer um delicado processo de reivindicação de autodeterminação por parte de consistentes sectores da Catalunha. E assistimos ao espectáculo de quatro eleições legislativas em quatro anos. E ao surpreendente boom da extrema direita espanhola protagonizada pelo recente partido de Santiago Abascal. E, agora, provavelmente, à concretização de um governo do PSOE e do PODEMOS, quando há dois meses fora recusado liminarmente por um Sánchez politicamente muito mais robusto (tal como Pablo Iglesias) do que é hoje. De facto, não se vê outra solução que não seja a de um entendimento entre o PSOE e Podemos, com um governo protagonizado por Sánchez. Mas talvez isso ajude a um confronto mais sério e realista com o problema catalão e ajude a resolvê-lo. De qualquer modo, Sánchez carregará sempre o fardo de ter provocado eleições desnecessárias.
Ilações
Eu creio que é possível retirar destas eleições algumas ilações:
- Sánchez cometeu o erro de não ter formado um governo com o PODEMOS, acabando por provocar quatro eleições desde 2015 e por ser penalizado pelos eleitores em cerca de 700.000 votos e três deputados, arrastando com ele o partido de Iglesias, que perdeu mais de 600 mil votos e sete deputados. Agora, mais fragilizado, vai ter de fazer aquilo que, politicamente mais robusto, não quis fazer. PSOE e PODEMOS governarão com menos votos e menos mandatos do que tinham antes. Mais vale tarde que nunca e, pelos visto, já há pré-acordo.
- Os independentistas catalães já não tinham conseguido a maioria de mandatos nas eleições de Abril (tinham 22 mandatos, para um total de 48, e 1.626.001 votos para um total de 4.198.965 votantes, atingindo apenas 38,7% dos votos), tendo agora conseguido mais 16.063 votos e mais um mandato, perfazendo, assim, 23 mandatos, ou seja, dois mandatos abaixo do número necessário para ter maioria (que, na Catalunha, é de 25 mandatos).
- Parece ser consensual que o VOX teve esta subida estrondosa (quase mais um milhão de votos e mais 28 deputados), tornando-se, em pouco tempo, a terceira força política de Espanha, devido à reacção dos espanhóis às pretensões de secessão dos autonomistas catalães, ou seja, transformando-se esta pretensão em factor de radicalização política à direita. Deste ponto de vista, o nacionalismo catalão é perfeitamente simétrico ao nacionalismo do VOX. O radicalismo de um alimenta-se do radicalismo do outro.
O secessionismo é minoritário
Mas, mais relevante do que isso, é a confirmação de que o secessionismo catalão não é, pela segunda vez consecutiva em 2019, maioritário na Catalunha, sendo, por isso, necessário questionar a legitimidade (mais profunda que a legalidade) das suas pretensões, tanto mais que a doutrina comum das constituições democráticas, como, por exemplo, as de Portugal, França, Itália, Alemanha, USA, exige que alterações constitucionais substanciais ou sejam proibidas (como, por exemplo, a unidade territorial, na constituição francesa, ou a forma republicana de governo, na constituição italiana) ou, então, decorram de maiorias qualificadas. Ora, se nem maioria simples têm em eleições legislativas, com uma taxa de participação assinalável, cerca de 72%, que suporte ou legitimidade tem essa reivindicação e que efeitos tem a não ser promover o crescimento de um perigoso nacionalismo pouco amigo da democracia e das próprias autonomias? Não deixa, todavia, de ser curioso que a exacerbação da questão catalã tenha sido provocada precisamente por aqueles que são mais rígidos em relação às autonomias, ou seja, o PP, responsável por ter mandado para o Tribunal Constitucional o estatuto que Zapatero tinha negociado, em 2006, com sucesso com os catalães. Ou seja, o PP recebeu como boomerang agravado o problema que julgava, com Rajoy, ter erradicado através do Tribunal Constitucional, em 2010. Levanta-se, agora, para o resolver de novo, exacerbando-o outra vez? Não, quem agora aparece é o VOX.
É necessário levar a sério a questão catalã
De qualquer modo, ainda que minoritário na sociedade catalã, com cerca de 7,5 milhões de habitantes, e no corpo eleitoral (em Abril os independentistas tiveram menos 800 mil votantes do que a tendência não independentista e em Novembro a diferença foi de cerca de 441 mil), não há dúvida de que o problema político existe e de que é preciso solucioná-lo, não através de tribunais, mas sim politicamente. E não vejo outra solução séria e que atenda às duas sensibilidades que não seja a de iniciar um caminho que possa conduzir a uma revisão global das autonomias ou mesmo à criação de um Estado federal, de resto não único na Europa, sendo certo que o problema da identidade das regiões ou das nacionalidades é perfeitamente compaginável com uma constituição comum avançada no plano federal, exigente tão-só daquilo a que Habermas chama “Verfassungspatriotismus”, patriotismo constitucional. Esta compatibilidade está muito bem exposta pelo filósofo alemão num escrito dos anos ’90 intitulado “Cidadania e Identidade Nacional”, quando tenta fundamentar a ideia de uma cidadania europeia (Veja-se a este respeito: HABERMAS, Jurgen (1992). “Cittadinanza e Identità Nazionale”. In MicroMega 5/91, 121-146). Ou seja, a questão da identidade nacional pode ser resolvida num quadro constitucional comum e num “patriotismo constitucional”. Uma coisa é a identidade nacional, outra é a cidadania e a moldura constitucional. Esta lógica está inscrita no desenho de uma democracia europeia a que os independentistas afirmam desejar pertencer. A moldura constitucional europeia não anularia a identidade nacional nem regional.
Um problema mais vasto
Mas também é verdade que a política em Espanha também está a espelhar aquela que começa a ser uma tendência dominante nas democracias ocidentais, ou seja, a fragmentação dos sistemas partidários com o fim da bipolarização centro-esquerda/centro-direita entre os partidos do sistema, o que torna o funcionamento dos sistemas políticos muito mais complexo, exigindo cada vez mais o regresso da política, das ideologias e das bússolas cognitivas que possam orientar os cidadãos nas escolhas eleitorais e na participação política num panorama fortemente fragmentado. Ou seja, o problema está em Espanha, mas ele é mais profundo que o problema espanhol, porque toca no essencial a fractura que se tem vindo a estabelecer e a aprofundar entre o establishment político tradicional (por mais que use a “langue de bois do politicamente correcto e da performatividade tecnológica) e a mudança estrutural na natureza da cidadania, decorrente da revolução tecnológica e da globalização.
MANIFIESTO POR LA UNIDAD DE ESPAÑA

Imagem de “El País”, com intervenção minha.
Por JOÃO DE ALMEIDA SANTOS
"Estamos más cerca de perder el autogobierno [en Cataluña] que de una hipotética independencia. Aquí solo hay una salida seria, que es la federalización" Felipe González, em "El País", 03.04.2019
Y esto requiere procedimientos excepcionales, por lo menos, los que son comúnmente usados para hacer reformas constitucionales, o sea, mayorías cualificadas. Pero, esta reivindicación sucede en un país que pertenece a una comunidad política más amplia, o sea, la Unión Europea que mira a una integración política más allá de los Estados nacionales y que tenga capacidad de constituirse como un fuerte protagonista mundial con una clara identidad política. O sea, España pertenece a un espacio político que mira a superar la lógica de Westfalia a través de la construcción de una democracia supranacional, la primera de siempre, para responder a los retos que la globalización pone a todos los que ambicionan afirmarse como protagonistas mundiales. A estos retos no es posible responder con el nacionalismo, pero es posible encontrar formas de organización del Estado compatibles, por ejemplo, con una forma política (de tipo federal) que corresponda a las expectativas de los catalanes y otros, manteniendo, sin embargo, la unidad territorial de España, o sea el principio que acompaña siempre, en la política democrática, el principio del derecho a la autodeterminación.
Con este ensayo intento clarificar las premisas que tienen que ser observadas por los protagonistas políticos españoles si quieren no sólo garantizar paz y estabilidad para España, sino un futuro para la Unión Europea.
A QUESTÃO CATALÃ constitui um dos mais graves problemas que se põem não só à Espanha democrática, mas também à União Europeia. Não se trata de terrorismo ou de insurgência armada, mas sim da reivindicação política e pacífica de independência de um território de Espanha, no seio de uma União Europeia que tem vindo a caminhar progressivamente para um espaço político supranacional, com moeda única e sem fronteiras, dotado de um Parlamento Europeu e de órgãos próprios de governação, de uma carta dos direitos fundamentais e de poder judicial, constituindo porventura a experiência política mais avançada que o mundo conheceu até hoje. Pois bem, neste espaço político, e em contratendência, tem vindo a manifestar-se na Catalunha uma espécie de regresso, não ao futuro, mas aos primórdios de Vestefália, num quadro político-jurídico cheio de equívocos. É esta questão que analiso neste ensaio.
Autodeterminação e liberdade
Começo por uma longa citação de um artigo do escritor espanhol Javier Marías (“Las palabras ofendidas”), porque me parece um correcto retrato da questão catalã, que tanto está a preocupar a Espanha e a União Europeia:
“Un país con un autogobierno mayor que el de ningún equivalente europeo o americano (mayor que el de los länder alemanes o los estados de los Estados Unidos), que lleva votando libremente en diferentes elecciones desde hace casi cuatro décadas, a cuya lengua se protege y no se pone la menor cortapisa; que es o era uno de los más prósperos del continente, en el que hay y ha habido plena libertad de expresión y de defensa de cualesquiera ideas, en el que se vive o vivía en paz y con comodidad; elogiado y admirado con justicia por el resto del planeta, con ciudades y pueblos extraordinarios y una tradición cultural deslumbrante…; bueno, sus gobernantes y sus fanáticos llevan un lustro vociferando quejosamente “Visca Catalunya lliure!” y desplegando pancartas con el lema “Freedom for Catalonia”. Sostienen que viven “oprimidos”, “ocupados” y “humillados”, y apelan sin cesar a la “democracia” mientras se la saltan a la torera y desean acabar con ella en su “república” sin disidentes, con jueces nombrados y controlados por los políticos, con la libertad de prensa mermada si es que no suprimida, con el señalamiento y la delación de los “desafectos” y los “tibios” (son los términos que en su día utilizó el franquismo en sus siempre insaciables depuraciones). Se permiten llamar “fascistas” a Joan Manuel Serrat y a Isabel Coixet y a más de media Cataluña, o “traidor” y “renegado” a Juan Marsé. Ninguno debería amargarse ni sentirse abatido por ello: es como si los llamaran “fascistas” las huestes de Mussolini. Imaginen el valor de ese insulto en los labios que hoy lo pronuncian”[[1]]url:#_ftn1 .
A Catalunha é, de facto, uma região livre, dotada de autogoverno, no interior de um importante país democrático! Mas, pelos vistos, isto não basta a uma parte importante de catalães, talvez dois milhões, que assumem como sua legítima aspiração maior autonomia como se a região fosse uma colónia esmagada nos seus direitos por um país opressor! Sendo legítima a aspiração, os pressupostos em que ela assenta não são verdadeiros nem legítimos, por uma razão: a Espanha é uma democracia representativa e funciona com as regras de um Estado de direito democrático, com instituições políticas representativas fundadas no sufrágio universal!
Mas, acrescenta Marías, no depoimento sofrido de quem viu seu pai, o filósofo Julián Marías, preso político e proibido de ensinar na Universidade, no tempo de Francisco Franco: dizer o que dizem ofende os que verdadeiramente nunca votaram, os que vivem ou viveram sob ditadura, os que lutaram e sofreram pela liberdade, os que não têm casa nem pão, os que não podem cuidar do seus filhos nem educá-los. Compreendo a posição de Marías e estou de acordo com ele. Na verdade, esta chamada luta pela liberdade contra a opressão parece ter mais o sabor de uma farsa, de um nacionalismo retrógrado e de um erro histórico, contrários à tendência evolutiva da história, do que de uma genuína visão política de futuro. Compreendo, pois, as palavras de Marías porque conheço, por experiência pessoal, a diferença entre viver em ditadura e viver em democracia, mesmo com todos os seus problemas, insuficiências e erros.
Encapsular o futuro no passado!
Lêem-se por aí muitas fundamentações históricas do direito à autodeterminação, na perspectiva de um Estado-Nação, da Catalunha. Há razões históricas, sem dúvida. Como há para a Galiza ou para o País Basco. Ou para a Bretanha. Para o Veneto, o Alto Adige ou a Lombardia. Ou para a Comunidade flamenga, na Bélgica. Ou para o Schleswig Holstein, na Alemanha. E por aí adiante. Mas essas razões não resistem a uma análise política e histórica dos tempos que estamos a viver na Europa e no mundo. Porque a história não se constrói às arrecuas e em grande velocidade em direcção ao passado ou como mero memorial político levantado aos antepassados e assumido como a alavanca de um futuro que, no essencial, já não está inscrito nas razões antigas pela simples razão de que a força e a velocidade desse futuro tem vindo a acelerar as exigências urgentes do presente. O que temos, na verdade, diante de nós é, afinal, uma política “victimista y retrorromántica”, como alguém lhe chamou. E é por isso que os memoriais não servem para construir o futuro, mas sim para lhe transmitir identidade simbólica e promover um sentimento de pertença e coesão. Permanecendo no domínio do simbólico. Mas, às vezes, os memoriais, em vez de promoverem a identidade, acabam por criar divisão e separação. E, na verdade, nestes movimentos memorialistas, mais do que a afirmação de uma identidade, o que tende sempre a irromper é algo profundamente nostálgico, sentimentos radicais de diferença em relação ao outro, mesmo quando os ventos da história sopram em direcção ao futuro e correm atrás de mais igualdade, mais convergência e mais integração. Ora a identidade também se pode reconstruir a partir do futuro, quando o projecto for visionário e consistente. Certamente, pois não se constrói futuro encapsulando-o no passado, a pretexto da recuperação de uma qualquer identidade perdida nos confins do tempo e com valor puramente simbólico.
Também se lêem hinos ao direito à autodeterminação dos povos. Quem contesta? A ONU tem doutrina fixada sobre a matéria. Autodeterminação justifica-se sobretudo quando há opressão externa. Não aplicável, por isso, a este caso. E também é verdade que a autodeterminação tem várias formas e gradações – sem que assuma necessariamente a forma de secessão – que podem ir até ao Estado federal. A Espanha é, como diz Marías, uma democracia com políticas de autonomia muito avançadas, sendo naturalmente neste registo que o problema das identidades étnicas, linguísticas e culturais deve ser politicamente resolvido. Um quadro constitucional como o espanhol – ou redesenhado constitucionalmente por acordo entre as forças políticas – pode muito bem funcionar como “chapéu” institucional que acolha no seu seio identidades muito diferenciadas e em interacção. A democracia é amiga da diferença, precisamente porque a respeita.
Mas vêem-se também os mesmos de sempre a falar da opressão capitalista do Estado espanhol ou da Monarquia sobre a República da Catalunha. O mote aqui é o da opressão capitalista de uma região que, dizem alguns, subsidia um país inteiro. Acontece que a Catalunha é livre, vive em economia de mercado e é governada por instituições democráticas livremente eleitas que, no seu ideário, têm inscritas as palavras solidariedade e coesão. E sobretudo vive na era da globalização, onde é mais necessário e útil juntar forças do que dividi-las.
Na verdade, a questão de fundo centra-se na relação entre a Catalunha, a Espanha e a União. E, neste quadro, não é possível deixar de referir o efectivo estatuto de autonomia de que goza ou até de um futuro estatuto federal que possa vir a ser negociado e inscrito na Constituição de Espanha. O que aconteceria se todas as autonomias reivindicassem o mesmo? E se, depois, o fenómeno se expandisse com mini-Estados a pulular por essa Europa fora? O mapa já circula por aí e não é bonita de se ver esta gigantesca fragmentação. Se a União a 27 já é complexa o que seria com, por exemplo, 40 Estados? É sensato que, num espaço como este, construído com esforço, imaginação e ambição sobre a ideia de paz, continuemos a assistir ao lamentável espectáculo de uns a unir e outros a dividir? Em plena globalização? De uns a integrar e outros a desintegrar? Como se a fragmentação fosse a boa resposta a uma globalização que ameaça constantemente com uma dominadora lógica globalitária, com potentados económicos ancorados em dumping de concorrência feroz e imparável! Como se a ordem de Vestefália ainda fosse a ordem do futuro e como se a lógica do Estado-Nação fizesse, para os catalães, tábua-rasa da experiência de uma democracia supranacional em lenta construção na Europa da União!
Regresso a Vestefália?
Cito Javier de Lucas, professor de Filosofia do Direito e Filosofia Política na Universidade de Valência, num longo e interessante estudo sobre a questão catalã:
“Lo más importante, a mi juicio, es que en uno y otro caso se comete la torpeza de utilizar una noción de soberanía que, como ya he calificado parafaseando a Beck, sería una categoría zombie, pues, como ya he recordado, responde al modelo creado por Bodin y Hobbes, absolutamente improcedente en el contexto del mundo globalizado y aún más en el marco de la UE. La soberanía ya no es una propiedad o atributo exclusivo ni absoluto del Estado nacional, ni en el orden político, ni en el económico, ni en el cultural. Y pretender por tanto resolverla en los términos del viejo orden de Westfalia, defendiendo o (re)inventando Estados nacionales según ese modelo resulta no sólo inadecuado sino incluso contrafáctico en el primer tercio del siglo XXI”[[2]]url:#_ftn2 .
Sim, aqui reside um ponto decisivo deste processo. Promover radicalmente o nacionalismo no interior de um espaço político que vem evoluindo em sentido contrário (mas ao qual declaram querer pertencer) e, ainda por cima, no interior de um espaço político (a Monarquia Parlamentar espanhola) que contempla uma profunda autonomia política, institucional, cultural, linguística e económica chega a ser profundamente paradoxal, ao mesmo tempo que retrógrado e até irresponsável, porque desestabiliza, divide (interna e externamente) e exclui, provocando um autêntico terramoto económico e financeiro na Catalunha e em Espanha (são inúmeras as empresas que já deslocaram a sua sede da Catalunha).
E acontece que na União a que querem pertencer, afinal, já existe uma moeda única e não há fronteiras. Ou seja, querem ir para um mundo sem fronteiras construindo muros. Além disso, muitas das competências já transitaram para a União. De facto, trata-se de uma Europa que, abrindo o espaço político em que se inscrevem os Estados nacionais, procura evoluir para uma cidadania europeia, constituindo-se como um espaço mundialmente influente, mas que em nada se sobrepõe às identidades nacionais. Bem pelo contrário, este desenho até pode favorecer as identidades nacionais e regionais, dando-lhes uma expressividade política, que antes não tinham, à escala mundial.
O independentismo é, assim, um movimento que vai às arrecuas e que contraria o projecto europeu.
“Verfassungspatriotismus”, patriotismo constitucional é algo que pode ser adoptado à escala europeia e precisamente como garante das identidades nacionais e regionais. Este conceito abre a cidadania a uma escala supranacional, ancorando-a nas grandes cartas de princípios que a humanidade acolheu como universais, mas por isso mesmo ele integra melhor no seu seio, legitimando-as e reforçando a sua dimensão cívica, as identidades regionais, étnicas, religiosas ou nacionais. Para tanto, basta que se verifique um efectivo “patriotismo constitucional”, adesão e respeito pelas normas e valores constitucionais[[3]]url:#_ftn3 , quando, à escala da União, se puder falar finalmente de uma Constituição. Trata-se de um mundo que se abre ao futuro sem rejeitar o passado, enquanto estes movimentos nacionalistas querem abrir-se ao passado, fechando-se a um futuro que parece desconhecerem, mas que já está inscrito no processo de integração europeia.
Além disso, a Espanha, sendo um País que precisa de uma unidade política reforçada, e não diminuída, possui uma identidade muito precisa, pela língua, pela cultura, pela música, pela comida… por uma muito consistente e poderosa “hispanidad” (Miguel de Unamuno) que, mais do que fragmentar, tende a unir sob o tecto da língua e de afinidades culturais mundialmente reconhecidas e respeitadas!
Não faz sentido, pois, hoje este nacionalismo que cria mais problemas do que os que resolve, divide e separa o que estava unido e vai em sentido contrário ao movimento da história e a uma lógica de integração política europeia. Mais: agita demónios que não conviria acordar. Deve-se lembrar que a CECA, no início dos anos ’50 do Século passado, foi criada para unir antigos beligerantes, tomando como ponto de partida precisamente a programação conjunta da gestão económica dos materiais usados na guerra, o carvão e o aço. Guerra que resultou da fragmentação da Europa e não da união dos seus povos.
A Catalunha, a Espanha e a União
Dir-me-ão os mais radicais: mas se os catalães quiserem a independência têm toda a legitimidade para fazer um referendo e aprovar uma constituição para um novo Estado-Nação! Uma tal vontade deverá ter em conta o contexto em que a querem afirmar. Em primeiro lugar, a Espanha e, depois, a União Europeia. Em Espanha, a Catalunha dispõe de órgãos de governo próprios legitimados pela Constituição de 1978, numa autonomia profunda e susceptível de ser ainda alargada – desde que no quadro constitucional, como disse – até ao nível federal. Mas a verdade é que o contexto também é uma variável e conta tanto como a tradição reivindicada de autonomia. O contexto é territorial, cultural, linguístico, económico e político. E internacional. A Catalunha não vive num vácuo onde possa afirmar a sua vontade de forma absoluta. Vive, desde logo, num espaço geográfico concreto onde se fala espanhol, numa economia interligada (veja-se o vai-e-vem das empresas), num pano de fundo cultural que é hispânico, num espaço político que é espanhol e europeu e num mundo global que funciona por blocos (veja-se o caso das negociações do Reino Unido com a União sobre o mercado único, um potente bloco económico). Os catalães têm de metabolizar o fluxo da história e esse não parece ser muito de feição para retrógradas aventuras nacionalistas no interior de um espaço que precisa mais de integração do que de desintegração ou fragmentação. E eu creio que a questão é tão simples que até o bom senso a resolveria se não houvesse irracionalismo a determinar este processo. Aliás, começo a ver com preocupação o que poderá vir a acontecer em Itália, um país com um Estado unitário recente, dos anos ’60 do século XIX, e onde já começam a surgir movimentos autonomistas que poderão, amanhã, vir a ter pretensões que vão muito para além da reivindicação do estatuto de regiões especiais ou “a statuto speciale”, como a Lombardia ou o Veneto, por exemplo. Veremos o que ainda acontecerá ao Reino Unido com a saída da União Europeia. E com a Escócia. E trata-se de um Estado soberano e poderoso. Decisão verberada pela maioria dos europeus, considerada má para o Reino Unido e má para a União. E, porventura, agora já também pela maioria dos ingleses. De resto, a saída do Reino Unido está a revelar-se altamente complexa e de difícil resolução, a crer nas notícias dos últimos dias, com a Senhora May a levantar a voz à União, a propósito da saída. Tivesse o Labour uma liderança alinhada com a União e maior força política e certamente a possibilidade de um segundo referendo já estaria a ser equacionada.
A União Europeia e o mundo
Estou a falar de uma realidade substantiva e não de uma mera construção intelectual. O “adquirido” pela União é gigantesco, apesar das actuais dificuldades. Vejamos[[4]]url:#_ftn4 . A Europa foi beijada pela paz, sua ideia inspiradora. Para que conste: dezenas de milhões de mortos nas duas guerras mundiais! É a maior potência comercial e o maior mercado único do mundo. Com poucos anos de vida, o euro tornou-se a segunda moeda mundial, 30% contra 43% do dólar USA, impedindo que os USA continuassem a determinar, sozinhos, directamente, através da moeda, a economia mundial. Compreende-se, por isso, o ataque cerrado contra o euro por parte dos velhos poderes financeiros internacionais, com a preciosa ajuda das três agências de rating (Fitch, Moody’s e Standard&Poor’s). É o segundo PIB mundial, com 22% (contra 24% dos USA). Dois terços dos europeus querem estabilidade na União, 80% defendem as quatro liberdades (livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços) e 70% defendem o euro. Depois, 1,7 milhão de pessoas da União desloca-se para outro Estado-membro por razões de trabalho ou de estudo. Sendo demograficamente preocupante (em 2015 a União exibia 6% da população mundial, quando, em 1960, exibia 11% e, em 1900, 25%), é, ao mesmo tempo, um bom indicador da evolução civilizacional da União ter uma idade média de 45 anos (projecção para 2030), possuindo um dos mais avançados Estados Sociais do mundo. É um espaço de 500 milhões de pessoas em 400 milhões de quilómetros quadrados. Líder (com 40%) nas tecnologias das energias renováveis e nas “cidades inteligentes, a União possui um alto índice de desenvolvimento tecnológico e informacional.
Ou seja, a União tem todas as condições para se tornar um espaço de influência mundial muito relevante e para influir, enquanto tal, decisivamente no processo de globalização, dando voz mundial aos seus Estados-Membros, desde que consiga firmar uma robusta e eficiente organização institucional.
É deste espaço que a Catalunha quer sair? É esta força que quer contrariar com a sua involução nacionalista? É a fragmentação da Europa que quer promover, consciente ou inconscientemente? Na verdade, do que se trata verdadeiramente é de nacionalismo – de esquerda e de direita – de fechamento, num mundo que, com a globalização, se está a tornar cada vez mais aberto, interdependente e competitivo, com grandes blocos económico-financeiros em acção e em condições de imporem lógicas que os países singulares, mesmo os maiores, já não estão em condições de travar. É isto que querem? Podem dizer que não, mas é isto mesmo que, na realidade, estão a promover.
É claro que há muitos que alinham nesta aventura, à esquerda e à direita, sobretudo os nacionalistas e os que nunca viram com bons olhos o processo de integração europeia. Não me revejo neles, até porque não penso assim e, tendo vivido muitos anos em três países europeus (Alemanha, Bélgica e Itália), sei muito bem o que pude retirar desta extraordinária experiência. E, por isso, por mais esforço que faça para entender os independentistas catalães, não consigo. Duma coisa estou certo: não os entendo, mesmo sendo um militante da causa da liberdade, da democracia e da autodeterminação dos povos. E sublinho o que disse Javier Marías (e, já agora, em homenagem a seu pai): a conversa sobre liberdade destes autonomistas sabe-me, também a mim, a ofensa aos que, de facto, nunca souberam o que é a liberdade e a democracia porque sofreram ou sofrem permanente repressão no corpo e na alma, perpetrada por miseráveis regimes ditatoriais.
Mas a verdade é que temos um problema muito sério em Espanha, visto que a Constituição espanhola, no seu artigo 2, proíbe a secessão:
“A constituição fundamenta-se na indissolúvel unidade da Nação espanhola, pátria comum e indivisível de todos os espanhóis”.
Felipe González disse que esta é a mais grave crise que Espanha vive desde há 40 anos. O processo de injunção das forças de segurança para travar a realização do referendo e levantar minuciosos autos acabou por acontecer e por criar mais ruído num problema que já é muito sério. A independência foi reivindicada por uma parte importante dos catalães e das suas instituições. Mas a verdade é que o referendo foi ilegal, ilegítimo, trapalhão e inconcludente!
Todavia, este processo lembra o que aconteceu com a Escócia em 2014, tendo a maioria dos escoceses (cerca de 55%) rejeitado a independência, num referendo. Mas houve referendo, fruto de negociações entre Londres e Edimburgo. E não há razões para pensar que Londres seja menos centralista do que Madrid e de que a Escócia não tenha raízes históricas que possam fundamentar uma independência. Fez, pois, bem Londres em negociar, pois, assim, pôde, no terreno da democracia, derrotar o independentismo. A actual Primeira-Ministra Nicola Sturgeon deve ter tomado em boa consideração o que aconteceu no referendo sobre a independência, por ocasião de um Brexit que o Mayor de Londres, Sadiq Khan, segundo o “Independent”, admitiu poder vir a ser submetido a novo referendo (“Sadiq Khan suggests Labour may back second referendum on Brexit”). Processos desta dimensão devem sempre ser metabolizados com tempo pela cidadania! E o tempo é uma das variáveis fundamentais dos procesos democráticos…
Na verdade, há muito que se sabia desta tendência na Catalunha e, por isso, poderiam ter sido desenvolvidas consistentes negociações sobre o assunto, com vista a evitar o pior. Lembro-me que um dos principais entraves a um acordo de Pedro Sánchez e do PSOE com PODEMOS foi precisamente a posição deste a favor de um referendo. Teria Pablo Iglesias razão? Talvez não, uma vez que não se notou verdadeiramente vontade de promover a negociação que seria necessário desenvolver.
Mariano Rajoy, entretanto, agiu como se tratasse de uma simples infracção legal, de uma ilegalidade, ainda que tocasse o nervo central da Constituição espanhola. Ouvi-o dizer com firmeza e dentes cerrados: “España es muy fuerte!”. E o tom e as palavras não me deixaram quaisquer dúvidas sobre a linha de firmeza que iria seguir. Talvez estivesse a pensar nos mortos que o independentismo basco provocou ao longo de décadas até sair finalmente da agenda política. Certo, mas este é um processo de novo tipo e com uma consistência política mais robusta e ainda mais perigosa para a unidade de Espanha. Dir-se-ia, em linguagem popular, “se a moda pega…”, o que se seguirá? Por exemplo, na Galiza ou no País Basco!
No dia 26.09.17, numa conferência, Felipe González, referindo-se a este processo, disse que não se importaria de alterar quer o Estatuto quer a Constituição, mas disse também que não respeitar a lei não é democrático e que o conflito entre duas legalidades pode fazer ressuscitar o fantasma das duas Espanhas, de franquista memória. O seu apelo a que parassem para pensar – sendo que, depois, “parlarem” – foi de enorme sensatez e teria sido bom que fosse ouvido. Ou que venha a ser ouvido, depois das eleições de 21 de Dezembro de 2017!
A força nunca foi boa solução política para nada e o processo foi seguramente mal conduzido pelo Partido Popular. E não só agora, porque antes já o tinha sido. Sabemos que estes processos secessionistas tradicionalmente acabaram sempre em conflito armado interno. E Espanha já conheceu graves conflitos internos, de forma bem dramática. Os tempos são outros, sem dúvida, mas o perigo de irrupção política de uma Espanha mais intolerante é real. Não vejo como é que o problema se possa resolver sem uma solução política. Mas ficará cada vez mais difícil se as posições se cristalizarem, gerando provavelmente, na Catalunha, um sentimento de união mais forte e alargado do que o que antes existia, desencadeando a lógica do cerrar fileiras perante o inimigo “externo”! Se a razão estiver do lado de Madrid, então a abertura, a tolerância e a flexibilidade deverão ter aqui o seu maior aliado. E a definição da estratégia não poderá ficar nas mãos de um partido, o PP, que já deixou há muito de a poder gizar, tantos foram os erros acumulados. Erros que acabaram por levar Rajoy e o PP a ter de deixar o comando do governo a Pedro Sánchez e ao PSOE.
O problema catalão e a imprensa internacional
Fiz uma pequena viagem pelas primeiras páginas (em suporte digital) de alguns dos mais importantes jornais mundiais, New York Times, Le Monde, Corriere della Sera, La Repubblica, Frankfurter Allgemeine, The Guardian, e, curiosamente, o caso catalão, a 5 dias do referendo, não ocupava a agenda destes jornais. E não deixa de ser estranho, vista a gravidade da situação e os perigos que Espanha enfrenta. Vi também o “Público” e o Diário de Notícias”. No primeiro, apenas um artigo do eurodeputado Paulo Rangel; no segundo, dois artigos e um de opinião. Mas na grande imprensa mundial não houve, de facto, artigos sobre o assunto. O que não deixa de ser estranho!
A questão é grave, de facto, e, quanto a mim, ela também traduz algum défice de mundividência hegemónica, no sentido ético-político e cultural, capaz de funcionar como colante da sociedade espanhola, promovendo a coesão política nacional ao mesmo tempo que acolha as robustas componentes identitárias das várias regiões ou nacionalidades espanholas, numa dialéctica reciprocamente enriquecedora. Na verdade, a questão da hegemonia, no sentido gramsciano, faz cada vez mais falta no pensamento político contemporáneo e na própria política democrática. Mas traduz também alguma insuficiência do modelo político-constitucional espanhol. Depois, num outro plano mais vasto, talvez também falte uma cultura que possa promover uma cidadania europeia robusta assente naquilo que Habermas designou por “patriotismo constitucional”, perfeitamente compatível com as várias identidades nacionais ou regionais.
Em tempos, há vinte e cinco anos, num ensaio intitulado “Memorial para uma Democracia Europeia”[[5]]url:#_ftn5 , inspirado na visão do então Presidente do SPD, Bjoern Engholm, abordei este assunto, enfatizando a ideia de que seria preciso compensar a perda de soberania dos Estados-Nação na Europa com o reforço político das grandes regiões europeias, tendo como base a ideia de que um Senado das Regiões poderia resolver muitos dos problemas autonomistas já então em curso. Escrevi então: “Isto para não falar da nossa vizinha Espanha onde, por exemplo, o potenciamento da geografia regional europeia em detrimento da geografia nacional poderia ser a via resolutiva das aspirações autonomistas, por exemplo, do País Basco ou da Catalunha”. Uma identidade política mais forte (no plano interno e no plano da União) e sedutora e, por isso mesmo, mais flexível (designadamente no plano constitucional), poderia atenuar as tendências centrífugas ou autonomistas. A ausência de um forte referente polarizador, à escala europeia, liberta tendências centrífugas que podem conduzir ao nacionalismo ou mesmo ao regionalismo. E este é, de algum modo, um dos grandes problemas da União.
O projecto europeu tem, pois, aqui também as suas responsabilidades. Mas, mesmo assim, num espaço político como o da União Europeia, sem fronteiras e com uma moeda única, as aspirações dos independentistas perdem densidade porque de algum modo representam um processo que evolui em sentido contrário ao da integração política europeia, uma vez que o nacionalismo não é amigo do processo de integração federal para o qual, no meu entendimento, terá necessariamente de evoluir a própria União. E mais densidade perderiam, ainda, se esta região de Espanha viesse a ter, no processo de integração, uma presença significativa nesse Senado europeu que hoje tantos já voltam a defender. De resto, os Senados existem para isto mesmo: integrar, representando ao mais alto nível político, identidades colectivas ou territoriais. A integração política ao mais alto nível das grandes regiões europeias ajudaria, no meu entendimento, a evitar estas tendências centrífugas, hoje mais animadas como reacção ao processo de globalização mundial.
“No me gusta hacer política amparándonos bajo las togas”!
Não quero pôr em causa a visão ideológica de Rajoy e do PP, talvez demasiadamente ancorada numa visão autoritária, nacionalista e tradicionalista da política, como também não o faço relativamente ao PSOE, que, todavia, foi incapaz de promover com sucesso uma solução política da questão, por se ter colado excessivamente à posição de Rajoy e do PP. Mas não deixa de ser curioso que, neste processo, talvez o PODEMOS tivesse alguma razão ao defender a proposta de um referendo, desde que naturalmente viesse a ser objecto de decisões políticas de compromisso e enquadradas constitucionalmente, entre Madrid e Barcelona, tal como aconteceu entre Londres e Edimburgo. De resto, é para isto mesmo que serve a política. Na verdade, não se trata de uma simples infracção à lei, de uma simples ilegalidade, porque é uma questão de natureza política e de grande dimensão, devendo ser como tal tratada. Subscrevo, por isso, e por inteiro, as palavras de Felipe González quando diz, referindo-se certamente à transferência do problema para o poder judicial, que “no me gusta hacer política amparándonos bajo las ‘togas’”, prática que começa a estar preocupantemente generalizada um pouco por todo o lado e que começa a funcionar como a arma branca da política que quer resolver problemas de forma oculta por não conseguir resolvê-los politicamente à luz do dia e de forma claramente assumida. Os assuntos políticos devem sempre ser tratados politicamente e o uso da força (ainda que sob a forma de lei) só agiganta os problemas.
O que preocupa é que o funcionamento da política em Espanha não tem vindo a dar provas de muita maturidade, se olharmos para o tempo em que, ainda recentemente, este fantástico País esteve quase um ano sem um governo em plenas funções e se reflectirmos sobre o que agora está a acontecer na Catalunha.
Autodeterminação
A questão da autodeterminação não é nova. Ou talvez seja, nos moldes em que está a ser posta. Mas é uma questão difícil e controversa. Quando se pôs, foi sobretudo na ordem colonial ou da opressão externa. Mas também houve (e há) movimentos que reivindicaram a autodeterminação na ordem interna. E quando foi reivindicada aconteceu quase sempre por via armada. O que é novo, pois, na recente questão catalã é a sua forma e o contexto: uma ordem constitucional democrática, votada consistentemente pelos cidadãos, integrada num contexto internacional que se aproxima de uma ordem democrática supranacional (a União Europeia); uma parte significativa da população de uma região autónoma que quer tornar-se Estado independente por via pacífica e democrática, mas em contraste com a ordem constitucional do País.
O conceito remete para a Carta das Nações Unidas (1945) e é aplicável às situações de autodeterminação em contexto de domínio colonial. Mais tarde, o conceito alargar-se-ia, juntamente com outro dispositivo normativo: o do respeito pela integridade territorial de Estados. E também sempre esteve associado aos conceitos de povo, de nação e de soberania. E sabemos que, neste caso, a posição a definir deverá estar enquadrada por valores de natureza democrática, reivindicados por ambos os lados.
A primeira grande questão refere-se ao Estado e à determinação do princípio de soberania, indissociável dos conceitos de povo e de nação. E está enquadrada por uma clara distinção entre autodeterminação interna e autodeterminação externa. E admitindo desde logo que, em princípio, a situação actual poderia ter sido evitada se se tivesse consolidado o reforço da autonomia da Catalunha, como decidido em 2006, após negociações conduzidas por Rodríguez Zapatero, ou então avançado para uma via de tipo federal – ambas soluções racionais no âmbito de uma lógica negocial sobre o normativo constitucional, que nunca poderia, neste caso, deixar de enquadrar a questão da autodeterminação. Não vejo, de resto, outra solução para o caso da Catalunha que não seja a de uma solução de tipo federal, que integra uma visão moderada de ambos os lados: (a) porque garante a unidade do Estado espanhol e (b) porque dota a Catalunha de um autogoverno com capacidade institucional e política para exprimir os desejos de afirmação da personalidade catalã em todas as frentes. E se a isto acrescentássemos a existência de um Senado europeu, representativo de realidades como esta, teríamos a resolução de um problema tão difícil quão perigoso. E uma boa solução do problema evitará que uma perigosa caixa de pandora se abra em Espanha e na União, com consequências desastrosas para todos.
Na questão da autodeterminação há sempre os dois lados da moeda. Fixemos a questão no interior de um enquadramento democrático, como é o caso de Espanha. De um lado, uma parte consistente de catalães, do outro, os restantes espanhóis. Partindo da afirmação absoluta de uma ética da convicção, bastaria aos independentistas afirmarem o seu desejo de se constituir como Estado independente, sem se preocuparem com o outro lado, com as suas consequências e com os procedimentos que definem o regular funcionamento de uma democracia. O princípio da autodeterminação concede-nos esse direito, diriam, faz-se um referendo e “ya está!” Partindo da ética da responsabilidade, que não é contraditória com a ética da convicção, pôr-se-ia sempre a questão das consequências, neste caso, a relação com todos os outros espanhóis e, em particular, a questão da integridade territorial do Estado espanhol. Ou seja, entram em cena os outros, as suas convicções, os seus interesses, a sua identidade como espanhóis que não impuseram à força os procedimentos constitucionais, antes os fundando num contrato social originário, a Constituição pós-franquismo. Ou seja, não se verifica uma situação de opressão externa ou interna, sendo a Espanha uma democracia. Não estando, pois, a autodeterminação equacionada nos termos de uma lógica de conflito ou de antagonismo, muito menos armado, deverá entrar obrigatoriamente em cena o princípio da composição de interesses, da negociação, com uma condição de base: nenhum dos negociadores pode partir para a negociação com uma posição do “tudo ou nada”. Acresce que a Constituição de 1978 foi aprovada por 87,78% dos votantes e por cerca de 59% do total dos eleitores. Na Catalunha, de resto, a constituição foi aprovada por cerca de 91% dos votantes. Uma maioria esmagadora! Mais concretamente: na Catalunha, a Constituição espanhola foi votada por quase três milhões de pessoas numa região com cerca de 5 milhões e meio de eleitores. A via da composição institucional de interesses torna-se, pois, obrigatória porque é a única politicamente legítima.
Na verdade, não tendo sido revogada a Constituição, não parece ser correcto agir politicamente à revelia das normas constitucionais. Porque estas normas ultrapassam o nível de um mero ordenamento jurídico. Trata-se da Lei Fundamental do Estado onde está plasmada a vontade política de um povo constituído por várias nacionalidades e identidades regionais. E, assim sendo, um desejo de secessão em ambiente democrático deverá ter um obrigatório enquadramento constitucional. De outro modo, quem a promove sai fora das regras democráticas, que é pior e mais perigoso do que cometer simples infracções legais. Não se tratando de uma questão meramente jurídica, ela eleva-se à dimensão constitucional e política, devendo ser tratada como tal.
Julgo saber que, de facto, fora aprovada pelas Cortes (e pelo PSOE) uma reforma mais profunda da autonomia da Catalunha[[6]]url:#_ftn6 que viria a ser inviabilizada pelo PP através do envio desta reforma para o Tribunal Constitucional, que a chumbou, em 2010. Ou seja, o PP lavou as mãos, como Pilatos, de um problema eminentemente político, remetendo-o para a esfera judicial, ainda que de um Tribunal Superior. E este acabaria por decidir juridicamente uma questão que era, e é, política e que poderia ser resolvida, designadamente, através de uma alteração da Constituição. Não foi esse o entendimento do PP e depois acabou por ser o mesmo PP que ficou com o complexo problema nas mãos, acabando também por envolver o próprio PSOE (e Ciudadanos).
A questão da soberania
Na verdade, a questão da soberania é central nesta discussão. Porquê? Porque ela está ligada à questão de saber onde reside: se no povo ou na nação. E, portanto, de quem pode declarar a autodeterminação, através de que mecanismos e com que regras. Se a soberania reside na nação, como parece ser o que acontece na generalidade das constituições de matriz liberal – e pese embora o n.º 2 do art. 1 da Constituição espanhola, que declara que a soberania reside no povo, de onde emanam os poderes do Estado, a sua matriz é liberal e representativa -, ela deve ser resolvida no interior dos órgãos de soberania, ou seja, através dos mecanismos previstos e dos órgãos constitucionalmente definidos. Pelo menos, em primeira leitura, sendo certo que os referendos são instrumentos de democracia directa injectados no sistema representativo e, portanto, mais próximos da ideia de que a soberania reside no povo (e não na Nação). Em qualquer caso, a constituição é o lugar onde todas as soluções para situações como esta devem ser encontradas. Até por uma razão: a alteração da Constituição exige maiorias qualificadas e até um processo de ratificação através de referendo, o que funciona como forte estabilizador político da sociedade. Nem matérias tão sensíveis como esta poderão alguma vez deixar de exigir consistentes maiorias reforçadas que garantam a necessária estabilidade do próprio sistema.
Uma questão política, não judicial
Claro que estamos perante uma questão política e, por isso, a reivindicação de independência por uma parte consistente de catalães não é susceptível de ser tratada como uma simples transgressão à lei, resolúvel através dos instrumentos previstos na lei penal. Claro que não! Mas também é verdade que se o movimento que aspira à independência se declarar democrático ele deve respeitar os procedimentos constitucionais previstos, não inventando procedimentos exteriores à constituição para obter os resultados desejados. Sobretudo quando a mesma constituição que define os procedimentos resultou da sua própria vontade, ao ratificá-la por uma maioria tão expressiva. Na verdade, o parlamento que declarou a independência é uma instituição prevista pelo mesmo texto constitucional que não autoriza o procedimento que este mesmo parlamento promoveu e validou, enquanto assembleia legislativa e deliberativa. Isto sem referir a enorme trapalhada que foi o referendo e sem sequer se pôr, para já, a questão da percentagem de votos (no parlamento e no referendo) exigível para deliberações tão sensíveis como esta.
A questão é, de facto, muito delicada, mas se a quisermos enquadrar no interior dos procedimentos democráticos, como parece ser o caso, e pela voz dos próprios independentistas, então a via terá de ser a da negociação, no interior dos órgãos previstos para tal e sob o impulso das forças políticas em presença. O princípio que aqui parece ser dominante é o da ética da responsabilidade, não só porque exige uma solução negociada e pacífica, mas também, et pour cause, porque evita perigosos confrontos num horizonte que se pode vir a insinuar como de indesejável violência. Entretanto, as eleições que ocorreram em Dezembro de 2017, no seguimento do accionamento do art. 155 e da destituição do governo regional, não vieram solucionar a questão, embora tenham determinado, como veremos agora, uma linha obrigatória de orientação.
Uma clarificação necessária
A questão da Catalunha é fonte inesgotável de ensinamentos e, por isso, deve merecer toda a atenção por parte de quem reflecte com seriedade sobre os processos políticos. E é uma questão delicada que afecta a Espanha, Portugal e toda a União Europeia. E é, de facto, muito complexa. Lembremo-nos da questão basca: enveredaram pela violência e foram derrotados. Contra a violência é simples tomar partido, porque não é justa nem humana. E porque sai do foro da política pura para entrar no domínio moral. Mas na Catalunha do que se trata é de uma questão eminentemente política, não tendo os independentistas enveredado pela violência. Pelo contrário, foi sobre Madrid que caiu a acusação, no dia do referendo. E declaram-se democratas e defensores da lei e da paz cívica. Por isso, qualquer pessoa sensata deve agarrar a questão com a lógica e os instrumentos da política democrática e do Estado de direito. E, acrescento eu, sem subsumir a política no puro exercício jurídico, sobretudo quando se está perante cerca de dois milhões de pessoas que de algum modo se identificam com os partidos que reivindicam a independência da Catalunha.
Vejamos agora a questão, tal como se põe hoje, nos seus traços essenciais, após as eleições de Dezembro de 2017.
A Constituição e a maioria qualificada
A Constituição de 1978 não prevê qualquer forma de secessão nem, naturalmente, qualquer instrumento que a regule. Bem pelo contrário, o art. 2.º do Título Preliminar determina, como já vimos, que: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Portanto, qualquer alteração neste sentido exigirá uma modificação da Constituição, sendo, todavia, em princípio, necessários três quintos dos votos nas duas Câmaras, nos termos do art. 167. Mas, neste caso, e porque está em questão precisamente esse art. 2, ou seja, a alteração da Constituição toca num aspecto essencial do ordenamento constitucional, previsto, neste caso concreto, no Título preliminar, mas também, noutros casos, no Título I (Secção 1.ª do Cap. II) ou em todo o Título II (De la Corona), são necessários os seguintes passos para fazer uma revisão constitucional: aprovação do princípio de revisão constitucional por maioria de dois terços, dissolução das Cortes Gerais, aprovação do novo texto por maioria de dois terços das novas Câmaras e referendo sobre o texto aprovado (art. 168). Ou seja, não poderá ser feita uma alteração à Constituição se não houver dois terços que, em cada câmara, a aprovem.
Deve-se ter em consideração, na apreciação desta complexa questão política, que, em geral, os processos que afectem a unidade territorial dos Estados ou que sejam considerados decisivos na arquitectura institucional do Estado-Nação ou estão constitucionalmente proibidos (veja-se, a título de exemplo, o art. 89 da Constituição francesa: “Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire”; e, sobre a forma de governo, veja-se o art. 139 da Constituição italiana, “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”, que é igual ao da Constituição francesa, art. 89: “La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision”) ou, então, enquadrados normativamente com a exigência de maiorias qualificadas em revisões constitucionais que os tornem possíveis (por exemplo, em Portugal, França, Itália, Alemanha, USA, aqui, por exemplo, logo em 1787, no artigo V da Constituição).
O que pretendo tornar claro, com a referência a estes países, é que as mudanças estruturais nas sociedades democráticas exigem sempre procedimentos excepcionais que implicam alterações nas respectivas constituições. Estes procedimentos exigem consensos alargados que vão para além das maiorias absolutas simples (50% + 1). Por isso, e precisamente porque se trata de uma norma que se pode considerar tendencialmente de alcance universal, qualquer posição que não tome em consideração as razões de fundo que a sustentam, justificam e legitimam implica sair fora das regras da democracia representativa, introduzindo outras lógicas, que são sancionadas com o direito e/ou com a força.
Os resultados e o seu significado
Ora, os partidos independentistas declaram-se democráticos e pacíficos, usando os meios políticos e jurídicos para afirmarem a sua vontade de se separar de Espanha. Convocaram um referendo que, todavia, se realizou fora da legalidade e em condições impróprias. Entretanto, ganharam as eleições de 21 de Dezembro com maioria absoluta (somados os votos e os mandatos de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya e CUP, com 70 mandatos, mais dois do que a maioria absoluta e cerca de 2 milhões de votos contra cerca de 1 milhão e novecentos mil de C’s, PSC e PP). De notar, todavia, que cerca de um milhão de eleitores não se expressou (incluídos os votos nulos ou em branco, equivalentes a 35.404). E que o CatComú-Podem não está incluído nesta contabilidade (“El País” inclui-o no bloco não independentista). Entretanto, nestas eleições não estava em causa um programa para a independência, mas para os representantes no Parlament e para a formação do governo.
Do conjunto destes dados resulta com clareza que, tendo ganho as eleições com maioria absoluta, numa disputa com cerca de 80% de participação (4.360.843 votos contabilizados), os independentistas perderam dois mandatos relativamente às eleições de 2015 e depois de um referendo em que se propuseram declarar a independência. Ou seja, não conheceram, nestas eleições, um movimento propulsor. Antes pelo contrário. É certo que arrecadaram, em conjunto, mais cerca de 106 mil votos do que em 2015, mas isso não foi suficiente para impedir a perda de dois mandatos, tendo, afinal, a maioria dos votos expressos (cerca de 245 mil, no total) revertido para o bloco constitucionalista. Significativa também é a perda da radical CUP, em seis mandatos (de dez para quatro) e em menos 143.142 votos. O que tem significado porque se trata do partido mais radical em termos de defesa da independência. A diferença entre os dois grandes blocos, em termos de votos, acabou, pois, por ser escassa, traduzindo-se em pouco mais de 100 mil, sobretudo se virmos a sua dimensão à luz das pretensões dos independentistas. Esta situação não lhes permite avançar com a pretensão de independência, se tomarmos em consideração aquela que é a regra de ouro do constitucionalismo de todo o mundo: a exigência de maioria qualificada para proceder a alterações constitucionais tão profundas como esta.
Conclusão
O independentismo, sendo um fenómeno politicamente tão relevante na Catalunha, não podendo, por isso, ser tratado dominantemente com a lógica e as categorias do direito penal ou sequer com as do Tribunal Constitucional, não possui, todavia, dimensão suficiente para se arrogar o direito de secessão, simplesmente porque quase metade dos eleitores catalães não a querem e um milhão não se pronunciou, porque é inconstitucional e porque é afirmada e proposta no quadro das normas e dos procedimentos democráticos. Para seguir uma via legal e pacífica os independentistas deveriam submeter a sua pretensão às Cortes Gerais, onde teriam de obter dois terços na votação para que se accionasse uma revisão constitucional.
Ora o que acontece é que nem sequer na Catalunha eles têm mais do que uma maioria absoluta simples, ao mesmo tempo que representam menos de metade dos eleitores, ou seja, cerca de 47% do total da cidadania activa. E, assim sendo, o que parece ser razoável é manter o statu quo ante, com uma relevante novidade: a de que a outra (quase) metade da Catalunha quer mais autonomia do que aquela que tem. Sabemos que a actual situação se deve muito à insensibilidade política do PP, ao ter remetido para o Tribunal Constitucional o estatuto autonómico, recusado em 2010, acabando por vir a receber como boomerang a reivindicação independentista de hoje. Mas também sabemos que deixou de ser possível manter uma lógica de direito penal como resposta à sensibilidade política de cerca de dois milhões de catalães.
Por isso, se os independentistas deverão recuar nas suas posições mais radicais (reivindicação da secessão), aceitando uma resposta no quadro constitucional (actual ou modificado), também Madrid deverá recuar relativamente a uma ortodoxia legalista e politicamente míope. De resto, algumas das expressões do Rei, na sua mensagem de Natal, pareciam aludir a uma maior flexibilidade política no tratamento da questão catalã. E se é verdade que Madrid nunca aceitará que uma parte de Espanha se separe, também é verdade que a melhor resposta política aos problemas da autonomia só pode ser o de uma geografia constitucional mais flexível, evoluindo ou não para uma solução de tipo federal. Mas estou convencido de que uma proposta deste tipo acabaria não só por resolver a questão catalã e por agradar a (quase) todos, mas também por evitar futuras questões de autonomia nas várias nacionalidades ibéricas que integram esse grande país que se chama Espanha. A solução federal, difícil e complexa, é certo, até porque deveria aplicar-se evidentemente a toda a Espanha, situa-se, todavia, na intersecção das duas posições antagonistas e permitiria, por um lado, preservar a unidade de Espanha e, por outro, satisfazer as pretensões dos independentistas – destes e de outros – a um nível irrenunciável. De resto, não seria o único país europeu com uma estrutura federal.
Notas
Comisión Europea COM(2017) 2025 de 1 de marzo de 2017.
[[5]]url:#_ftnref5 Finisterra, 10/11, 1992, 91-124.
O PS NAS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU
João de Almeida Santos

Um momento da minha intervenção, no Café-Concerto do Teatro Municipal da Guarda
EUROPEIAS. O PS no Café-Concerto do TMG. Apresentação da Equipa de Campanha do PS no Círculo Eleitoral da Guarda, ontem, 12.03.2019, com Pedro Marques. Transcrevo aqui o essencial do meu discurso na qualidade de Mandatário Distrital da Lista do PS ao Parlamento Europeu.
I.
Fui convidado pelo PS para ser Mandatário da Candidatura ao Parlamento Europeu pelo Círculo Eleitoral da Guarda.
Aceitei, com muito gosto e honra, sem hesitações, por três razões:
- o PS é o partido em que me revejo politicamente, sendo seu militante;
- sou da Guarda (Famalicão da Serra) e já representei o PS na região quer como Presidente da Assembleia Municipal da Guarda, durante dois mandatos, quer como Presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal COMURBEIRAS, entre 2006 e 2013; adoro a minha terra e quero o melhor para ela;
- sou europeísta convicto e militante e defendo uma solução constitucionalista para a União, não só por convicção política e ideal, mas também por directo conhecimento da Europa, tendo vivido mais de uma dezena de anos em Itália, na Alemanha e na Bélgica e sido Professor e Investigador nas Universidades de Roma “La Sapienza” e na Universidade Complutense de Madrid.
II.
Considero que o projecto europeu é uma das mais belas construções políticas e ideais que a humanidade conseguiu até hoje, depois do Império Romano. O ideal europeu começou ancorado na Ideia de Paz logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, associado à Sociedade das Nações e interpretada pelo Movimento Paneuropeu, de Coudenhove-Kalergi, e ganha dimensão institucional logo a seguir à tragédia da Segunda Guerra Mundial, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1952, seguindo-se o Tratado de Roma, em 1957, e, entre outros, o Tratado da União Europeia, de Maastricht, em 1993, e o Tratado de Lisboa, em 2009. Pelo meio ficara um Tratado da Constituição Europeia, de 2004, chumbado em dois lamentáveis referendos (na França e na Holanda). Numa palavra, a União sofreu um grave compasso de espera, como já em 1984 sofrera quando Altiero Spinelli conseguiu fazer aprovar pelo Parlamento Europeu uma Constituição para a Europa que viria a ser letra morta.
III.
Ora se a ideia de paz é a matriz originária da União (não foi por acaso que começou por ser uma comunidade do carvão e do aço, materiais da guerra), a ideia de uma democracia pós-nacional, política e socialmente coesa, civilizacionalmente avançada e multicultural é o seu futuro.
Na verdade, a União Europeia revela-se também uma absoluta necessidade para os seus Estados-Membros, em tempos de globalização e de novas potências emergentes com um enorme potencial de afirmação no teatro da política internacional. Absoluta necessidade não só para desempenhar uma função reguladora no multilateralismo emergente, mas também como referência no campo do avanço civilizacional, quando tantas ameaças de retrocesso se começam a avistar no horizonte. E uma delas já tem nome e ideólogo e é verdadeiramente ameaçadora: o nacional-populismo de “The Movement”, liderado por Steve Bannon, o homem a quem Trump deve a eleição. Do Brexit nem vale a pena falar, de tão grande ser a trapalhada.
IV.
A União, no plano da factualidade, é já um espaço político com uma dimensão verdadeiramente considerável. Vejamos.
- A União Europeia tem 500 milhões de habitantes em mais de 4 milhões e meio de kms quadrados;
- é o maior mercado único do mundo;
- tem o segundo maior PIB mundial (22%), logo a seguir ao dos USA (24%);
- a sua moeda disputa com o dólar (30% contra 43%) o mercado mundial, tendo retirado o monopólio ao dólar que fazia a chuva e o bom tempo na economia mundial.
- dois terços dos europeus querem estabilidade na União;
- 80% defendem as quatro liberdades (livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços);
- 70% defendem o euro.
- 1,7 milhões de pessoas da União deslocam-se regularmente para outro Estado-membro por razões de trabalho ou de estudo.
- De grande significado o programa Erasmus+. Exemplo: em 2015 o Programa Erasmus+ permitiu a 678. 000 europeus (um número inédito) estudar, formar-se, trabalhar e fazer voluntariado no estrangeiro. No mesmo ano a UE investiu mais de 2 mil milhões de euros em mais de 19 600 projectos em que participaram 69 000 organizações. Um dado que evidencia a preocupação da União pelo seu futuro, através da mobilização e sensibilização dos jovens europeus.
- A União Europeia possui um dos mais avançados modelos sociais do mundo.
- É hoje um espaço que milhões de pessoas ambicionam como sua casa para a vida.
V.
Perante estes dados a pergunta é esta: não deve a UE dotar-se de personalidade e de vontade política institucional para poder desempenhar o papel que lhe está destinado pela história? Eu creio que sim e por isso defendo a construção de uma democracia pós-nacional que se possa exprimir com coerência política e com capacidade de afirmar uma concreta vontade política em todos os campos. Ou seja, é necessário retomar o processo de aprofundamento do sistema político europeu para que a União possa realmente ocupar o lugar que lhe pertence na geografia política mundial. Mas deixem-me que vos diga: não vejo forças políticas mais vocacionadas para interpretar este processo do que os partidos socialistas, não só pela sua bela história, mas também pela sua identidade política e ideal, pelo universalismo dos seus valores e pela visão solidária e aberta que têm do projecto europeu.
Não quero, pois, concluir, sem deixar um repto ao nosso cabeça de lista Pedro Marques: faça-se porta-voz de uma Europa relançada à altura dos seus fundadores, Altiero Spinelli, Jean Monnet, Robert Schuman. Estaremos consigo nesse combate.
POR ONDE ANDA A INTERNACIONAL SOCIALISTA?
João de Almeida Santos

“IS?”. Jas. 01-2019
A PERGUNTA que gostaria de fazer ao Vice-Presidente da “Internacional Socialista”, Carlos César, Presidente do PS, quando leio a notícia sobre a iniciativa que um tal Yanis Varoufakis está a promover para a criação de uma “Internacional Progressista” é esta: Por onde anda a “Internacional Socialista”?
Claro que é uma pergunta retórica, pois todos sabemos que esta organização, na verdade, politicamente já quase não existe, apesar de ter um Presidente, Georgios Papandreou (desde 2006), um Secretário-Geral, Luis Ayala (desde 1989, há trinta anos, o que diz tudo!) e um Presidium com 34 Vice-Presidentes. Parece ser claro que a sua inexistência política se deve à crise generalizada dos partidos socialistas, que não têm sabido interpretar as profundas mudanças que se estão a verificar nas nossas sociedades e que, por isso, têm vindo a definhar inexoravelmente, com uma ou outra excepção. Mas não seria esta uma boa razão para, com a globalização, activar a Internacional Socialista e relançar a social-democracia? Afinal, o que se constata é que nem o próprio Partido Socialista Europeu parece dar grandes provas de vida, quer do ponto de vista interno quer do ponto de vista de uma estratégia para a União Europeia e para o relançamento da proposta política e ideal da social-democracia. Mas, sobretudo, o que não se vê é pensamento político, que é do que mais se precisa. Vistas as lideranças, não acredito que haja uma resposta, para além dos habituais clichés. Ou seja, o que, de facto, parece estar a acontecer é uma crise generalizada da social-democracia. E esta crise só não a vê quem não quiser ver. Os resultados das eleições nos vários países da Europa são claros, sendo flagrantes, por exemplo, os casos da Grécia, de Itália, da França ou da Holanda. Por outro lado, a onda de extrema-direita alastra em mancha de óleo e as eleições europeias serão o grande teste à resistência do establishment político, onde também se inclui a direita moderada. As brechas por onde irrompe o extremismo político são conhecidas: a insegurança, o problema dos refugiados e, em geral, dos movimentos migratórios, a incerteza, os efeitos da globalização sobre o emprego… e a incapacidade de resposta do establishment político aos problemas, prisioneiro que está da narrativa do politicamente correcto e da chamada realpolitik. Claro, mas o que está a acontecer é muito mais profundo e tem a ver com uma mudança estrutural na composição e na articulação das sociedades e na relação que os indivíduos singulares mantêm com elas, em grande parte devido os avanços da tecnologia e, em particular, das tecnologias da informação e da comunicação (TICs). E, claro, aos avanços civilizacionais [1].
A Internacional Nacional-Populista
A verdade é que a extrema direita já agarrou as TICs, já as usou na sua forma mais deletéria, através da Cambridge Analytica [2], pondo-as ao serviço, na batalha eleitoral (USA, UK), da narrativa sobre os problemas estruturais que acima identifiquei, explorando o que sabia acerca dos acerca de milhões de pessoas e visando atrair os seus “demónios interiores”. Artífice disso foi precisamente Steve Bannon, então vice-presidente daquela empresa, e Aleksandr Kogan e os seus companheiros da Universidade de Cambridge, sendo, este, Professor Associado e tendo “received grants from the Russian government to research Facebook users’ emotional states”, segundo um artigo publicado pelo The Guardian (17.03.2018).
Pelo contrário, a esquerda tem sido incapaz de as usar como tecnologias da liberdade e como instrumento de emancipação da cidadania, porque ainda está prisioneira das velhas fórmulas da política orgânica e de encapsulamento organizacional e ideológico da política ao mesmo tempo que tem vindo a agir no quadro da velha realpolitik. De resto, o establishment político e o establishment mediático são tendencialmente adversários jurados da rede porque ela representa uma nova configuração do poder centrado na cidadania ou, pelo menos, um poder paralelo ao que era expresso exclusivamente pelas grandes organizações com poder de gatekeeping político e comunicacional. Uma nova natureza do poder, portanto. Poder diluído, como dizia o saudoso Jesús Timoteo Álvarez (Gestión del poder diluido. La construcción de la sociedad mediática (1989-2004). Madrid, Pearson, 2005). A amizade da esquerda convencional pelas TICs e redes sociais é apenas interesseira, de curto alcance e usa-as apenas como new media, que não são.
A extrema-direita, para construir aquilo que o seu ideólogo de serviço, Bannon, o homem que preparou a chegada ao poder de Donald Trump, já designou como Internacional Nacional-Populista, está a trabalhar uma narrativa à altura do momento, tendo como referentes políticos reais Matteo Salvini, Victor Orbán, Jaroslaw Kaczynski, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Marine Le Pen, Geert Wilders, Heinz-Christian Strache, Santiago Abascal, Gauland & Weidel, etc… Bolsonaro, ao que parece, já começou a caminhada para o mccarthyismo, anunciando a expulsão dos comunistas da função pública. E o exemplo da vertiginosa ascensão de Salvini, explorando politicamente o combate ao fenómeno migratório e a contraposição à União Europeia, explica de forma bem simples o que está a acontecer.
Entretanto, o senhor Varoufakis, desiludido com a política de Atenas e do seu ex-camarada camarada Tsipras (ele tem agora um novo movimento europeu, DiEM25), rumou a Burlington, no Vermont, e, com o activo Bernie Sanders, decidiu, na sua Fundação, criar uma nova internacional, a Internacional Progressista, para combater a ameaça do nacional-populismo, convocando para o efeito personalidades como o Presidente da Câmara de New York, Bill de Blasio, a Presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, Susan Sarandon, Jeffrey Sachs, Naomi Klein ou Cynthia Nixon. O objectivo é colocar-se como alternativa à internacional nacionalista, sim, mas também às velhas elites que permitiram que o sistema económico gerasse mais desigualdade. O Manifesto começa assim:
“Há uma guerra global em movimento contra os trabalhadores, contra o ambiente, contra a democracia, contra a decência. Uma rede de facções direitistas está-se a alargar através das fronteiras para provocar a erosão dos direitos humanos, silenciar a diferença e promover a intolerância. Desde 1930 que a humanidade não enfrentava uma tal ameaça”.
É importante que surjam iniciativas como estas que reconheçam que a velha política está a falhar – e nem é preciso relembrar o falhanço liberal do início do século XX – e que a resposta não poderá ser a mesma que se verificou entre guerras, com ditaduras a pulular por essa Europa fora. Mas também é lícito perguntar por que razão a área da social-democracia continua a assobiar para o lado e a afundar-se, podendo levar ao afundamento da própria democracia. Algum problema haverá para que isto esteja a acontecer. Mas não se vê iniciativas que tentem dar uma solução à crise…
Que fazer?
Por isso, a pergunta com que iniciei este artigo é legítima e resulta de uma profunda preocupação pelo caminho que a social-democracia está a percorrer e do mutismo intelectual e cognitivo dos seus dirigentes. É bem conhecida a crise que os partidos socialistas estão a sofrer por toda a Europa, com a honrosa excepção dos “gauleses” do PS. A mais recente crise verificou-se na vizinha Andaluzia, confirmando-se mais uma vez a tendência para o declínio. No Brasil, está-se a verificar a criminalização de um grande partido de esquerda da América Latina, o PT, sem que se tenha ouvido a voz da Internacional Socialista, apesar de o Secretário-Geral ser o vizinho chileno Luis Ayala. Bem sei que o PT não a integra (não interessa as razões), mas é um partido da sua área. Do socialista grego Georgios Papandreou, seu Presidente, desde 2006, sucedendo a António Guterres, não se tem notícias, tal como do velho Pasok, que abandonou. O Partido Democrático em Itália está em progressiva perda e não se vê como possa recuperar. O panorama europeu é, deste ponto de vista, confrangedor e até a escolha do próximo candidato do PSE a Presidente da Comissão parece não ter grande sentido, sobretudo se atendermos à própria crise que a União Europeia está a viver. Mas talvez a escolha tenha sido feita na óptica de uma derrota nas próximas eleições.
A verdade é que Varoufakis já conseguiu a convergência de Bernie Sanders, que representa uma parte muito consistente do Partido Democrático americano. E também é verdade que a iniciativa responde, de facto, a um problema. O que eu não compreendo é este silêncio e esta inacção de organizações tão importantes como a Internacional Socialista ou o Partido Socialista Europeu. Falta acção, sem dúvida, mas sobretudo falta pensamento. E a sensação é que a social-democracia já está acantonada no exercício de uma frágil realpolitik que em tempos de profunda mudança perde qualquer sentido. Mas era bom que acordasse porque ela representa uma área política e um património que serão sempre muito relevantes para o futuro da humanidade. Por isso, e até pelo meu próprio posicionamento pessoal, o que me apetecia fazer era dar a este meu texto a forma de uma Carta aberta, não a Carlos César, mas a António Costa. Só não o faço porque alguns iriam achá-la um pouco pretensiosa. Mas aqui fica o essencial do que teria dito nessa carta.
NOTAS
[1] Sobre este assunto, veja o livro, por mim organizado, Novas fronteiras da política na era digital, Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas (versão digital, de acesso livre, em cipes.ulusofona.pt), em particular o Capítulo I: “Um novo paradigma para a social-democracia” (pp. 15-46), de minha autoria.
[2] A whistleblower has revealed to the Observer how Cambridge Analytica – a company owned by the hedge fund billionaire Robert Mercer, and headed at the time by Trump’s key adviser Steve Bannon – used personal information taken without authorisation in early 2014 to build a system that could profile individual US voters, in order to target them with personalised political advertisements”. “Christopher Wylie, who worked with a Cambridge University academic to obtain the data, told the Observer: ‘We exploited Facebook to harvest millions of people’s profiles. And built models to exploit what we knew about them and target their inner demons. That was the basis the entire company was built on’”. The Guardian, 17.03.2018.

O NACIONAL-POPULISMO
já tem um ideólogo – Steve Bannon
(nova versão)
Por João de Almeida Santos
Ilustração: "INSOMNIA" - Cartaz da digressão do fundador e "Garante"
do MoVimento5Stelle, Beppe Grillo (publicado no seu Blog), por Itália.
Uma narrativa sobre a sua vida.

«È in corso una guerra tra due mondi. Tra due diverse concezioni
della realtà». [Guerra] «nascosta dai media, temuta dai politici,
contrastata dalle organizzazioni internazionali, avversata dalle
multinazionali». «Questa guerra totale (…) è dovuta alla diffusione
della rete». «I giornali stanno scomparendo, poi verrà il turno
delle televisioni… tutta l’informazione confluirà in rete e
chiunque potrà diventare prosumer, ossia al tempo stesso produttore
e fruitore dell’informazione». «La partecipazione diretta dei
cittadini alla cosa pubblica sta prendendo il posto della delega
in bianco».
Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo
Siamo in guerra. Per una nuova politica
(Milano, 2011, pp.3-4).
“Non esistono destra e sinistra, esiste il popolo contro le élite”.
Matteo Salvini
“Mr. Bannon said he told Mr. Salvini, 'You are the first guys who can
really break the left and right paradigm. You can show that
populism is the new organizing principle'”.
Steve Bannon (O ideólogo do soberanismo americano), segundo o
New York Times de 01.06.2018.
O ARTIGO
(Versão actualizada, revista e aumentada)
ITÁLIA JÁ TEM UM GOVERNO, com um Presidente do Conselho (é assim que se chama) indicado pelo M5S, Giuseppe Conte, Professor de Direito acusado de ter retocado – em cinco casos –, com muita imaginação, o seu currículo académico, mas, mesmo assim, indigitado duas vezes e, finalmente, nomeado pelo Presidente Sergio Mattarella. Tomou posse no Palazzo del Quirinale no dia um de Junho e ontem mesmo fez o seu primeiro discurso no Senado, tendo obtido a 171 votos a favor e 117 contra. Hoje será a vez da Câmara dos Deputados se pronunciar. Vice-Presidentes Luigi di Maio (líder político do M5S, com a pasta do Desenvolvimento Económico e do Trabalho) e Matteo Salvini (Líder da Lega), com a pasta da Administração Interna (Ministero dell’Interno). 18 os Ministros (7 do M5S, 6 da Lega – contando, neste caso, o Secretário de Estado da Presidência – e seis técnicos). Cinco as mulheres, em Ministérios politicamente importantes: Saúde, Defesa, Administração Pública, Assuntos Regionais, Sul. Este governo dispõe de maioria absoluta quer na Câmara dos Deputados quer no Senado.
Chega, assim, a 88 dias do voto, a bom porto um processo que já se adivinhava e que estava escrito, não nas estrelas, mas na realidade política italiana. Os partidos de formato clássico, e em particular o Partido Democrático (PD), não resistiram a um partido de novo tipo, digital e neopopulista, como o MoVimento5Stelle e ao avanço político da xenofobia, pela mão da LEGA de Matteo Salvini. A diferença eleitoral que se verificou nas eleições do passado 4 de Março entre aquele partido (M5S) e os outros foi, no caso do PD, de 14 pontos, no caso da LEGA, de 15 pontos, e, no caso de Forza Italia, de 18 pontos. A derrota de Renzi no referendo constitucional e a cisão promovida por D’Alema ajudaram à queda do PD e ao avanço do M5S. O populismo venceu em Itália por maioria absoluta. Começa agora o segundo e mais difícil “round”, o governativo. A LEGA sai muito reforçada nesta solução governativa, atendendo à sua dimensão eleitoral.
POPULISMO
Na verdade, ambos os partidos que integrarão o governo italiano são partidos populistas, um, de tipo clássico, a LEGA, e, o outro, neopopulista, o M5S, com uma base social totalmente diferente da base social tradicional do populismo, o povo da Rede. Este último submeteu o “Contrato de Governo para a Mudança” a votação na plataforma do M5S, Rousseau (e não por acaso se chama assim, vista a posição negativa do contratualista francês sobre a ideia de representação política). Ambos são contra o establishment e proclamam a necessidade de devolver o poder ao povo. Matteo Salvini: “Non esistono destra e sinistra, esiste il popolo contro le élite”! É correcto, pois, dizer que os populistas, de dois tipos diferentes, chegaram ao poder em Itália. Anti-establishment, nacionalismo, liderança carismática e oracular, mitificação do povo contra a representação, democracia directa contra o poder da “casta”, anti-imigração, que é o modo de ser contra o diferente, o outro, dúvidas sobre a União Europeia, discurso fortemente ético, reforço da segurança – são os principais pontos que os caracterizam. No caso do M5S, a reivindicação da democracia directa é mais clara e fundamentada. Steve Bannon, o ideólogo do populisno de marca Trump, unifica estas duas fórmulas e chama-lhe, numa fórmula que é todo um programa, “nacional-populismo”, referindo-se a Itália como o coração da “nossa revolução”, precisamente a revolução nacional-populista.
O “CONTRATO DE GOVERNO PARA A MUDANÇA”
Fui ler o programa de governo assinado pelos dois partidos e encontrei lá de tudo. E começo pelo mecanismo que encontraram para dirimir os desentendimentos ou resolver as omissões do Contrato de Governo, o Comité de Conciliação, fórmula que consta dos Tratados da UE, se não erro desde Maastricht (1993), para mediar na resolução de questões que surjam entre o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros. Assim mesmo: Comité de Conciliação. Nem de propósito – uma importação política directa dos Tratados. Só que este é um Comité sui generis: integra o Presidente do Conselho, os dois líderes da coligação governativa, os Presidentes dos Grupos Parlamentares dos dois partidos e o ministro que tutelar a matéria em causa. Estranho, não é? Sim, por várias razões. Em primeiro lugar, porque representa uma mistura de instâncias que não se podem misturar (privado e público), numa óptica institucional, de Estado. Em segundo lugar, porque toma decisões (por maioria de dois terços), não se confinando a órgão consultivo. Em terceiro lugar, porque confisca competências que só podem pertencer ao governo. Numa palavra, introduz um organicismo que não é compatível com a natureza do sistema representativo. Em boa verdade, agora que os líderes dos dois partidos ocupam a Vice-Presidência o órgão só integrará, na realidade, membros do sistema institucional, embora lá estejam a título de líderes políticos, como previsto no “Contrato”.
Depois, o programa propriamente dito:
- introdução da flat tax, com valores que variam entre os 15% e os 20% (pessoas físicas, IVA, empresas e famílias, com um sistema de deduções para garantir a progressividade dos impostos);
- aposta na green economy;
- desincorporação da despesa para investimento público do défice.
- luta para que os títulos de Estado dos países da zona euro já adquiridos pelo Banco Central Europeu através da operação do quantitative easingsejam excluídos do cálculo da relação dívida-PIB;
- rendimento de cidadania para os carenciados no valor de 780 euros (por pessoa), com limite temporal de dois anos, e pensão de cidadaniaque compensa as pensões inferiores a 780 euros;
- reforma do sistema pensionístico: reforma a quem atinge quota 100 na soma idade+contribuições. E reforma a quem contribuiu 41 anos. 58 anos para as mulheres com 35 anos de descontos;
- drástica redução do número de deputados e de senadores: quase para metade, para 400 e 200, respectivamente;
- introdução de mecanismos de democracia directa, como a revisão da legislação que regula o instituto do referendo (referendo “abrogativo” reforçado, referendo propositivo, fim da exigência de quorum); iniciativa popular reforçada e introdução de formas de vínculo de mandato.
- cidadania digital gratuita desde o nascimento;
- proibição perpétua de desempenho de funções públicas para os corruptos e intensificação das penas;
- recondução do regime previdencial ao regime comum e anulação das reformas superiores a 5.000 euros (líquidos) dos dirigentes (politicos) da Administração Pública, sem fundamento contributivo.
- rediscussão dos Tratados UE e do quadro normativo principal e reforço dos poderes do Parlamento Europeu e das Regiões.
- prevalência da constituição italiana sobre o direito comunitário;
- repartição equitativa dos pedidos de asilo pelos países da UE;
- endurecimento das políticas de imigração (com corte de 5 mil milhões já anunciado pelo Ministro da Administração Interna, Matteo Salvini);
- fim das sanções à Rússia, partner internacional.
Estes os pontos programáticos principais que constam do documento assinado pelo M5S e pela Liga.
DUAS CURIOSIDADES
- Não podem fazer parte do governo os membros da maçonaria e os que tenham conflito de interesses relativamente às respectivas tutelas;
- citada uma constituição, neste documento, a propósito da introdução de vínculos de mandato necessários para quem defende a democracia directa: a portuguesa, no seu artigo 160, alínea c), que prevê perda de mandato para os que “se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram apresentados a sufrágio”. Esta alínea da nossa constituição é invocada a propósito da democracia directa, no que eu julgo ser um erro do legislador português porque ela nega o essencial do sistema representativo, ou seja, uma mudança de estatuto do representante no plano privado (que não é crime, nem punível por lei) é condição suficiente para revogar um mandato que se situa num plano superior, anulando a pedra-de-toque da representação, ou seja, a natureza do mandato, neste caso, não-imperativo.
POLÍTICA
Mas vejamos aquilo que mais directamente toca o sistema, ou seja, as medidas de carácter mais político: cidadania digital à nascença e gratuita para todos; referendos “abrogativo” (com capacidade revogatória) e propositivo sem necessidade de quorum estrutural para serem válidos; obrigatoriedade de pronúncia do Parlamento sobre as propostas de lei de iniciativa popular e respectiva calendarização; introdução de vínculos de mandato que permitam a sua revogação; órgão de decisão para-institucional, regido pela norma da maioria qualificada, sobre a acção governativa.
Não é grande coisa, mas indicia uma tímida mudança na gestão do poder. O que já se previa pelas exigências inerentes ao governo de um grande país que faz parte da União Europeia. O que, por outro lado, torna claro que uma coisa é a disputa eleitoral para a conquista do poder e a outra é a gestão do poder, como em breve acabaremos por ver em face da prática governativa que agora começa. E talvez seja aqui que morre a novidade. Pelo menos, em relação à anterior experiência dos governos Berlusconi, com a presença quer da Liga quer da Aliança Nacional, pós-fascista, agora em relativa regressão. O próprio partido Forza Itália era um partido com muitas semelhanças ao populismo e não só pela dominância de um líder carismático, ao ponto de um intelectual como Norberto Bobbio” dizer que, de certo modo, Berlusconi representava uma espécie de “autobiografia da nação, da Itália de hoje” (Bobbio, Contro i nuovi dispotismi. Sritti sul berlusconismo, Bari, Dedalo, 2008, 16). Também porque se apresentava como anti-sistema, contra os “politicanti senza mestiere”, os politiqueiros sem profissão. Na verdade, as diferenças são menores do que se pode pensar à partida. É claro que os governos Berlusconi eram governos de elite, conservadores, mas de marca ainda convencional, não obstante algumas novidades introduzidas pela sua filosofia de gestão. Neste, estamos perante uma LIGA mais radical (apesar da fórmula de Umberto Bossi, “Roma ladrona, la Liga non perdona”, apanhado ele próprio – e o filho – a pôr a mão na massa, depois, claro, da experiência governativa… em Roma) e com características de partido nacional. Mas sobretudo estamos perante um partido de novo tipo – O M5S, partido digital – que funciona na base da plataforma Rousseau, onde o povo da rede se exprime, toma iniciativas políticas e vota. Neste caso, também existe uma figura carismática que tutela o M5S e que se mantém um pouco distante da azáfama política, Beppe Grillo, delegando a função de executor político, neste momento, a Luigi di Maio. Na verdade, o M5S surge como partido interclassista que, tal como a LEGA, e em geral os populismos, rejeita a dicotomia esquerda-direita, porque a verdadeira clivagem não é horizontal, mas vertical, ou seja, é entre o povo e as elites.
IDEOLOGIA
“Nacional-Populismo”. Não há dúvidas de que este movimento triunfou em Itália. Com duas versões diferentes, sem dúvida – uma, populista e, a outra, neopopulista – mas com uma mesma inspiração, varrer a classe política tradicional, em nome do povo, e reafirmar a centralidade da nação. Já tínhamos visto isto no discurso de Trump: contra Washington e a establishment mediático e “America first! America first!”. E, agora, a consolidação ideológica desta onda parece estar a ser garantida pelo ideólogo do trumpismo, Steve Bannon, que assentou praça em Itália, com o estandarte do “nacional-populismo”. Ouçamo-lo, já depois de os populistas terem ganho as eleições, mais propriamente em Milão, a 11 de Março (data da publicação da entrevista a La Stampa): “CinqueStelle e LEGA são em Itália o coração da nossa revolução”; “expressões diferentes, fenómeno único nacional-populista o meu sonho é vê-los governar juntos. Salvini será a força propulsora”; “o nacional-populismo põe ao centro os indivíduos, a classe média, privada de trabalho e de bem-estar por dois factores convergentes, o livre comércio e os migrantes”. Todo um programa na fórmula do “nacional-populismo”, glosa de uma corrente de má memória. Povo, Nação e o controlo do Estado (antes, capturado pelas elites) pela Cidadania – a fórmula. Di Maio: “Da oggi lo Satato siamo noi” – uma afirmação equívoca e perigosa, visto que o Estado em qualquer regime democrático está acima da classe dirigente do momento. A não ser que o “noi” se refira ao povo, numa inadequada identificação entre governantes e governados. E é aqui que reside a dificuldade, vistos os procedimentos e os mecanismos de gestão do poder. Todo um mundo que vai da democracia representativa até à democracia directa, passando pela democracia deliberativa. E, claro, sabendo a pouco – para tanta retórica política de libertação – os mecanismos de democracia directa previstos no “Contrato de Governo”. O que, de algum modo, nos pode levar a concluir que este “nacional-populismo” pouco mais é do que a afirmação da uma sua superioridade moral. Que, de resto, começou mal com as mentirolas de Giuseppe Conte e que continua com as dúvidas sobre a Ministra da Defesa ou com os gostos pelo offshore de Matteo Salvini (veja-se “L’Espresso”, de 01.06.18). É que já se sabe que pela ética morre sempre o moralista.
Bannon, conhecido também por estar implicado no uso de informações do Facebook, através da Cambridge Analytica, a empresa controlada pelo milionário americano Robert Mercer, da qual Bannon foi, entre 2014 e 2016, Vice-Presidente, aparece agora, depois de afastado por Trump da Administração americana, a assumir o papel de teórico e operacional do “nacional-populismo” triunfante em Itália. E a verdade é que o seu sonho, manifestado em Março, acabou de ser, a 1 de Junho, concretizado com a tomada de posse do novo governo italiano, formado pelo M5S e pela LEGA, tendo como Vicepresidentes do Conselho precisamente os respectivos líderes, Luigi di Maio e Matteo Salvini.
“A nossa revolução”, diz, referindo-se a Itália, definida já como “a força propulsora do nacional-populismo”! Não é coisa de pouca monta se percorrermos o panorama europeu à procura de movimentos desta natureza, ainda que com características diferentes, à esquerda e à direita. Já vimos o que aconteceu com Rajoy e o Partido Popular, em Espanha, afastados do poder simplesmente porque já não era tolerada a sua prática governativa. Nas sondagens, Ciudadanos surge como a primeira força política e Unidos Podemos como segunda. Trata-se de partidos de novo tipo. Em França, Marine Le Pen reforçou a sua posição e mais teria acontecido se o voto não tivesse sido, inesperadamente, interceptado por Emmanuel Macron, que, num ano, criou o “En Marche!” e conquistou o Eliseu, a Assembleia Nacional e Matignon. Na Hungria, o populista Viktor Orbán (Fidesz) chefia o governo. O mesmo acontece na Polónia. Na Alemanha, pela primeira vez, Alternative fuer Deutschland sobe aos (quase) treze por cento e, pela primeira vez, elege 94 deputados ao Reichtag,l tornando-se a terceira força política alemã. No Reino Unido venceu o Brexit, com um discurso de natureza nacional-populista, brandindo os temas-chave desta doutrina. E por aí em diante.
Vimos que no “Programa de Governo para a Mudança” a questão da Rússia é directamente abordada com a defesa do fim das sanções e a assunção de uma relação de parceria económica e comercial e de segurança, em parceria com a NATO e a UE (ponto 9 do Contrato). O que é curioso é que este aspecto já era abordado como sendo de dimensão estratégica por Bannon na entrevista de Março: «A Rússia pertence ao nosso mundo euroamericano que deve, pelo contrário, proteger-se dos verdadeiros adversários, ou seja, da China, do Irão e da Turquia”, a “rota da Seda”, de Xi Jinping, que une estes países estranhos à cultura judaico-cristã. Coincidência? Ou as afinidades electivas já começaram a ser operacionalizadas?
Também na posição em relação à UE as posições são muito, demasiado parecidas. Vejamos o que se diz no ponto 28 do “Contrato”: “ É necessário reforçar o papel e os poderes do Parlamento Europeu, enquanto única instituição europeia a exibir uma legitimidade democrática directa e avaliando contextualmente a limitação dos poderes (depotenziamento) dos organismos decisores que não dispõem de tal legitimidade”. O que diz Bannon: o objectivo da revolução “consiste em reforçar os cidadãos e as suas nações, enfraquecendo as supraestruturas que os vexam e taxam como a UE e o BCE”. Ou, ainda, Bannon: «no futuro de Itália está a LEGA, que retirará votos do Sul aos cinco-estrelas graças às posições sobre os migrantes”. E o neoministro do interior, Salvini já está a cumprir, desde as inúmeras e duríssimas declarações sobre os migrantes até à sua simbólica deslocação à Sicília logo no início do seu mandato. Uma orientação que se tornará certamente um dos pilares deste governo (promovida sobretudo pelo Ministro do Interior), na medida em que é também um dos pilares da visão global do “nacional-populismo”. A situação já mereceu um duríssimo ataque do editorialista do “New York Times”, Roger Cohen: “disgust” foi a palavra usada, perante os papéis desempenhados pela LEGA (“xenófoba”) e pelo M5S (“anti-sistema”) – “In short, I see nothing in the League or the internet-propagated Five Star Movement that does not cause me disgust”. O que já motivou uma réplica de indignação de Salvini: “Ataque do NyT? Mais lama dos poderes fortes, estou orgulhoso”.
Importa, pois, seguir as políticas que serão implementadas por este governo para verificar a consistência e a robustez da ideologia “nacional-populista” perante as exigências da concreta governação no contexto da União Europeia. Uma coisa é certa: este governo não ajudará a resolver a grave crise que afecta a União. Mas também é certo que a UE constituirá uma séria barreira a uma eventual deriva política da Itália do “nacional-populismo”. Só que os problemas da União começam a avolumar-se tanto que um dia poderá ser ela própria pagar.
CONCLUSÃO
Portanto, dois andamentos. O primeiro, a conquista do poder. O segundo, a governação, o exercício do poder. E é aqui que nos devemos concentrar, conhecendo nós o que aconteceu ao Syrisa, na Grécia. Não será caso de dizer, desde já, que agora o establishment, ou “a casta”, são eles, como já disse Matteo Renzi. Mas é certo que eles próprios já proclamam uma perigosa e errada identificação com o Estado. É seguir as políticas da equipa governativa (um terço são técnicos), a aplicação do programa/contrato, em especial nos pontos mais inovadores e mais fracturantes, e a forma como irão gerir o poder (com base na negociação ou no diktat). São estas as três variáveis a analisar com atenção desde já, agora que o governo acaba de arrancar com a tomada de posse, no dia 1 de Junho de 2018, com a aprovação do Senado e com a esperada confirmação da Câmara dos Deputados, hoje, dia seis de Junho de 2018.
A SOCIAL-DEMOCRACIA E O FUTURO
UM DEBATE NECESSÁRIO.
A propósito de um pequeno Ensaio
de Pedro Nuno Santos
JOÃO DE ALMEIDA SANTOS

LI com atenção um pequeno ensaio de Pedro Nuno Santos (PNS), publicado no “Público” de 04.05.2018, sobre “A social-democracia para além da terceira via” e verifiquei que há nele a pretensão de repensar a posição da social-democracia e do socialismo democrático face aos desafios do futuro.
A terceira via e os seus inimigos
E começo por dizer que não compreendi bem como uma estratégia discursiva desta natureza possa ancorar-se mais na crítica a uma experiência passada, a da terceira via, do que num diagnóstico directo da sociedade actual. Mas também porque PNS não se refere ao essencial do que era a terceira via, quase a confundindo com as receitas do neoliberalismo. Leitura que se tornou demasiado frequente. Diz que a social-democracia se tem concentrado quase exclusivamente nas classes médias mais qualificadas, esquecendo o vasto sector dos serviços e a sua progressiva proletarização. PNS põe em dialéctica viciosa populistas e centristas para os irmanar em erros simétricos. Afirma que a terceira via se rendeu ao poder regulador dos mercados, deixando-lhes a condução dos destinos da sociedade. Que apostou nos sectores imobiliário e financeiro e que, com a crise destes, entrou ela própria em crise. Mais disse que os socialistas portugueses se salvaram do destino dos outros partidos congéneres porque adoptaram a política de abrir à sua esquerda, derrotando assim a direita. E mais algumas coisas que não vem ao caso referir.
Soube-me a muito pouco este ensaio e até vi nele uma errada compreensão do que foi realmente a terceira via, que começou em 1985, com Neil Kinnock, continuou com John Smith e acabou com Tony Blair, em direcção ao New Labour. Numa palavra, o que os trabalhistas ingleses quiseram fazer foi evoluir para um catch-all party, libertando-se, finalmente, do peso dos sindicatos, da tradicional “classe gardée” e da hipoteca da quarta cláusula que postulava, em cada cartão de militante, a “propriedade comum dos meios de produção, de distribuição e de troca”. Ou seja, a grande palavra de ordem da terceira internacional. Procurou, por isso, fazer aquilo que já Hugh Gaitskell tentara, não conseguindo, em finais dos anos ’50. E, curiosamente, ao contrário do que diz PNS, abrir precisamente à “middle class”, maioritária na sociedade inglesa, libertando-se do maximalismo e do classismo de inspiração marxista que tradicionalmente condicionara a mundividência social-democrata. Os alemães já o tinham feito em 1959, em Bad Godesberg. Ou seja, tratava-se de uma operação de alinhamento com as tendências europeias dos governos que há muito partilhavam responsabilidades de governo e com uma novidade: já não basta falar de liberdades, direitos e garantias, mas deve-se falar também de deveres e de responsabilidade, apelando ao cidadão como um stakeholder que partilha a gestão do poder e recebe os dividendos em bens públicos fornecidos pelo Estado, como forma de redistribuição da riqueza acumulada – um novo contrato de cidadania, numa stakeholder society. Como disse Stuart White, da Universidade de Oxford: “it is no old-fashioned ‘statist social democracy’ and it is not free-market neoliberalismo”. Esta operação levou Blair a várias vitórias eleitorais consecutivas.
A social-democracia na Europa
Mas, sinceramente, o que eu acho é que não é com discursos deste tipo que vamos lá, ou seja, que se prepara o futuro. Porque, na verdade, o futuro já está entre nós e não ri aos partidos socialistas nem sociais-democratas, com ou sem terceira via: Pasok, PD italiano, PSF, PSOE, SPD, PvdA holandês. E não devemos esquecer que o PS não ganhou as últimas eleições legislativas, depois de quatro anos de tremendos sacrifícios dos portugueses, a cargo do governo do PSD e do CDS. E isto há-de significar alguma coisa… ou não? E também que o Senhor Jeremy Corbyn continua na oposição, avançou à arrecuas e não se opôs com firmeza ao Brexit, para não falar de uma cumplicidade matreira com os seus defensores. E, ao que parece, tornando-se usufrutuário silencioso da Cambridge Analytica. E, ainda, que na Áustria governa a direita aliada à extrema direita. E que na Holanda os sociais-democratas quase desapareceram, perdendo quase 20 pontos percentuais nas eleições de 2017. O que significa que há um problema de identidade política, para não dizer, como o PCP uma vez disse do PCUS (falando da URSS), que os outros partidos socialistas e sociais-democratas, afinal, andaram a aplicar mal o modelo social-democrata. E também é verdade que já não basta repetir os valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade e de uma justa redistribuição da riqueza colectiva para resolver o problema.
O discurso, a meu ver, passa, isso sim, por olhar directamente para a sociedade, pelo reconhecimento do que está a mudar, que é muito, para depois encontrar as respostas. A questão é mais funda do que o tradicional discurso, feito por todos, do crescimento, da inovação, do emprego, da sustentabilidade e da justiça social.
A quem deve dirigir-se o PS?
E deve começar precisamente pela política. Que é do que menos se fala. A quem deve, pois, falar o PS? Já vi: aos deserdados. Ao terciário que se está a proletarizar, representando-o. Pois bem, eu acho que a conversa deve ser outra. O PS deve falar ao cidadão, ao indivíduo singular que exibe cada vez mais múltiplas pertenças e que hoje tem um acesso ilimitado à informação e a possibilidade de se protagonizar directamente, sem mediações, no espaço público deliberativo. Ou não é o indivíduo singular o verdadeiro referente social da representação política democrática? Ou seja, o PS deve ter a pretensão de representar o interesse geral, de todos, o interesse público, sabendo, todavia, que nem todos se reconhecerão nas suas leituras e soluções. Falar só para alguns – como parece sugerir PNS – não me parece ser a verdadeira vocação de um partido como o PS! E também deve falar, de forma talvez mais íntima, para os que se revêem nos grandes valores que o PS representa, mas que pensam pela própria cabeça, tendo abandonado há muito a exclusividade do “sentimento de pertença” que antes determinava totalmente as suas opções políticas. E este PS também deve, de uma vez por todas, superar a endogamia que, usando e abusando de uma lógica autogenerativa para a produção e a reprodução das elites dirigentes (com percentagens pouco entusiasmantes de ocupação familiar do sistema), o fecha em si próprio na gestão do poder. Este PS, se quer ser hegemónico (no sentido gramsciano) na sociedade, deve ser protagonista na frente científica, cultural, civilizacional e ideológica, não (exclusivamente) a partir dos aparelhos de Estado, mas de si próprio, como organismo político. E deve deixar de ter como única razão da sua existência a gestão do poder de Estado, ou seja, deve ter como centro da sua acção a sociedade civil, estar atento a ela, caminhar com ela, lutar com e por ela e com ideias claras. E não só nos períodos eleitorais. Ou seja, a “permanent campaigning” não deve ser meramente instrumental, mas deve representar uma sua resposta efectiva às expectativas deste novo cidadão que emergiu com a “digital and network society”, e a que já chamam “prosumer”, produtor e consumidor de política e comunicação. Ou seja, deve crescer como organismo da sociedade civil, encontrando mais nela a sua vitalidade do que na administração do Estado. Este PS deve definir uma linha de rumo com uma ideia central, sim, uma ideia central, em torno da qual se alinharão todas as outras, sem cair nos clichés dos 2.0, 3.0, 4.0 ou até 5.0. Ou seja, o PS não pode hipotecar a sua existência à conquista do poder de Estado, assumindo-se como mero instrumento de gestão do poder, sem garantir todo um mundo que lhe está a montante e que representa a sua própria identidade, a sua origem e a sua razão de ser. A chegada ao poder deve ser consequência de uma prévia e robusta identidade e de uma existência rica de conteúdos e não o contrário, ou seja, reconstruir-se ciclicamente a partir da alavanca do Estado. Porque, na verdade, isso nunca aconteceu nem acontecerá. Melhor: o efeito tem sido e continuará a ser exactamente contrário, com os resultados que se conhece um pouco por toda a Europa.
Política: mudança de paradigma?
A política tem hoje uma nova natureza que os partidos tradicionais ainda não compreenderam. Ou seja, ela está a exigir cada vez mais que seja feita “bottom-up”, a partir de baixo, através de redes de conectividade e de mobilização da cidadania. Aquilo que vulgarmente se designa hoje por populismo tem esta característica que lhe dá força, vitalidade e protagonismo, além da crítica aos seus dois inimigos jurados: as duas castas, a política e a mediática. E a velocidade a que hoje se processa a política aumentou exponencialmente, superando a locomoção orgânica e territorial, devido à existência de poderosos meios de automobilização e de auto-organização que antes não existiam, rede, TICs, redes sociais. Há plataformas que mobilizam milhões de pessoas e que estão fora do sistema de partidos. Cito, por exemplo, a que deu vida ao Movimento5Stelle, em Itália, o Meetup, de proveniência americana e já accionada, em 2004, pelo democrata Howard Dean, ou a poderosa plataforma americana MoveOn.Org, que contribuiu para a vitória de Obama, apoiou Bernie Sanders e movimenta milhões de pessoas. Verifica-se, pois, que a política, em particular à esquerda, deve iniciar uma viragem que lhe permita reocupar a sua centralidade, primeiro, na sociedade e só depois no Estado… mas recomeçando da cidadania!
O discurso de PNS apresenta-se-me, pois, como discurso próprio do velho paradigma em crise. E excessivamente autocentrado na nossa experiência e no seu significado. Que não diminuo. Eu defendi e defendo esta solução porque fez cair um muro e trouxe, de facto, ao compromisso político os representantes de cerca de um milhão de portugueses. Mas não estou fascinado por ela, porque simplesmente representou um acto devido, corajoso e justo, mas devido. Por si, nada mais diz do que isto, porque a sociedade avançará e ditará mais tarde ou mais cedo a sua própria lei, a sua dinâmica e o seu ritmo. Uma política de alianças nunca pode pretender elevar-se a perfil identitário ou a horizonte programático, porque ela se confina à ética e à lógica da responsabilidade, quando do que se trata é de uma ética e de uma lógica da convicção, sim, mas também de uma verdadeira cartografia cognitiva que reconduza o povo da esquerda à política, à representação, à deliberação e aos valores do progresso.
Em suma
É certo que o poder local ainda constitui certamente uma base de apoio robusta, capaz de se constituir como corpo orgânico disseminado pelo território e pronto para uma longa guerra de posição em defesa dos dois grandes pilares do sistema de partidos. Sim! Mas, mesmo aí, se os movimentos políticos não-partidários se organizarem a nível regional e nacional e conseguirem alterar uma lei que é iníqua, acabarão por revelar que hoje também esta é uma base com um grau de mobilidade muito alto, podendo mudar em grande velocidade, como já se verificou em muitos municípios.
Muito falam de democracia deliberativa. E talvez seja um interessante terreno a explorar. Por uma razão: ela permita fazer entrar a cidadania no sistema sem cair da democracia directa, ou seja, mantendo o sistema representativo, mas enriquecendo, enrobustecendo e até integrando o processo decisional através da deliberação pública e resolvendo, assim, em parte, o problema da distância entre a classe política e a cidadania e contribuindo para qualificar o processo decisional e para revitalizar a legitimidade política.
Na verdade, o que se está a verificar é um forte movimento da cidadania e dos continentes sociais que já está a provocar reajustamentos superestruturais que representam uma alteração substantiva da geografia e da geometria política dos países desenvolvidos e que, em inúmeros casos, já representam o sacrifício das soluções tradicionais. O actual caso italiano é bem ilustrativo do que estou a dizer, com a provável formação de um governo centrado no MovimentoCinqueStelle.
É por tudo isto que o discurso de PNS não me convence e não me seduz. Claro, é preciso ir mais além da terceira via, mas também do discurso de PNS, excessivamente colado a uma narrativa que já não é capaz de contar o que está a acontecer nas nossas sociedades e na política. Os congressos constituem sempre boas oportunidades para discutir estes assuntos, mas eu creio que, cada vez mais, eles se celebram essencialmente como rituais de consagração do que como verdadeiras oportunidades de debate.
Sei bem que esta minha conversa ficará por aqui. Mas fica exposta – e não é a primeira vez (veja-se aqui, em joaodealmeidasantos.com, o meu longo Ensaio sobre “Un nuevo paradigma para el socialismo”) – para memória futura.
UM RASTO DE INQUIETAÇÃO…
Ensaio Breve Sobre a Poesia
João de Almeida Santos
Ilustração: “O poeta que gosta do amarelo”. Original de
João de Almeida Santos. Abril de 2018.

“Saber interpor-se constantemente entre si próprio e as coisas é o
mais alto grau de sabedoria e prudência”.
Bernardo Soares
A POESIA É DESASSOSSEGO…
Ou nasce dele. Dá forma à dor, (re)vivendo-a ou transmudando-a em palavras como se fosse a sua notação musical e a sua melodia. Dor? Porquê sempre dor? Porque a poesia, sendo sensitiva, também é privação sensorial, porque vive num intervalo. Ou resulta dela, apesar de ser uma linguagem que é quase um sentir puro… mas em “carne viva”. Quase um comportamento, esteticamente desenhado e cantado… em surdina! “Comporta-te poeticamente!”, poderia ter dito o Hans-Georg Gadamer de “Verdade e Método”! Ou o velho Schiller! Vive a vida assim, sem te deixares ir nessa volúpia devoradora dos sentidos que te pode sugar e engolir a alma e a distância contemplativa. Cria distância, intervalos por onde possas ressuscitar do torpor quotidiano! Não corras demais! A velocidade cega, ouviste? Corre só o suficiente para agarrares a vida pelo seu lado mais denso. Aquele que só podes encontrar em ti. E que entenderás e sentirás plenamente quando te aproximares das fronteiras da existência, desses abismos que ameaçam sugar-te irremediavelmente! Se for preciso pára, não vás logo, impaciente, até ao fim. Se fores, que farás depois? Sentas-te à espera que chegue inspiração para novas metas? Não, porque será sempre ilusório chegar rapidamente ao fim desejado. Se o atingiste, esse fim era falso, era uma miragem! Cria, pois, um intervalo entre ti e a vida para melhor a observares sem deixar de a viver. E deixa-te ficar nele, sem tentações perigosas. Era mais ou menos isto o que dizia o famoso Bernardo. Nesse intervalo podes tocar com as mãos o real e fazer a sua notação poética, convertê-lo numa forma que quase o não é, porque pode dizer tudo com quase nada (de forma). Até mais do que a própria imagem. E se alguém disser que uma imagem vale mil palavras, eu digo que um verso pode valer mil imagens, porque nele a palavra soa a melodia do silêncio… que só pode ser ouvida a partir desse intervalo!
PRIVAÇÃO
Na poesia há privação! Há, sim! É um intervalo denso e intenso entre o que não temos e aquilo a que renunciamos: é vida transfigurada em palavras sincopadas ao ritmo de uma difusa e incontrolável dor interior. Uma moinha que só não te devora porque a vais dizendo melodicamente ao ritmo que te impõe. Com uma paradoxal alegria melancólica! É assim que eu a sinto! Foi assim que a senti desde o princípio. E por isso me deixei ir…
“A arte”, diz Bernardo Soares, “é a expressão intelectual da emoção”. E diz mais: “o que não temos, ou não ousamos, ou não conseguimos, podemos possuí-lo em sonho, e é com esse sonho que fazemos arte”. Sim, o sonho, onde vivo o impossível, onde nunca atinjo a meta, nunca chego ao fim… pois quando estou a atingi-lo, acordo! Irremediavelmente. Lembra-me o Calderón de la Barca e o seu “La vida es sueño”! A arte está lá nesse intervalo por onde irrompe o sonho, sob a forma de palavra, risco, cor, som. Quando nos sentimos orquestra. Que bom sentir-se orquestra, com os sentidos a executarem uma sinfonia! E o compositor mais próximo talvez seja Mahler! Tenho a certeza!
Sonho de olhos abertos, sonho sensitivo, mas com alma sofrida por renúncia ou impossibilidade. Neste intervalo também se constrói a liberdade, sob forma de arte: não me pode ser tirado o que eu reconstruí neste intervalo sofrido, como arte, diria, de certeza, Bernardo Soares. Sim, porque o reconstruí em ausência. E neste estado de privação “nada me pode ser tirado nem diminuído”. Bem pelo contrário, sou eu que lanço ao mundo essa vida revisitada e reconstruída, a partir desse sentimento (doloroso) de privação. Dou música ao mundo. Como dizia o Italo Calvino, nas famosas “Lições Americanas”: “creio que seja uma constante antropológica este nexo entre levitação desejada e privação sofrida. É este dispositivo antropológico que a literatura perpetua”. Diria mais, com ele: a poesia é uma “função existencial” que procura a leveza como reacção ao peso do viver. A leveza dos sonhos a olhos abertos, cantados em palavras e lançados ao vento que há-de mover, como chamamento, as copas das árvores… ou dos arbustos! Ou talvez não!

RENÚNCIA
Comprei, pois, uma nova edição do “Livro do Desassossego” do Fernando Pessoa ou, se quiserem, do Bernardo Soares. Gosto deste livro. Deste Fernando Pessoa. Filósofo, sim, filósofo. Revisito-o com regularidade. Por necessidade interior. Irmanado nessa renúncia que é privação sofrida… à procura de leveza. Que vou encontrando à medida que caminho entre o silêncio e o sonho, movido por palavras, riscos e cores intensas que me vão desenhando e iluminando esta vereda tão estreita da minha vida. E porque compreendi que Pessoa chegou perto dos nexos fundamentais da existência, naquilo que ela tem de mais sublime, de mais elevado. E neste livro anda por lá essa ideia que tanto me fascina, do ponto de vista estético: a ideia de renúncia. Sim, essa ideia de renúncia (ou mesmo de impossibilidade) que, um dia, me pôs em intervalo criativo. Não a do eremita, daquele que foge da vida para se aproximar de deus, da natureza ou da eternidade. Não, essa não, mas a daquele que foge da vida para entrar nela com mais profundidade, compreendê-la e vivê-la numa dimensão que está para além do imprevisível tempo do acaso, do presente efémero e circular, da volúpia orgástica ou império dos sentidos. Claro que não sou tão radical como ele. Nem tão pesado nos juízos. Mas sei bem que só radicalizando poderemos compreender o essencial. Mas não como mero exercício intelectual. Nestas condições, a arte permite isso. Porque não é do domínio do pragmático e do útil. Porque não serve, aparentemente, para coisa alguma, a não ser como adereço. Mas não! Ela serve noutra dimensão. Encontra-se num dispositivo que, sendo universal, procede em registos únicos, com aura. “Subjectividade universal”, diria o Kant dessa extraordinária “Crítica do Juízo”. Assunto tão relevante que, um dia, Schiller, nas “Cartas sobre a Educação Estética do Homem” (1795), haveria de propor um “Estado Estético” que fundasse a harmonia social na educação estética, ou seja, na celebração quotidiana do belo!
SILÊNCIO
É uma grande obra, esta, a do Desassossego. Desta vez li uns textos sobre a relação entre a poesia e a prosa. O Bernardo Soares preferia a prosa ao verso, pela simples razão de ser “incapaz de escrever em verso”. Que era o que eu próprio sentia até há cerca de três anos. Até que se deu o clique. Ao olhar para um arbusto. Uma espécie de “fissão poética”, com libertação de energia criativa e até com potência destrutiva! Ah, sim. Sei bem do poder de um poema! E sei quase tudo sobre quem o não sabe ler como resultado do tal intervalo e fica ao pé da letra! Como se de prosa se tratasse, nem sequer ficcional!
Percebi que o que não é possível dizer em prosa pode ser dito em poesia, sendo também claro que a prosa não tem o mesmo poder performativo. Aumenta o espaço de liberdade e até pode adquirir um carácter substitutivo. E não só porque o poeta é um fingidor que sente pelo menos metade do que diz, fingindo que mente só porque o diz num poema. Ou seja, não só porque a poesia nos torna mais livres. Porque dizemos o que sentimos de forma livremente auto-referencial, embora nesse registo universal com que traduzimos, em arte, o nosso próprio registo sensorial ou a nossa experiência vivida. E, deste modo, porque o que sob esta forma se diz tem a pretensão de ser mais do que o que simplesmente se comunica sob qualquer outra forma: ser simplesmente belo. Indo para além do registo sensorial, denotativo, conotativo ou conceptual. Mas não só por isso. Sobretudo porque é uma linguagem plena que pode dizer quase tanto como o que diz o silêncio. A poesia é a linguagem mais próxima do silêncio. Quase como se fosse só silêncio murmurado, balbuciado, mas composto, musicado, conservando ao mesmo tempo uma dimensão polissémica, sem pretensões denotativas, tal como a música. Mesmo que haja referentes (e há sempre) que nela se possam vir a reconhecer. Mas ela é mais do que isso: aspira a um reconhecimento subjectivo universal, filtrado, claro, pelo dispositivo sensorial de todos e de cada um. A arte, sendo universal, interpela singularmente cada um de nós, através da sensibilidade!
MÚSICA
O Bernardo Soares diz que o verso é uma passagem da música para a prosa. Genial intuição. Ou seja, a poesia não só está entre a música e a prosa como permite a passagem de uma para a outra, sem se transformar em simples meio ou instrumento. Tem elementos de ambas. E vive nesse intervalo com corporeidade própria. Mas julgo ser possível dizer também que entre o silêncio e a poesia talvez esteja a música. A música é a voz do silêncio, porque ainda não diz, mas deixa espaço à poesia para dizer, como melodia cantada, o que é (quase) indizível. E é nesta quase indizibilidade melódica que reside o poder da poesia. É por isso que o silêncio e a música se podem exprimir de forma larvar na poesia, sendo cada poema a borboleta que esvoaça sobre as nossas vidas e a nossa imaginação para interpelar a fundo o nosso pólen, a nossa sensibilidade individual. Sim, cada poema é uma borboleta à procura de pólen…

EM SUMA, UM RASTO DE INQUIETAÇÃO…
É nestes intervalos que o poeta se coloca ao cantar a música da vida. Um canto sofrido, porque fruto do desassossego, da privação, da dor, mas por isso mesmo obra de jograis vadios, nómadas, sempre em movimento, atravessando fronteiras à procura do que nunca encontram e não querem encontrar. E a poesia é o seu modo de comunicar a partir desse intervalo perpétuo em que vivem: em permanente privação. Sem tempo nem lugar. O seus poemas são cantos com que querem encantar para logo partir, deixando um rasto de inquietação, que é ao que de mais belo a poesia pode aspirar. ###
REFLEXÕES SOBRE A EUTANÁSIA
PORQUE SOU A FAVOR DA DESPENALIZAÇÃO
JOAO DE ALMEIDA SANTOS

OUSO DIZER QUE NINGUÉM DEFENDE A EUTANÁSIA. Porque, por princípio, ninguém deseja a morte. Boa ou má que seja. O eros (a pulsão da vida) em condições normais sobreleva o thanatos (a pulsão da morte). De outro modo, estaria em risco a sobrevivência do género humano ou da espécie. Se à ideia de morte está associada a ideia de dor e de fim, às ideias de vida e de reprodução da espécie estão associadas as ideias de prazer e de amor… e uma dialéctica dos afectos. É o princípio da vida aquele exibe argumentos mais fortes. Sem mais. A tal ponto que nas religiões esta ideia de vida é projectada para uma dimensão extraterrena, iludindo assim a própria ideia de fim, a própria ideia de morte. É por isso que quem defende o direito à eutanásia não poderá, sob pena de má-fé de quem o faz, ser acusado de ser apologista da morte. Porque em condições normais ninguém o é. Na verdade, trata-se, aqui, de um caso excepcional, assumido em circunstâncias excepcionais. E como tal deve ser entendido. Com todos os seus ingredientes e não com a linearidade de um pensamento maniqueísta ou de uma qualquer ortodoxia acusatória. Mas vejamos.
DUAS POSIÇÕES
Usando a dicotomia como método de raciocínio, podemos dizer que sobre esta questão há duas posições extremas. A religiosa, que considera a vida um dom divino que transcende a esfera da vontade humana e que, por isso, não concede ao crente liberdade de dispor da sua própria vida e de agir radicalmente sobre essa dádiva transcendente; a construtivista, que considera que a vontade humana é soberana e pode, por isso, sobrepor-se às variáveis ditadas pela sociedade, pela história e pela natureza. É lógica e coerente a primeira posição e, por isso, respeito-a, embora não me identifique com ela. Já quanto à segunda, embora reconheça que muitas conquistas civilizacionais se devem a ela, em muitos casos acaba numa problemática e incerta engenharia social. O tema muito mais difícil e complexo da clonagem – proibida, por exemplo, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia – poderia inscrever-se problematicamente num discurso com estas características. Tal como o da eugenia.
O PAPEL DO ESTADO
Mencionei estas posições apenas porque elas nos permitem ver a questão com mais clareza. Não entro em questões estritamente jurídicas, porque num assunto destes o que interessa é a posição de fundo que se assume. E que terá, naturalmente, consequências jurídicas. Mas interrogo-me se ao Estado cabe produzir uma norma que proíba um cidadão de, em determinadas condições e circunstâncias, decidir livremente pôr termo à sua vida. Interrogo-me se o Estado pode e deve criminalizar, por exemplo, e seguindo a inspiração da Igreja católica, o suicídio. Quem se suicida contraria o carácter inviolável da vida e por isso deverá ser condenado? No além, sim, certamente! Mas, no aquém? Depois de morto? E quem não consegue suicidar-se com eficácia deverá ser condenado por ter atentado contra a sua própria vida? Pondo-o na prisão? Parecem raciocínios humorísticos, mas não são, porque vão ao fundo do problema.
A questão põe-se, todavia, quando alguém é chamado a cooperar, por competência técnica e formal (um médico), na livre decisão, devidamente enquadrada (aqui, sim, pelo Estado, enquanto regulador), de um cidadão pôr termo à própria vida. Se aceitar, esse médico deverá ser acusado por ter cometido assassínio? E se outro se opuser deverá ser acusado por se ter recusado a pôr fim ao sofrimento atroz de um ser humano, a pedido, consciente e fundamentado, dele? No meu entendimento, nem num caso nem no outro deverá haver acusação.
Do que se trata, no caso da Eutanásia, é de clarificar a situação, definindo a posição do Estado relativamente a esta matéria. Não devem os católicos, por exemplo, pedir ao Estado que produza norma, activamente ou por omissão (ficando a eutanásia tipificada como assassínio, subsumida à lei geral), já que os verdadeiros católicos nunca praticarão a eutanásia, por óbvias razões de doutrina e de visão do mundo, não sendo, pois, a comunidade de fiéis afectada pela posição reguladora (que referirei) que um Estado venha a assumir. Mas será aceitável que queiram impor, através do Estado, a toda a sociedade a sua própria visão do mundo e da vida? Não deve o Estado democrático, pelo contrário, ser o garante da livre afirmação de identidades, em todos os planos, político, cultural ou religioso, desde que enquadradas pelo que Habermas designa como “patriotismo constitucional”, ou seja, adesão aos grandes princípios civilizacionais adoptados pelo Estado como sua lei fundamental? Do que aqui se trata é da laicidade da abstenção do Estado para uma livre dialéctica das identidades! Até mesmo neste caso, já que a decisão é remetida para a esfera da liberdade individual. De resto, nem o Estado, numa civilização de matriz liberal, deve intervir numa matéria tão íntima e pessoal como esta, a não ser para proteger precisamente a liberdade de cada um tutelar a própria integridade como entender. Ou seja, o Estado tem o dever de intervir, sim, mas para proteger a liberdade individual da interferência de factores externos à sua livre, racional e ponderada decisão relativamente à própria vida.
O ESTADO E OS DIREITOS INDIVIDUAIS
Considero, deste modo, que a intervenção do Estado em relação a esta matéria deve somente ser reguladora, garantir o direito de cada um tutelar a sua vida ou a sua morte. Alguns Estados, como é sabido, e em alguns países democráticos e civilizacionalmente avançados, usam a pena de morte como punição máxima ou como salvaguarda de um bem superior. Mas lembro o art. 2.º dessa fabulosa “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, de 1789: “O fim de qualquer associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Estes direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”. Este artigo, conjugado com art. 5.º (“a lei não tem o direito de proibir a não ser as acções prejudiciais para a sociedade; tudo o que não é proibido pela lei não pode ser impedido, e ninguém pode ser obrigado a fazer o que a lei não ordena”), leva-me a concluir que, nesta matéria, o Estado somente deverá remover o que possa prejudicar, por um lado, a sociedade e, por outro, a livre tutela do cidadão sobre si próprio, clarificando as condições em que a morte assistida possa ser praticada. Assim, no caso em que um cidadão esteja na posse plena das suas próprias faculdades, mas em condições de insuportabilidade física (mesmo com cuidados paliativos) e de destino irreversível, o Estado tem a obrigação, isso sim, de certificar institucionalmente estas condições, seja do ponto de vista psicológico seja do ponto de vista médico, perante o recurso a assistência médica. A verificar-se que não existem factores exógenos a determinar a decisão, o Estado não deve, nem que seja por omissão, permitir que quem intervenha no processo, a pedido do cidadão em causa, e exclusivamente porque é detentor formal de competência técnica, seja acusado de assassínio. Tal como não deve permitir que quem se recuse, por razões de ética da convicção ou religiosas, sendo detentor formal de competência técnica, a cooperar no acto de eutanásia, seja acusado.
A FUNÇÃO REGULADORA E DE CONTROLO DO ESTADO
Tratando-se de alguém que comprovadamente esteja numa situação de sofrimento atroz, mas incapaz intelectualmente de tutelar a sua própria vida, estando, assim, dependente de outra tutela (por exemplo, familiar), o Estado tem o dever, perante uma decisão desta natureza, de reforçar a tutela dos direitos do cidadão em causa, accionando idóneos meios institucionais de controlo para verificar que não há factores exógenos àquela que seria, supostamente, a sua vontade em condições de plena posse das suas faculdades. A clarificação em causa deverá, no meu modesto entendimento, confinar-se à certificação de que na decisão não intervêm quaisquer factores externos ou exógenos. E nada mais, sob pena de, em qualquer dos casos acima referidos, o Estado estar a entrar na zona protegida de um direito individual inalienável, o da livre tutela da própria vida. Ou seja, defendo sobre esta matéria uma intervenção minimalista, mas reguladora e de controlo do Estado, deixando aos cidadãos a liberdade de accionarem, ou não, os mecanismos para poderem usufruir de uma morte assistida. O que não é admissível é pedir ao Estado que, em nome de uma mundividência, seja ela religiosa ou filosófica, anule a liberdade individual naquela que é a mais profunda e íntima esfera da própria personalidade. A eutanásia não pode ser tipificada como assassínio, porque não o é, e muito menos numa sociedade de matriz liberal onde a tutela da liberdade é um dos mais importantes princípios. E nesta visão da liberdade entram de pleno direito os católicos e a sua legítima discordância relativamente a posições diferentes da sua.
FINALMENTE
Em suma, a minha posição sobre o assunto é, como se viu, ditada pela ideia que tenho acerca da legitimidade da intervenção da sociedade, através do Estado, sobre a esfera individual ou mesmo íntima. É minha convicção que numa sociedade com uma matriz liberal como a nossa esta é a posição mais sensata e conforme a esta matriz.
***
OUTROS ARTIGOS (acesso através do link):





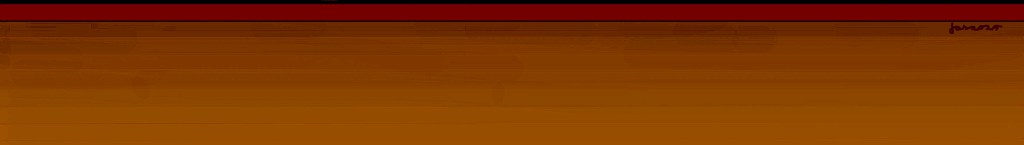



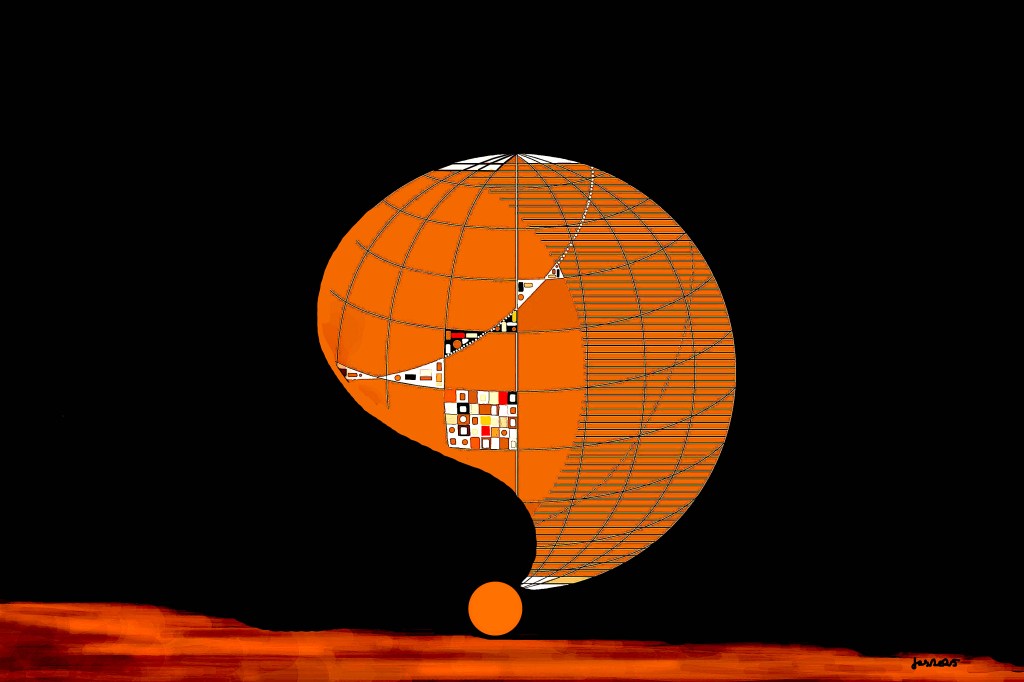
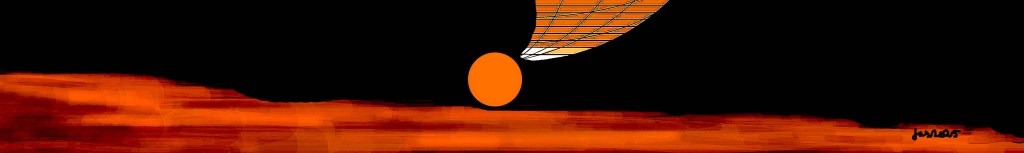

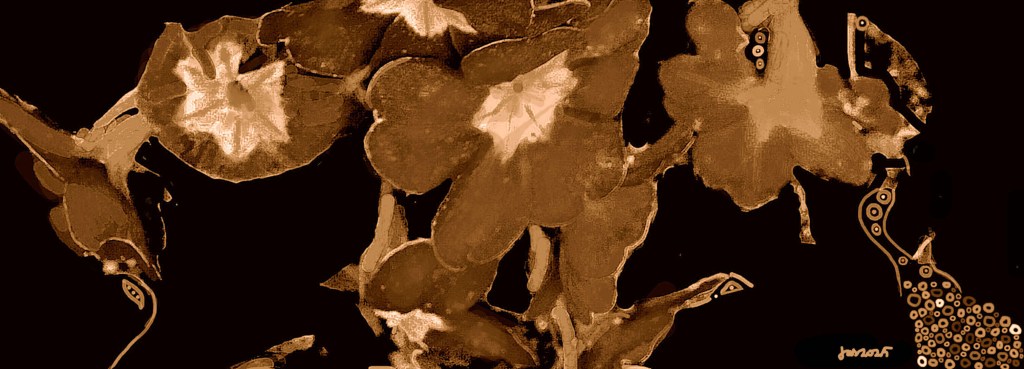


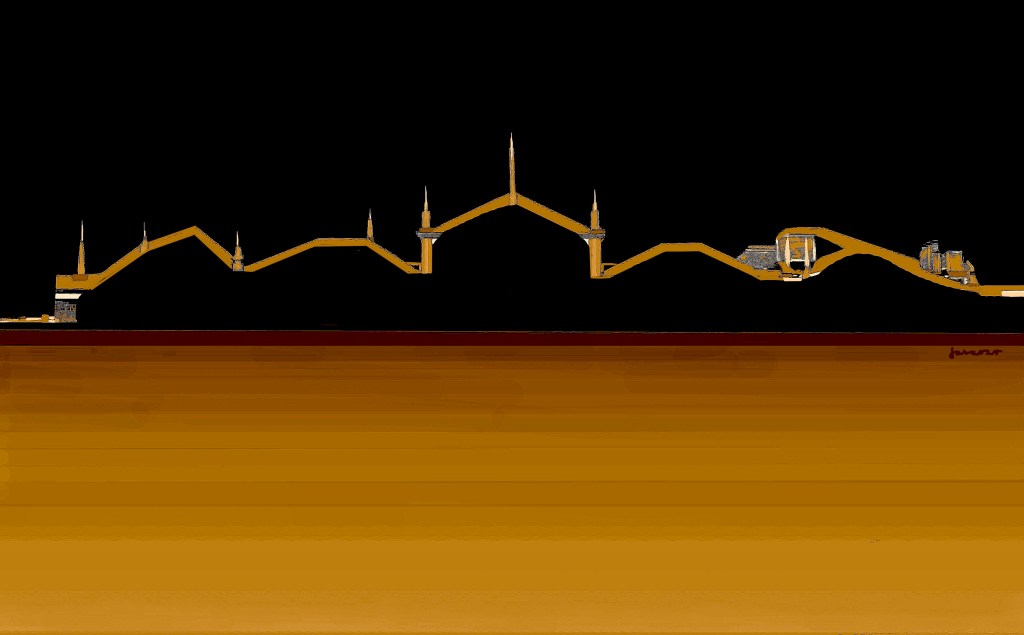
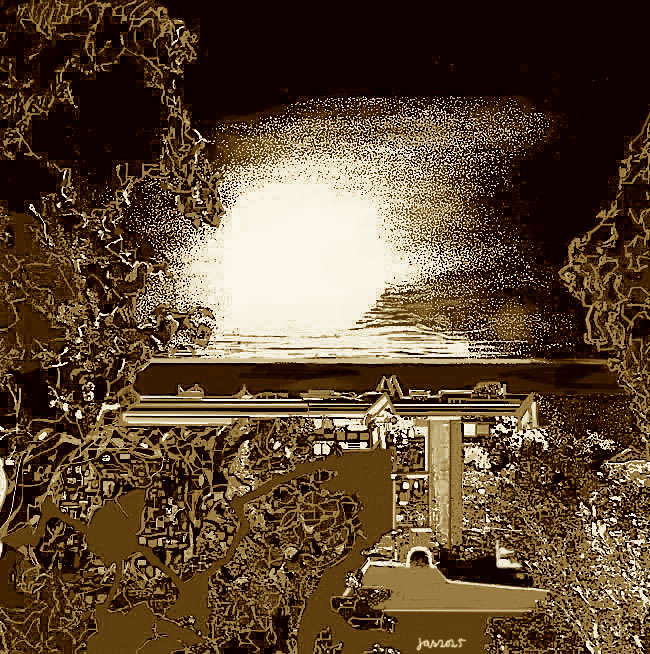







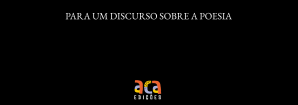

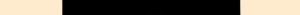



















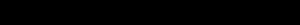





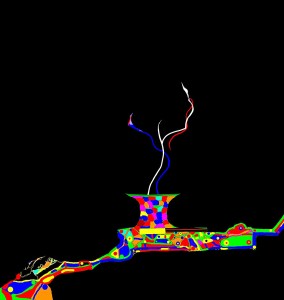


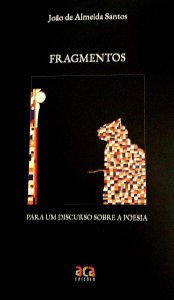

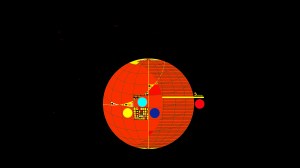








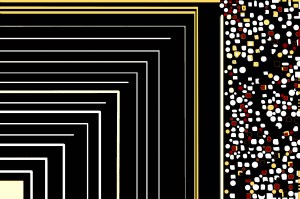

















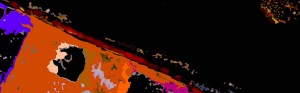


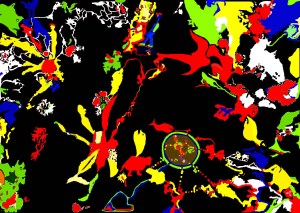








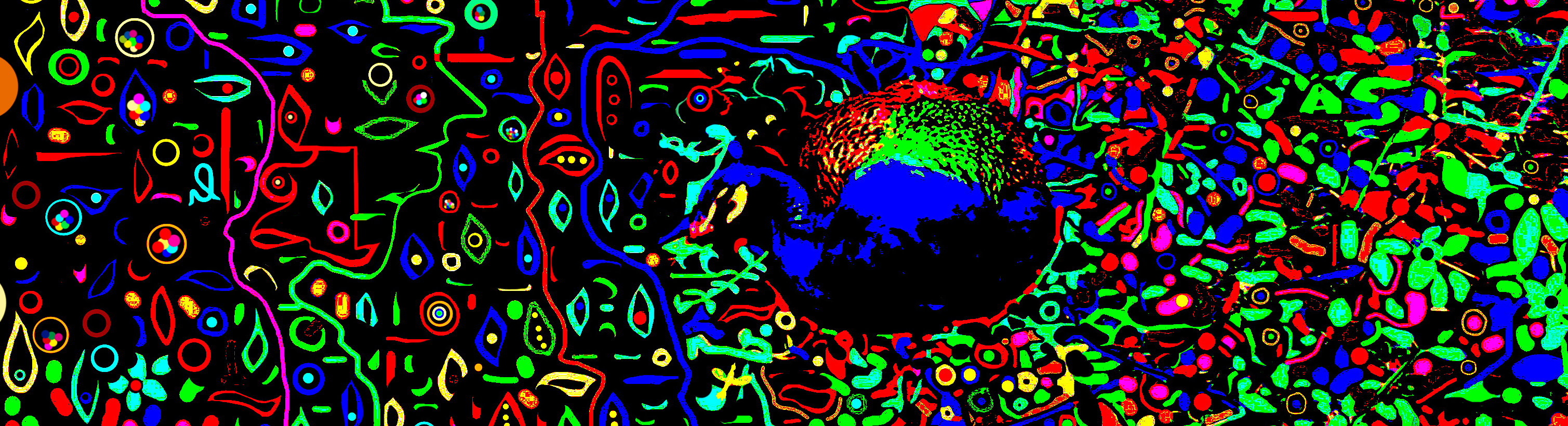






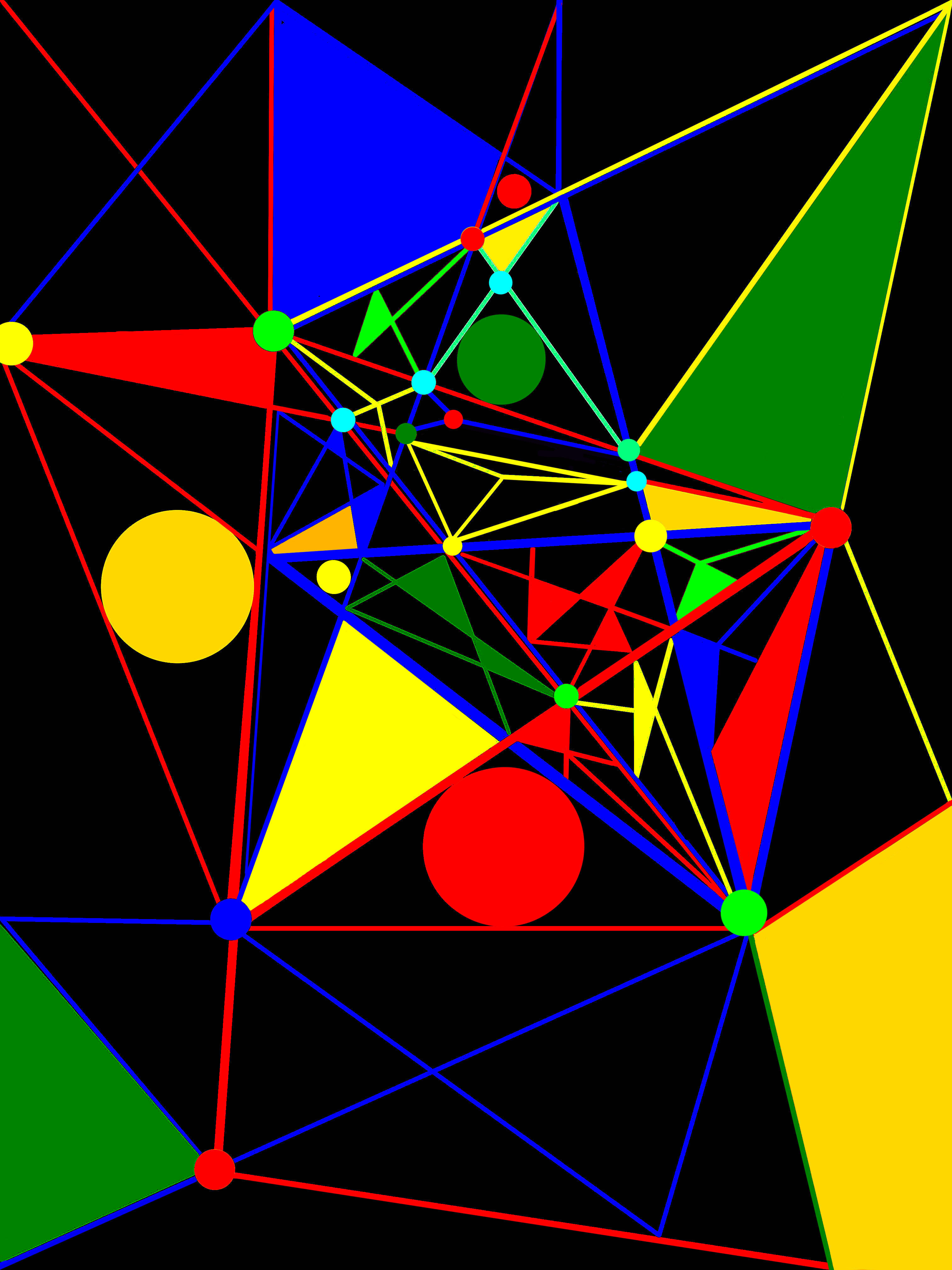
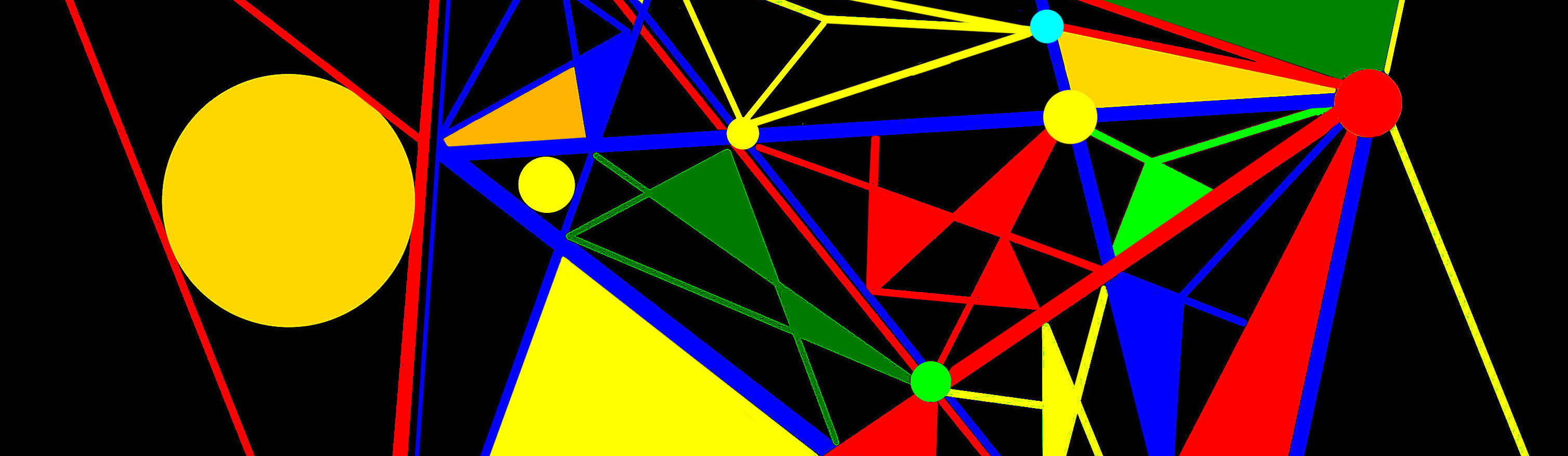

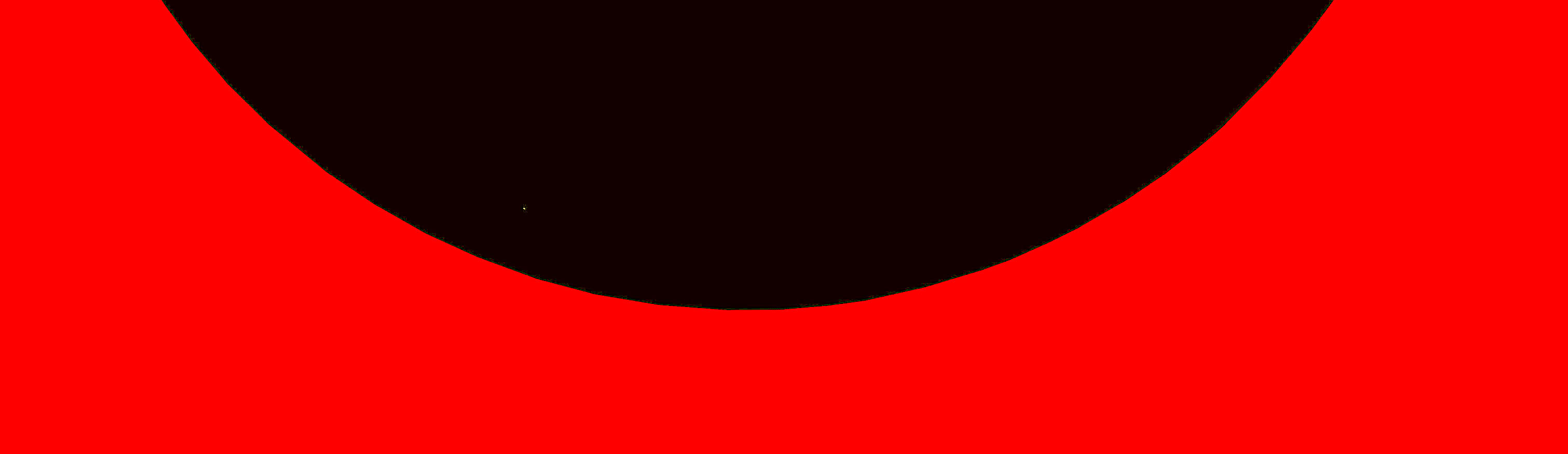
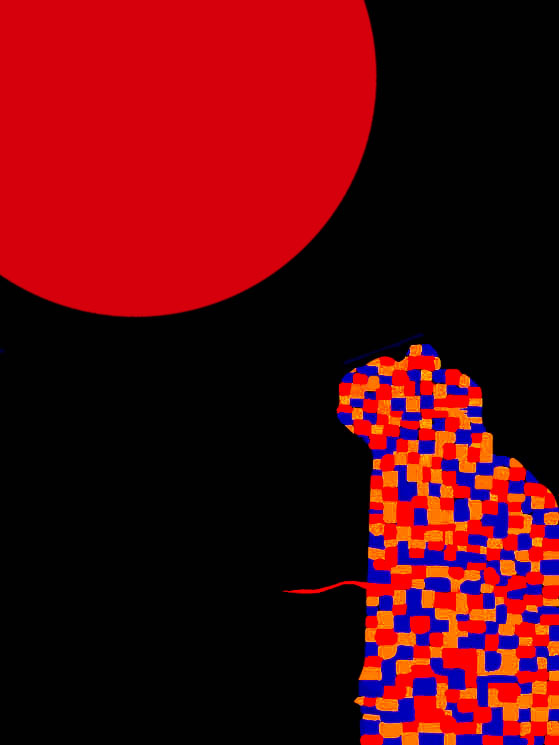

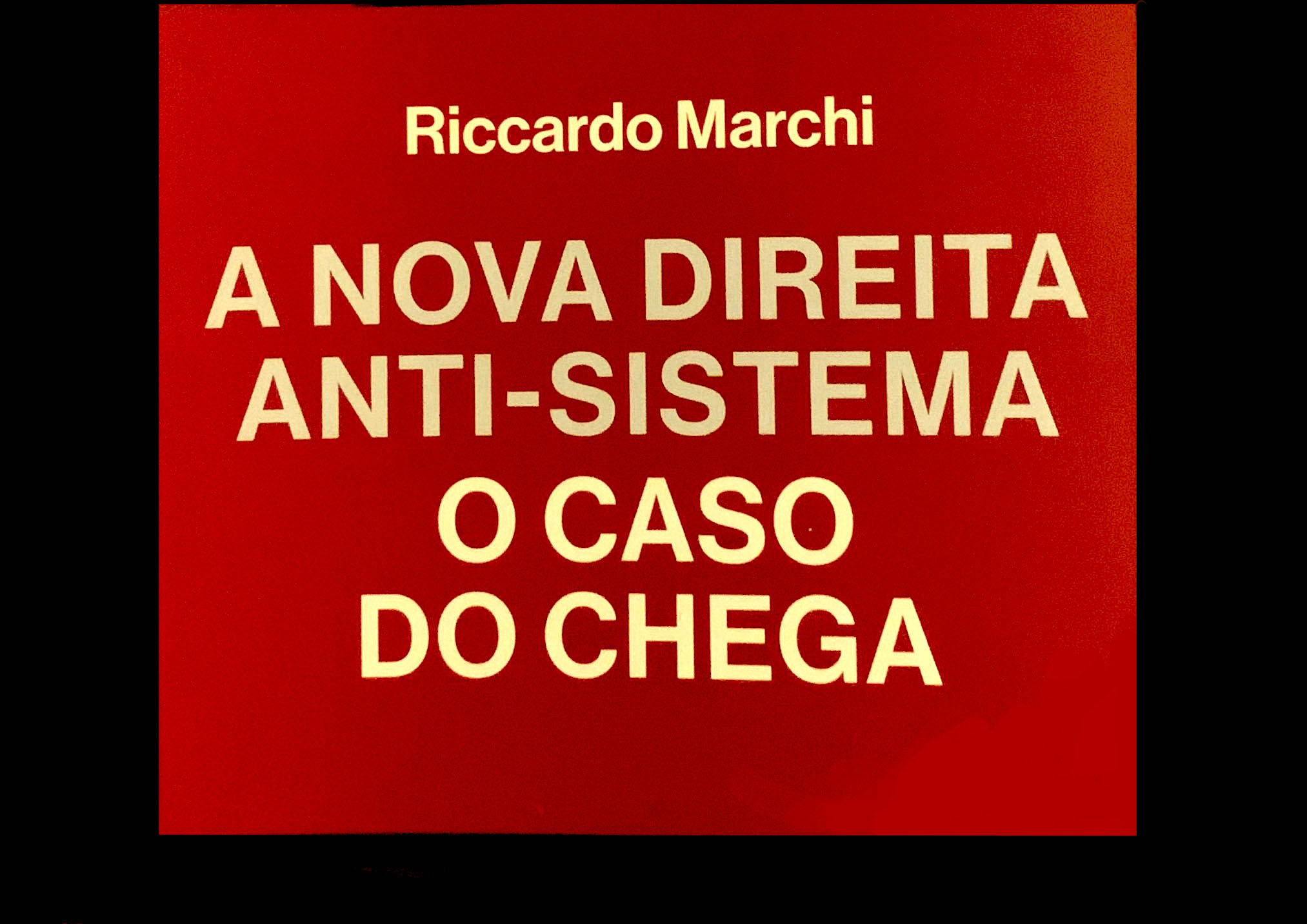





Pingback: Ensaio | João de Almeida Santos