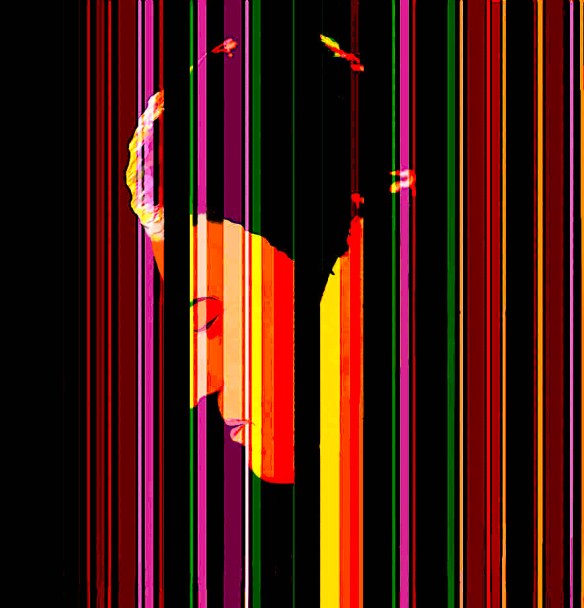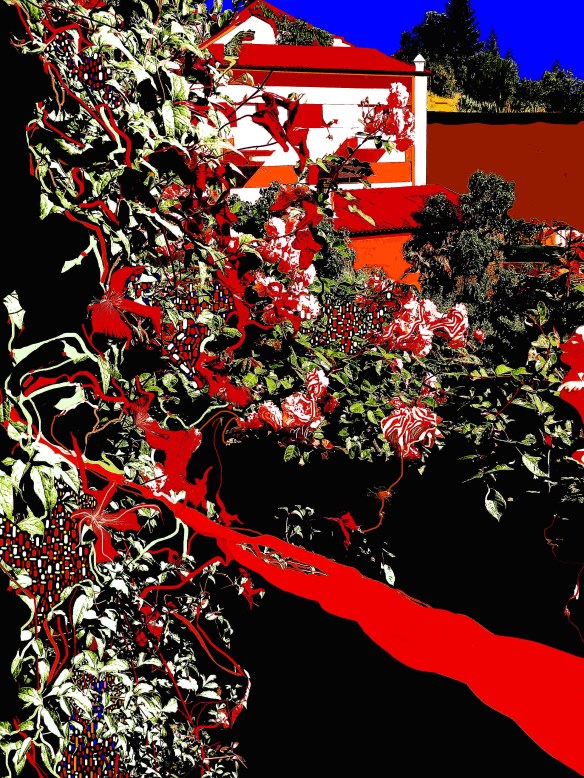A AFRONTA
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 08-2023
TENHO VISTO por aí posições e comentários políticos considerando a declaração do líder do Grupo Parlamentar do PS acerca do veto do PR ao diploma sobre a habitação – a de que a maioria parlamentar o devolverá tal como está – como uma afronta ao Presidente e, portanto, aos portugueses. E até já vi considerar esta posição (por exemplo, Marques Mendes) como uma “declaração de guerra” ao Presidente. Nada menos: guerra.
Esta mesma ideia de afronta também já fora propagandeada quando o PM, instado pelo PR, se recusou a demitir o Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Temos, pois, em circulação, uma nova categoria política: a da afronta. Uma categoria (moral) somente válida para o governo ou a maioria parlamentar, não para o PR. Não, o PR nunca afronta, exerce simplesmente as suas competências e a sua magistratura de influência. Muito bem. Mas, se o governo ou a maioria exercerem as suas, então temos afronta. Ou mesmo uma declaração de guerra. Não é, pois, uma categoria qualquer, esta, a da afronta. É mais, muito mais do que uma categoria política. É a captura moral da análise política. O que diz o dicionário da Porto Editora? “Injúria lançada em rosto; ultraje; desprezo; violência”. Nada menos. O Governo ou a maioria parlamentar, ao exercerem simplesmente as suas competências, cometem violência, ultraje, desprezo em relação ao PR e aos portugueses. Pelo contrário, este, ao exercer as suas competências, não ultraja, não despreza, não violenta ninguém. Um raciocínio em linha com essa subtil e estranha redução da representação política à figura presidencial, como se o órgão legislativo não fosse ele próprio (até pela sua diversidade e riqueza, em especial quando constituído através de sistemas eleitorais proporcionais, como é o caso) a mais genuína e ampla instância de representação política, aquela que verdadeiramente dá a qualificação de representativa à democracia.
I
É claro que o uso desta categoria moral é inadequado se aplicada, como tantos vêm fazendo, à política, ainda por cima quando referida ao regular exercício de competências por parte dos órgãos de soberania. E se a categoria for utilizada sistematicamente, como vem sendo, isso representa um claro abuso de linguagem, uma evidente distorção do significado de um acto político, mas, sobretudo, uma evidente e tendenciosa tomada de posição a favor de um órgão (o PR, o afrontado) e contra o outro (o Governo e a maioria parlamentar, os afrontadores). Tratando-se de maioria absoluta, a afronta ganha densidade: afronta absoluta.
No caso da demissão do ministro: a competência de propor a demissão de um ministro é do PM. Assim sendo, não há afronta. Haveria, sim, desrespeito pelo próprio cargo se o titular abdicasse de exercer as funções que lhe estão cometidas constitucionalmente. No caso da lei da habitação: o Presidente tem poder de veto, sim, mas também o parlamento tem a prerrogativa constitucional de reenviar o diploma intacto, implicando, nos termos constitucionais, que o PR o promulgue (e não está aqui em causa o mérito ou demérito do diploma, que analisarei noutra ocasião). Este dispositivo constitucional dá, assim, primazia, e bem, ao poder decisional do Parlamento. O que, neste caso, há, pois, que evidenciar é o seguinte: não compete ao PR entrar no mérito político de uma decisão do Parlamento se esta não apresentar problemas evidentes de constitucionalidade ou puser em causa o equilíbrio do sistema político. A avaliação do mérito político das decisões do governo ou da maioria parlamentar cabe à oposição e à cidadania, não ao Presidente. O Presidente em nenhum caso, excepto quando esteja em causa o regular funcionamento das instituições, a constitucionalidade ou o sistema político (por exemplo, a separação de poderes), deve assumir-se seja como opositor seja como promotor político das acções e decisões do Governo ou do Parlamento. O instrumento da promulgação não pode ser transformado em arma política de arremesso, de combate aos actos do governo e da maioria parlamentar. Se o fizer distorce o sistema político, onde o papel do PR é sobretudo o de moderador, não parte activa da dialéctica política. Sendo parte, deixa de poder ser moderador. Mas, no caso em apreço, a palavra afronta, a ser utilizada (e não deve), talvez pudesse ser aplicada, não ao Governo, mas ao Presidente, por exceder claramente as suas competências no modo como as vem exercendo. E, todavia, na minha opinião, nem aqui a palavra afronta deve servir para identificar um acto político, seja do PR, do PM ou do Parlamento. Por uma simples razão: as relações entre o PR, o Governo e o Parlamento não são de natureza moral e, por isso, o acto deveria ser qualificado de outro modo: governo rejeita pressão do PR para demitir o ministro; Assembleia discorda do veto do Presidente e reapresenta integralmente o mesmo diploma para promulgação. Normal dialéctica interinstitucional. Não há, pois, fundamento para a condenação moral de qualquer uma das partes no legítimo exercício das suas funções. Isso só acontece nas ditaduras, onde a moral é invocada para a proscrição política e cívica.
II.
Na verdade, a utilização dessa categoria converte a dialéctica política e institucional numa relação moral. A minha convicção é a de que o Presidente, esse sim, tem vindo a extravasar claramente aquelas que são as suas funções institucionais com as suas permanentes injunções (positivas e negativas) em matéria política (sobre o mérito das decisões políticas de outros órgãos de soberania), seja para defender o governo seja para o criticar publicamente, chegando mesmo a substituir-se à oposição ou ao próprio governo, tornando-se um autêntico porta-voz. Por isso, mais parece que estamos perante um novo tipo de populismo, o logopopulismo, sob a forma dominante de telepopulismo – exercício do poder, em nome do povo, através do uso permanente e público da palavra, directo ou por via electrónica (televisiva). A regularidade e a frequência deste exercício presidencial dá ideia de que, embora numa acepção diferente dos restantes populismos, é intencional: ser intérprete explícito do “Volksgeist”, consciência política permanente do sentimento popular, sua voz, vox populi. Parece tratar-se, pois, de uma orientação conscientemente assumida ou, pelo menos, como irresistível pulsão e idiossincrasia pessoal, mas politicamente enquadrada, até pelas características do cargo. E, até certo ponto, tratar-se-ia de uma posição interessante e bastante original, não fosse ela interferir com a dialéctica política entre os principais agentes do sistema – os partidos e os grupos parlamentares. E é aqui que bate o ponto. O logopopulismo do Presidente não é realmente compatível com a democracia parlamentar que temos. Porque a distorce, alterando-lhe a matriz.
III.
Populismos há muitos. Até há o plutopopulismo de Donald Trump. Mas este é novo: um exercício do poder através da palavra presidencial, em nome do povo, sobretudo por via electrónica (televisão, não Twitter), que, contrariamente à generalidade dos populismos, não procura substituir-se, no plano executivo, aos outros poderes, mas tão-só condicioná-los suavemente, através do exercício público permanente do poder da palavra e da própria imagem presidencial (note-se que MRS se refere frequentemente a si próprio, enquanto Presidente, na terceira pessoa). Um populismo soft, bem à medida dos brandos costumes dos portugueses. Tudo, mas mesmo tudo, é por ele descodificado, permanentemente, em público, em linguagem simples e com suporte de imagem, devolvendo, deste modo, a política ao povo, através da sua figura e do seu carisma, e partilhando-a com as instâncias de intermediação (executivo e legislativo). O que encontra uma justificação reforçada quando se trate de maiorias absolutas, como é o caso. Uma virtuosa partilha do poder entre o povo (através do Presidente) e os órgãos de intermediação política. Este exercício tem directos efeitos sobre a opinião pública, por várias razões: 1) o prestígio do cargo presidencial; 2) a presença pública permanente através do púlpito televisivo, em prime time; 3) a plena sintonia com a idiossincrasia mediática (que vê o PR como um dos seus), que se assume tendencialmente (e erradamente) como saudável e legítimo contra-poder; 4) o conforto da oposição política que vê a iniciativa presidencial como reforço argumentativo e de prestígio dela própria, no processo de limitação do poder da maioria absoluta (como se a regra comum não seja a de os governos serem suportados por maiorias absolutas, de um partido ou em coligação). Algo a merecer estudo, não se desse o caso de esta reiterada prática acabar por fragilizar a autoridade dos outros órgãos de soberania (os órgãos de intermediação), num sistema tão delicado como é o da democracia representativa de dominante parlamentar. E é aqui que, no meu entendimento, reside o principal problema. O risco é o de cairmos numa espécie presidencialismo mitigado (interpretado através do logopopulismo), onde nem o presidente (o povo sublimado) tem os instrumentos executivos necessários à acção política nem o executivo e o legislativo conseguem preservar a necessária legitimidade, autonomia, autoridade e estabilidade, sujeitos que estão a uma sistemática e disruptiva intrusão política por parte de um órgão de soberania com o valor simbólico da Presidência (precisamente, o povo sublimado). Quem acaba por pagar um alto preço será a própria democracia representativa e a própria autoridade do Estado. O que é particularmente grave num período em que se vive uma grave crise de representação.
IV.
É para mim evidente que este logopopulismo alimenta um clima de desafeição da opinião pública em relação à dialéctica política do sistema, desviando para a Presidência a sua atenção/afeição e a sua cumplicidade (crítica), em desfavor das instâncias de intermediação, que se tornam ainda mais fungíveis. Prova disso é precisamente esta tendência de desvio da lógica política para a esfera moral: têm sido insistentes e reiteradas as leituras políticas centradas na afronta (ou mesmo como “declaração de guerra”) como categoria central das relações institucionais sobretudo entre o executivo e a Presidência. Afrontar o Presidente é afrontar o povo, é este o sentido que daqui resulta. Uma condenação moral, sem apelo nem agravo. Um desvio que agrava ainda mais a situação, provocando, isso sim, um crescente desgaste de um sistema que já não goza de boa saúde. Este populismo soft à portuguesa, parecendo dar voz à soberania confiscada do povo, o que faz, como, aliás, todos os populismos, é minar os alicerces da democracia parlamentar, designadamente a autoridade dos principais órgãos de soberania, ainda que de forma aparentemente suave ou doce e até original. O que é muito estranho por ser interpretado por alguém que se doutorou com uma tese sobre direito constitucional. E não creio que o problema possa ser resolvido somente com a alteração constitucional do figurino presidencial, designadamente com a eleição do Presidente por um colégio eleitoral. Do que se trata é mesmo de uma concepção de política que, de certo modo, põe em causa a matriz do sistema político. Mas, ao que parece, esta é uma tendência que tem vindo a tomar conta da agenda política, dos identitários aos populistas.