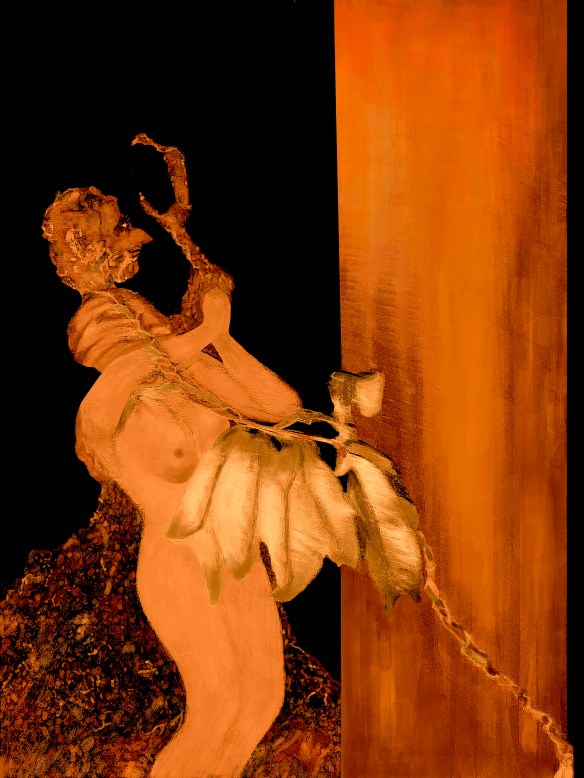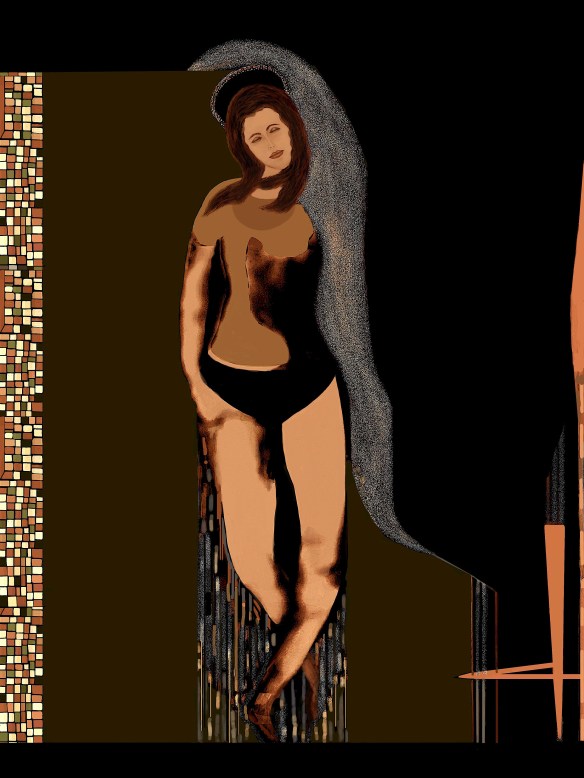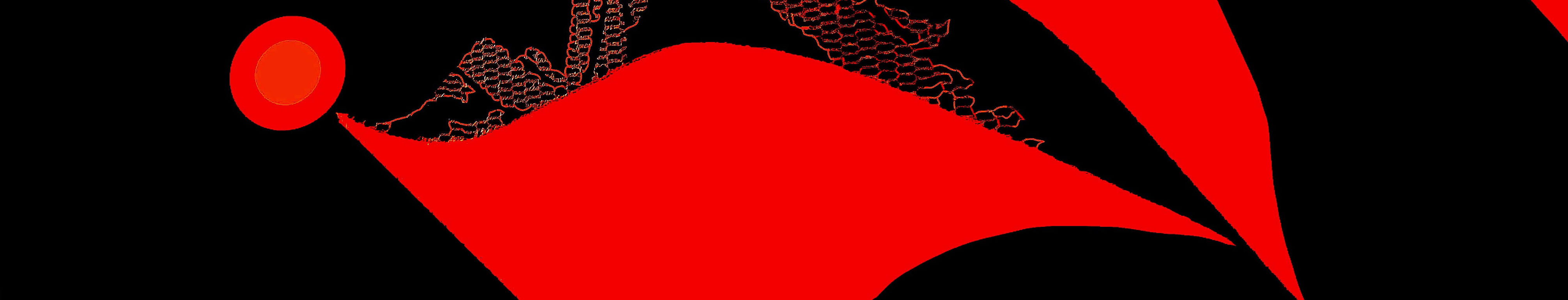NOTAS DE LEITURA
Lídia Jorge
"A Costa dos Murmúrios" e "Misericórdia"
(Impressões)
Por João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS. 10-2023
NOTA PRÉVIA. Habitualmente faço notas de leitura sobre os romances e poesias que leio. O objectivo não é a publicação. É um simples registo para ulteriores reflexões. Foi o que aconteceu com “A Costa dos Murmúrios”. Mas, quando li “Misaericórdia”, acabei por decidir publicar este artigo sobre as duas obras. São impressões subjectivas de um leitor, livres e sem pretensão de se apresentarem como recensão dos dois livros.
1.
Li o romance “A Costa dos Murmúrios” (2002), de Lídia Jorge. Sentimentos contraditórios: uma escrita de alto nível, mas com valor cognitivo de menor intensidade, em parte devido à colocação e à opção da escritora, não questionáveis, mas também, ou sobretudo, devido à própria natureza da composição, à construção literária da narrativa, à composição frásica – dança frenética e algo libertária das palavras. Um estilo que mantém em “Misericórdia” (2022), ainda que num registo não tão rico e num contexto mais definido, um lar da terceira idade, a que chamou “Hotel Paraíso”, título que já indicia um objecto literário lúgubre, porque alude àquilo que em italiano se indica com a palavra “trapasso”. “Il trapasso”, a passagem para o além.
2.
Para mim, a arte tem um alto valor cognitivo, embora não de natureza analítica. É uma relação diferente com o real, onde a forma tem elevada autonomia, valor próprio, expressividade estética autónoma. A arte é autopoiética, expande-se por dentro, como nos sistemas, mas nela há sempre (disso não tenho dúvidas), e aqui também há, um referente com dimensão ontológica, com valor existencial (claramente identificável). Até porque ela responde a um apelo interior, a uma exigência ou mesmo a um imperativo existencial, àquilo que os gregos designavam por pathos. No caso dos dois livros de Lídia Jorge isso acontece, porquanto representam duas realidades presentes intensamente na sua própria história pessoal, África (Moçambique) e sua Mãe, que lhe terá pedido que contasse esta história (a sua, a da Mãe, ficcionada). Se não houver pathos, na origem da obra de arte, o mais provável é que se fique no domínio do puro virtuosismo, da pura retórica estética. Que pode ser bela, mas não deixa de ser retórica. Da forma pela forma. Pecado mortal. O excesso de virtuosismo, exibido obsessivamente, estraga a obra. É aqui que bate o ponto. Talvez o pecado da escritora, que vence muitos prémios, seja precisamente este. Não sei.
3.
Foi uma leitura quase sem interrupção, esta, a de “A Costa dos Murmúrios”, mas com algum esforço, pela curiosidade em conhecer aquela que alguns consideram ser a sua melhor obra, e não tanto porque a força sedutora da narrativa me impedisse de parar. Pelo contrário, a leitura exigiu empenho, esforço e vontade. Como, de resto, acontece com as obras culturalmente exigentes. Neste caso, de linguisticamente exigentes. A escritora tem um domínio da língua notável e, neste livro, esforça-se por demonstrá-lo à exaustão, tratando-a com um imaginário linguístico exuberante, a ponto de frequentemente as proposições ficarem viradas para si próprias e sem densidade semântica, quase em registo de deslumbramento narcísico ou especular, auto-referenciais, não tendo, aparentemente, sentido ou significado visíveis. Poderia dar inúmeros exemplos, mas não vem ao caso. Nem sinto que valha a pena. Talvez seja limitação minha. Além disso, o livro parece-me mais uma sequência ininterrupta de luminosos flashes, em linguagem intensiva e obsessivamente desenhada, inspirada no ambiente colonial da Beira no período em que a luta pela independência já começara em Mueda, no norte de Moçambique. O ambiente descrito, de retaguarda familiar da frente militar, tendo certamente referências reais, é descrito num plano elevado de evidente fantasia onde a linguagem usada para o efeito não conhece limites de ordem semântica ou, diria, de retórica estética, para não dizer de exibicionismo linguístico. É a história de um hotel destinado a futura ruína pós-colonial e de dois personagens, o jornalista e Evita/Eva, cuja história se dissolve nos intermináveis flashes e personagens (como Helena de Tróia) com que a autora tece e entretece a narrativa. Brava a desencantar nomes sugestivos. Até neste ambiente triste e de fim de ciclo do “Hotel Paraíso” – Dona Luísa de Lyon…
4.
Linguagem riquíssima, sem dúvida, mas ao serviço de uma neblina semântica excessiva e de uma história fragmentária e algo impressionista. Sim, impressionismo parece-me ser o termo certo para qualificar a textura de toda a narrativa. Trata-se, sim, de um ambiente colonial de retaguarda da guerra que a autora conheceu e viveu em primeira pessoa, com descrições paroxísticas que pintam de cores intensamente carregadas, e com traçado no limiar do fantástico, o real vivido e experienciado em primeira pessoa. É uma espécie de texto-aguarela, as palavras fluem e escorrem livremente quase libertas de uma qualquer semântica até encontrarem um traço-fronteira que as sustenha, para fixar a forma. Neste sentido, é uma bela obra. Escrita com a lógica mais do pincel do que da caneta. Há certamente muito de autobiográfico, metaforizado e filtrado pela neblina ou as cores carregadas de uma memória em fuga onírica. Ou mesmo de um deslumbramento linguístico auto-referencial. Daqui talvez a aparente nebulosidade do texto. O problema é que a linguagem intencionalmente rebuscada, combinada com um intenso impressionismo semântico nos deixa um pouco insatisfeitos quanto ao valor quer cognitivo, e até estético, da obra, por excesso de peso e de excessivo emaranhado linguístico. É uma obra que acrescenta peso (o gongorismo linguístico) ao já insustentável peso do viver, em vez de leveza. A textura linguística pesa demasiado sobre uma trama um pouco incerta (é a palavra) e de incerto destino. Talvez a culpa seja do desejo de criar uma obra intensamente trabalhada do ponto de vista da linguagem como estratégia estética dominante, descurando a dimensão cognitiva, semântica, referencial.
5.
Estamos no domínio da arte, sim, e estamos numa arte onde o seu meio expressivo é a palavra, também, mas não é seguro que uma boa obra literária tenha que ficar encerrada em exercícios linguísticos rebuscados, em fuga do real e em direcção ao onírico, num certo gongorismo descolado do real, que descurem, por exemplo, a densidade existencial das personagens, a clareza da trama ou a evolução progressiva para um “gran finale”, que aqui não acontece, ou um regresso ao ponto de partida, que também não acontece. É um romance-aguarela, sim, mas sem a suavidade da tinta matizada pela água que flui numa folha branca de papel à procura de um risco que a trave.
6.
Um “gran finale” é o que em “Misericórdia” também não se encontra. Bem pelo contrário, o que se encontra é um final mal resolvido. Sim, é o que me parece, que me perdoe a autora. Não diria um “finalaccio”, como se diz em italiano, mas talvez um final apressado, apesar das (ou, então, não obstante as) 463 páginas. Mas aqui com regresso ao ponto de partida, sim, pois dá-se um reencontro com a noite, essa habitual frequentadora, saída das paredes do seu quarto, das noites da narradora, Alberti, e, ao que parece, fatal. Não se sabe bem. A noite parece simbolizar a morte, a ameaça permanente da morte que a visita e à qual ela vai resistindo como pode. E um dia quase ia cedendo. Mas sobreviveu.
O livro chama-se, sim, “Misericórdia”, mas nele tudo se encontra menos misericórdia, a não ser a filial compaixão (pelo menos, pelo destaque dado a sua Mãe na narrativa). Misericórdia disse eu quando acabei de ler este livro um tanto deprimente, que só não é totalmente triste porque as divagações da narradora em torno das personagens são literariamente ricas, a ponto de sermos tentados a ver na narradora uma identificação com a própria autora, sem distanciação, pois aquela, não se sabendo bem quem é e o que fazia na vida, tinha reflexões e fantasias de uma riqueza que só a autora, a filha, escritora, poderia ter. A Mãe é aqui uma clara projecção da filha, da imaginação da filha, ou seja, da autora. Não há diferença assinalável. Os seus diálogos sobre a literatura são um modo de a autora expor o que pensa da literatura: fazer amor com o universo. O problema: a Mãe é mais a filha do que a Mãe propriamente dita. Falta a construção da diferença, sobretudo no exercício da imaginação. A Mãe não podia escrever e parte durante a acção, logo, é a filha/autora que, entrando-lhe literariamente na identidade, se converte nela e se transforma ela própria em narradora. Falta, na minha opinião, uma identidade claramente traçada da personagem principal que possa suportar a narrativa. Só por dedução, a partir do que diz, se pode lá chegar, ainda que insuficientemente. O imperador Adriano todos sabemos quem era (não digo por acaso). A sua Mãe, não. E Alberti ainda menos.
7.
“Hotel Paraíso”, um nome pouco misericordioso porque indicia que quem lá vive está já a caminho do além e com consciência disso mesmo. Trágico. O fim, sem retorno. E esse é o território onde tudo acontece. Com pessoas, demasiadas pessoas, sempre a partir e rapidamente, uns a seguir aos outros. Com a narradora, que tentou, sem o conseguir, antecipar, numa dura luta entre o seu corpo e a sua alma, a própria partida, a ver, impotente, os desenlaces. Acamados ou semi-acamados e muitos imigrantes a tratarem deles. Um rodopio entre os corredores e os quartos do Hotel. Passos que se ouvem nos corredores, figuras que entram e saem dos quartos como se tudo se passasse quase na clandestinidade. Um jogo de sombras. A acção a decorrer numa permanente penumbra. Uns que se vão e outros que chegam. E episódios infantis e quase grotescos como animação. De velho se volta a menino, já se sabe. A sessão de fotografias que Alberti recusou perante um cruel fotógrafo que só registava o negativo, como já antes acontecera. Uma violência que Alberti, e bem, recusou. Um retrato impiedoso do que se passa nos lares. Isso é verdade. Em período de pré-Covid, que, chegado, haveria de acelerar as partidas, de acabar com o Hotel e… com o romance. O final dá-se em forma um tanto apressada e sem contexto que o prepare, a não ser a chegada do Covid. É um livro tristonho, próprio de uma narrativa sobre um lar de terceira idade, que procura pintar e ilustrar. Mais pintar do que descrever, a não ser pelo ambiente deprimente e deformado de um lar que mais parece um corredor da morte – Hotel Paraíso. Pelo meio, a autora vai exercitando a sua imaginação literária, com abundante riqueza de vocabulário, isso é verdade, confirmando o que já se vira, de forma muito mais intensa, em “A Costa dos Murmúrios”, mas sem grandes e profundas reflexões sobre a vida. Claro, pintar a vida num lar de terceira idade (que expressão estranha, esta; melhor em espanhol: los mayores) é já reflectir sobre a vida na sua etapa final. A vida é pintada na sua fase de decadência, a caminho do além, sobre personagens cujo perfil no essencial é pouco ou nada determinado. Identificam-se vagamente pelos episódios que acontecem e pelo modo como participam neles. A própria narradora tem esse perfil e mais parece identificar-se e esgotar-se nos exercícios criativos da autora, nos 78 fragmentos (o livro é uma composição de fragmentos referidos à vida no interior do lar). Não se apresenta ao leitor, a narradora. Surge-nos num posto de observação privilegiado, que condiciona toda a narrativa sem exibir substantivamente uma distanciação relativamente à autora, a não ser nalgumas diferenças que exibe relativamente a ela. Toda a narrativa evolui em nebulosa, sem grande clareza analítica ou aprofundamentos – são episódios, quase flashes, que se sucedem uns aos outros, mas não numa lógica progressiva. Procede por fragmentos, por episódios. O livro até poderia ter o título de “Memórias de Alberti” (imaginadas pela filha), recordando-nos o Imperador Adriano pela pena de Marguerite Yourcenar (ver pág.s 41 e 110). Mas a Yourcenar é diferente – lidos os seus livros aumenta a dimensão do nosso conhecimento. A sua é matéria que não se identifica com as migalhas que caem da mesa da história ou de um lar. É só ler a “Obra ao Negro”, o ambiente em que florescem o hermetismo, a alquimia, os rosacruzes. O que não se encontra aqui é um desenho rigoroso do perfil das personagens. Nem sequer do da narradora, a senhora Alberti. É um livro um pouco deprimente, onde tudo está sujeito a decadência, a desilusão, a queda anímica e física, a desistência, a morte, aos episódios menores de vidas em clausura que tudo, o mais trivial, agigantam. Mas essa foi a opção da escritora, pelos vistos a pedido de sua Mãe, que terá vivido num lar, digo eu. As personagens vão desaparecendo abruptamente, levadas pela noite que tanto atormenta Alberti, desde o início do livro até ao fim, mesmo ao fim. Algumas personagens internas ficam suspensas na narrativa, mas pode-se imaginar que a Covid as tenha levado, a todas, sem excepção (excepto os colaboradores).
8.
Creio que a autora tenha querido desenvolver exercícios de imaginação a partir de um lar com dezenas de internos, mais do que entrar a fundo na psicologia e nas angústias existenciais das personagens, densificando-as. Pelo contrário, permanece no natural agigantamento de questões supérfluas devido à clausura e sobre as quais viajou a sua imaginação literária. As questões revelam-se à medida da identidade das personagens, bem como à da sua própria circunstância – a vida num Lar com o lúgubre nome de “Hotel Paraíso”. Claro, há acenos a isso, através de exercícios de fantasia, mas para logo passar à frente.
Numa palavra, entra-se no livro e sai-se de lá tal como se entrou, somente um pouco mais deprimido e sem se ter retido em particular um personagem que nos atenha atraído. Mesmo a narradora, pois tudo é muito nebuloso, ficando até a sensação de que a autora se preocupa mais em divertir-se com as palavras do que em viajar com elas até ao fundo da alma humana. As palavras batem asas e voam para paragens oníricas. Compreendo. Estas personagens são menores, são migalhas do banquete da vida. Partindo de um ambiente fortemente realístico e existencialmente denso, o que, depois, acontece é uma dança de palavras (“a tristeza, com sua anca larga”, pág. 151) que obedece mais à música interior da autora do que à valsa da vida em circunstâncias de fronteira, ainda por cima em situação de perigo e de risco. Até me parece que a autora é vítima da sua própria fantasia – a sua força é também a sua fraqueza. Aqui, como já o fora em “A Costa dos Murmúrios”.
9.
Não sei se a narradora é a Mãe e a autora a filha e se o Hotel Paraíso é o lar em que a Mãe esteve a viver nos últimos anos de vida. Mas é plausível uma resposta afirmativa, até pelo que a autora diz na nota final (exterior à trama). Claro, o meu horizonte só pode, deve, ser o do livro.
Confesso que, mais uma vez, e isso já acontecera com “A Costa dos Murmúrios” (mas esse livro é muito melhor), terminei o romance (onde não há uma história de amor, mas tão-só uns aludidos fogachos sexuais da Dona Joaninha) com dificuldade, não só pela sua dimensão (463 páginas; para se lembrar que Baku é a capital do Azerbaijão, Dona Alberti leva 79 páginas, um excesso), como pela sua textura fragmentária, que, no essencial, evolui por episódios que valem por si e que não empurram o leitor para a frente. Claro, sempre no mesmo ambiente, com a mesma narradora e alguns outros personagens que povoam desde o início a narrativa (Lilimunde, Dona Joaninha, a Administradora Ana Noronha, por exemplo). Não digo que não haja matérias sérias em discussão: crítica violenta à televisão, uma conversa interessante sobre saber se se deve escrever sobre os que fazem História ou sobre os que vivem das migalhas daqueles (“eu não me sento à mesa dos que fazem a História”; “eu sou um cão da História” – pág.s. 113-117), o Brexit, até a Covid do Boris Johnson, uma alusão a Einstein. Ah, sim, mas, afinal, a filha autora também diz que faz amor com o universo (pág. 162), num estatuto que só pode ser bem superior ao de um cão que vive das migalhas da história ou que se põe à escuta por baixo da mesa dos que a fazem. Mas a verdade é que só fazem amor com o universo os grandes, os que são capazes de o emprenhar, ou os que se dissolvem nele, como os ascetas.
10.
Sabe-se que o Hotel Paraíso é perto do mar. E fica em Portugal. Nada mais se sabe. O edifício não é descrito e a paisagem em que se inscreve também não. O Centro é a narradora, embora não se saiba o que fazia na vida (sobre o seu mundo ver, por exemplo, a pág. 170), mas mesmo essa mais parece a voz da autora projectada na Mãe do que uma concreta personagem. Sim, acho que sim, embora a senhora Alberti se materialize no gosto pelas flores e cheiros, sobretudo ao da recorrente bergamota (pág.s 121-122; 132), o perfume da Lilimunde. Coisa concreta, portanto. A bergamota como projecção do olfacto e do gosto de Dona Alberti. A maior parte dos episódios é, no seu conteúdo, banal. Por exemplo, o das formigas. Os comportamentos das personagens são expostos sem grande preocupação de ir ao fundo com uma caracterização que não seja superficial – o que foram na vida (mas nem sequer a da personagem principal) ou umas características físicas, por exemplo, a cor dos lábios do senhor Sargento João Almeida ou o que haveria de ficar na eterna memória de Dona Alberti por este lhe ter escrito um banal bilhete a dizer que tinha tudo o que lhe servia no telemóvel e que mandasse sempre. Uma extraordinária história de amor (pág. 156) que atormentou a senhora, mas na qual é difícil entender a fixação da Dona Alberti e o pavor de perder o bilhete do sargento. Não sei, porque em situações de clausura forçada tudo se agiganta. Até um banal bilhete de cortesia. Mas, aqui, parece-me que são agigantamentos em demasia.
11.
Tudo isto são impressões. Não académicas. Muito centradas no que eu entendo ser a arte. No que são as minhas expectativas quando leio um romance, uma poesia, ouço uma peça. musical ou vejo um bailado. Por exemplo, não gosto de bailados em que os bailarinos se arrojam pelo chão. A dança é levitação, leveza, rapidez, exactidão. Na literatura valorizo o conteúdo, a informação e não somente a beleza formal, o virtuosismo linguístico. É claro que a arte é beleza formal, talvez mesmo antes de ser comunicação sobre o essencial da natureza humana, mas o que distingue a grande literatura, o romance ou a poesia, é a viagem ao mais profundo e universal do ser humano, a densidade das personagens e a riqueza dos contextos em que se movem, em que ocorre a acção. Aqui, em “Misericórdia”, a densidade da narrativa é induzida pelo ambiente em que decorre a acção: “Hotel Paraíso” – hotel, aqui, paraíso, no além. Lugar de passagem e fronteira. Precisamente: “trapasso”.
12.
É minha convicção profunda que quando acabamos de ler um romance devemos sentir que ficámos mais ricos do quando entrámos nele, sendo também certo que isso ganha em intensidade com a beleza da forma, a precisão da linguagem e a sua leveza. E nisto revejo-me na proposta do Italo Calvino das “Lições Americanas”: visibilidade, rapidez, leveza, multiplicidade, exactidão e consistência. São estas as categorias que gosto de reconhecer num romance ou numa poesia. Não falou, no livro a que me refiro, do valor da categoria consistência, que, todavia, estava prevista. Eu vejo neste valor precisamente a centralidade do valor cognitivo da narrativa e a densidade das personagens. Beleza formal, sim, imprescindível numa obra de arte, mas também relação densa com o real: consistência.
13.
Nas duas obras esta última característica está claramente subordinada à primeira, mas não sei se essa é uma característica idiossincrática da autora, porque só conheço estas suas duas obras.
14.
Esta reflexão é simplesmente uma consideração pessoal que não aspira a ser demonstrada numa tese de doutoramento ou perante referees encartados. É simplesmente uma expressão de liberdade na dialéctica e no intercâmbio culturais de quem também se arriscou a entrar, como produtor, em vários campos da arte (romance, poesia, pintura; esta última também aqui a exerci, propondo um perfil da autora) para além da sua própria área intelectual de conforto e profissional. Essa, naturalmente, muito mais vasta. JAS@10-2023

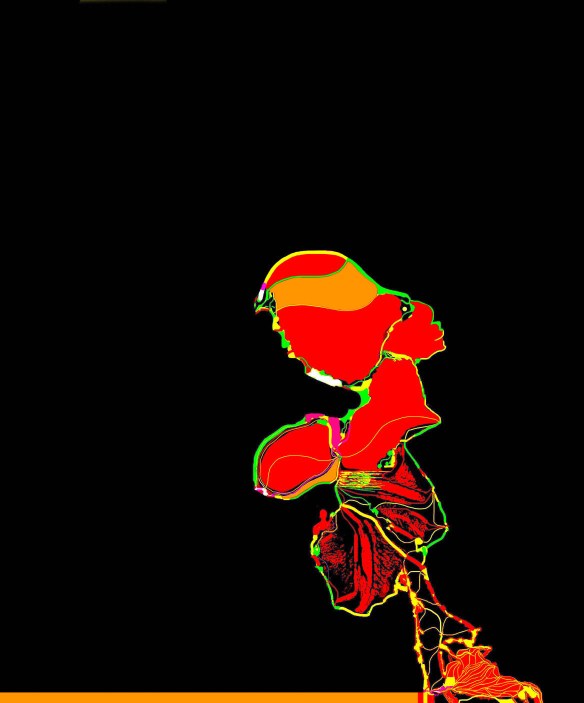




![FCO 308 - Israel Travel Advice [WEB] Ed4](https://joaodealmeidasantos.com/wp-content/uploads/2023/10/jas_israel_1jpg.jpg?w=584)
![FCO 308 - Israel Travel Advice [WEB] Ed4](https://joaodealmeidasantos.com/wp-content/uploads/2023/10/jas_israel_1jpg-copia.jpeg?w=584)