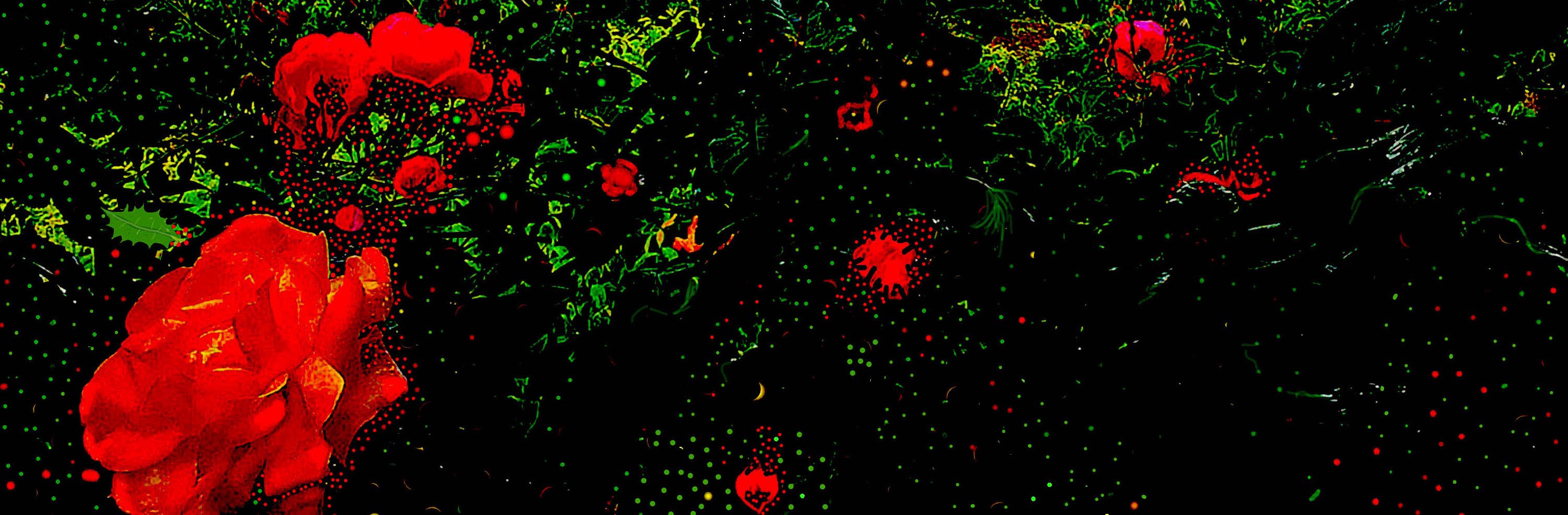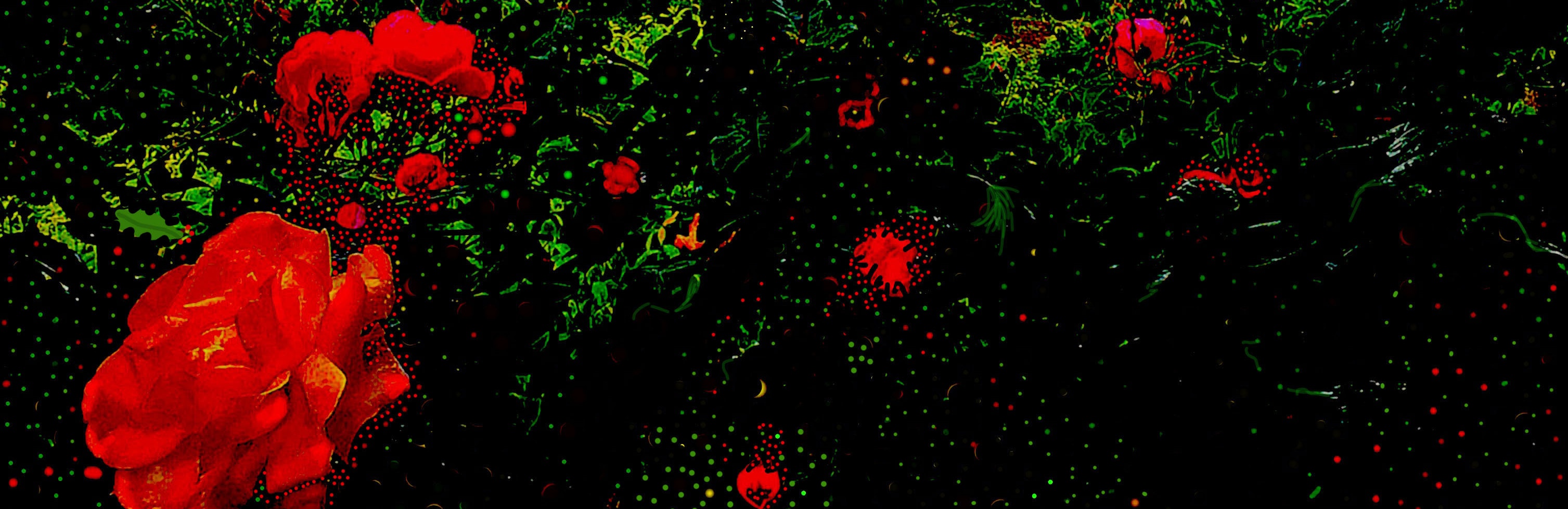TRUMP É MESMO FASCISTA?
Por João de Almeida Santos

“S/Título”, JAS 2024
NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA vota-se nos Estados Unidos para eleger o Presidente do mais poderoso país do planeta, numa época em que se vive uma extrema instabilidade internacional e uma forte ascensão política da direita radical em todo o mundo, incluída a Europa. E também ali parece estar a jogar-se algo decisivo. Algo que até pode ser considerado como um processo onde se joga o futuro da democracia americana, tendo o candidato republicano evoluído, desde que perdeu as eleições em 2020, para uma visão cada vez mais radical, a ponto de se poder temer pela sobrevivência da própria democracia americana ou, pelo menos, para uma sua forte descaracterização. Muitos se têm interrogado sobre quais são as reais intenções de Trump e como poderá ser definida a sua visão da política e da democracia. Talvez a sua visão reduza a política ao exercício do poder, à sua conquista e preservação. E a nada mais, para além das proclamações eleitorais para obtenção do consenso. De resto, seguindo uma tendência que, infelizmente, me parece ser hoje dominante. Na verdade, do que se trata é de um autêntico plutocapitalismo. Se dúvidas houvesse, e não há, bastaria tomar em consideração a presença activa na campanha de Trump daquele que dizem ser o homem mais rico do mundo, Elon Musk.
1.
É frequente a identificação da extrema-direita ou direita radical, em que Trump se filia, e cada vez mais, com o fascismo. Ou seja, atribuir-lhe as características que tinha o velho fascismo italiano personalizado em Mussolini, “Il Duce”, também conhecido como “Er Puzzone”, alguém não recomendável. De resto, a Itália dos nossos dias até já é governada por um partido cujo antepassado é o partido fascista de Mussolini, estando também na ordem do dia saber se o partido “Fratelli d’Italia”, de Giorgia Meloni, se identifica, ou não, com esse passado. Julgo ter respondido a esta questão no meu livro Política e Ideologia na Era do Algoritmo (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024, pp. 101-118), que será lançado nos finais de Novembro, na Covilhã. Não é, pois, muito estranho que a pergunta formulada no título deste artigo se aplique também ao candidato presidencial republicano. Sobretudo depois de o general Mark Milley e o seu ex-chefe de gabinete, John Kelly, assim o terem qualificado, depois de Joe Biden e Kamala Harris terem retomado essa qualificação e de vários historiadores a terem também, finalmente, considerado adequada. Sobretudo se referida aos últimos tempos.
2.
E começo por reconhecer que, sem dúvida, comparações históricas é sempre possível fazê-las. Sim, mas salvaguardando as diferenças temporais, pois parece ser verdade que, não obstante os “corsi e ricorsi” de que falava, e bem, Giambattista Vico, a história não se repete, sendo cada acontecimento histórico único, na sua singularidade temporal. Neste caso, bastaria referir dois aspectos para concluir pela inadequação desta caracterização: por um lado, estávamos no período entre guerras, com os efeitos desastrosos da primeira Guerra Mundial e a experiência da Revolução soviética a influenciar a política europeia; por outro, o fascismo aconteceu no período florescente das grandes narrativas políticas e ideológicas, hoje em claro declínio, tendo ele próprio contribuído para dar consistência ideológica, e até artística (veja-se, por exemplo, o futurismo de Marinetti), a esta orientação política. Estes dois aspectos bastariam para limitar as tentativas de classificar a política actual da extrema direita com o termo “fascista”. Mas é claro que há no discurso de Trump elementos que remetem para o fascismo: o regresso aos velhos, gloriosos e heróicos tempos do império; o inimigo externo já infiltrado internamente que ameaça a pureza étnica da nação e a necessidade de o combater com a lógica e as armas da guerra (com as forças armadas); e, finalmente, a extrema personalização da política e do partido em Trump, identificado cada vez mais como um líder carismático que tende a apresentar-se como o intérprete único dos americanos: “I am your voice” e quero tornar “America Great Again”. Fazer renascer de novo a América humilhada, que lembra uma frase que surge no início do filme de Leni Riefenstahl, “Triumph des Willens”, sobre o regresso de Hitler a Nuremberg, “dezanove meses depois do início do renascimento da Alemanha” (em 1933), humilhada em Versailles. O que não parece ser muito estranho se nos lembrarmos do que seus colaboradores próximos disseram acerca da sua opinião sobre Hitler e sobre os seus generais e, ainda, do que disse, em “Madison Square Garden”, no dia 27.10, sobre os Estados Unidos como um país “ocupado” que ele irá “libertar logo no primeiro dia”. Uma espécie de “deus ex machina” a aterrar no palco americano, no dia 5 de Novembro. Poderá ser exagero, mas que os ingredientes e o simbolismo estão lá, isso é verdade. Uma pergunta legítima: e se perder as eleições, o que acontecerá? Novo e mais violento assalto ao Capitólio?
3.
Podemos dizer que é o regresso de uma grande narrativa política e ideológica, de uma doutrina, de uma visão do mundo estruturada com força normativa, ou seja, com o poder de ritualizar a vida dos americanos? Não creio. O que estamos a ver é a exploração de um discurso sobretudo instrumental dirigido às pulsões mais básicas dos cidadãos com vista a obter consenso para uma vitória eleitoral e o acesso ao poder. Não é tecnicamente inocente a linguagem disruptiva e até chocante de Trump – ela visa no essencial polarizar a atenção social sobre si, o que é considerado determinante no discurso político (veja-se a teoria do “agenda-setting” ou a teoria da “espiral do silêncio”). Estamos a assistir a uma lenta caminhada para um regime de partido único? Também não creio. Aquilo a que estamos a assistir é à personalização extrema do partido republicano na figura carismática de Donald Trump e à evolução para o modelo populista de acção política e de governo. Nem grande narrativa nem partido único, portanto. Estamos a assistir ao triunfo da força sobre o consenso? Não creio, apesar dos passados distúrbios do Capitolio e da ameaça de deportações em massa. Sobretudo do que se trata é, por um lado, de uma linguagem truculenta centrada em temas fracturantes (como é o da imigração) e que apela aos instintos mais básicos dos eleitores e, por outro lado, a uma profunda viragem institucional própria da direita radical e que consiste na atrofia da separação dos poderes em benefício exclusivo do poder presidencial. Veja-se, a este propósito, o dossier publicado pelo New York Times (de 26.10.2024, na primeira página e nas páginas A10-A13) acerca do que aconterá se Trump ganhar as eleições. Cito um pequeno extracto “If Trump wins” – “Donald J. Trump and his associates have a broad goal to alter the balance of power by increasing the president’s authority over every part of the federal government that currently operates independently of the White House”. O NYT retoma um estudo feito por The Times. No meu livro Política e Ideologia na era do Algoritmo, já referido, explico em que consiste este modelo de concentração do poder no executivo já assumido de forma generalizada pela direita radical.
4.
Mas, mesmo assim, isto justifica que liquidemos o fenómeno Trump com a palavra fascismo? A verdade é que, fazendo isto, o que acontece é que se está a cobrir a realidade com um véu translúcido que não deixa ver com nitidez o que se está a passar na política americana. Li no “Público (de 28.10.2024) um artigo (“Sanewashing e a longa entronização de Trump”) de uma professora da Universidade de Boston, Daniela Melo, que discorre sobre uma fórmula, “sanewashing”, que exprime a lavagem linguística, pelo jornalismo, da linguagem disruptiva e desconexa de Donald Trump como inadvertido contributo para uma bonificação da imagem do famoso plutopopulista. O pudor jornalístico da melhor imprensa a impedir-se de transcrever a linguagem rude e truculenta de Trump como contributo não intencional para a sua entronização. Coisa antiga, diz a articulista. Pelo menos, desde os tempos de “The Apprentice”. Mas li também um pequeno ensaio, publicado no “Libération” (28.10.2024: 20-21), da autoria de Sylvie Laurent, professora em Sciences-Po, Paris, intitulado precisamente “Trump est-il fasciste?”, que acaba por dar uma resposta de certo modo positiva à pergunta formulada pelo título. Com efeito, ela termina o artigo da seguinte maneira: “Da primeira vez (2016), não se tratava senão daquilo a que se chamou um ‘fascismo inacabado, experimental e especulativo’. Mas, amanhã?”. Conclusão que se segue à descrição dos elementos considerados fascizantes no discurso e no projecto político de Trump: “medo eugenista de declínio moral e étnico do país, uso da violência política, racismo matricial, ódio aos movimentos sociais e à esquerda cultural e ressentimento em relação ao Estado e às instituições públicas consideradas corruptas e fracas”. Um horizonte contra-revolucionário que, de acordo com a autora, não visa somente a revolução igualitária dos direitos e liberdades dos anos ’60, mas a própria revolução liberal de 1776, que procedeu à separação dos poderes e que reconhecia o direito de voto e a soberania a cada um. A autora podia ter acrescentado a tudo isto, reforçando esta argumentação, o não reconhecimento da vitória de Joe Biden, em 2020, e o assalto violento ao Capitólio, que mais pareceu uma tentativa de golpe de Estado, ao estilo da farsa mussoliniana da “Marcha sobre Roma”.
5.
Estas características podem muito bem ser enquadradas pela ideia de um plutopopulismo centrado no carisma e na figura de Trump e, já agora, pelos compagnons de route plutocráticos de que Elon Musk é o símbolo mais visível. Mas uma coisa há que perguntar: trata-se verdadeiramente de uma doutrina, de uma ideologia, de uma mundividência sólida ou simplesmente de um processo instrumental de pura conquista do poder no quadro de uma visão de tipo absolutista, perfeitamente alinhada com a que já é hoje claramente assumida pela direita radical-populista e que, noutros países com enquadramento constitucional diferente, podemos classificar como presidencialismo do primeiro-ministro e que, em Itália, já é conhecido como “Premierato”?
6.
A clarificação desta questão não é de somenos, pois o uso e abuso de certas fórmulas (por exemplo, esta de classificar como fascista ou como comunista tudo o que esteja fora do perímetro político do catalogador) para reconhecer e explicar a realidade política e para fazer combate político parece-me dever ter duas leituras: a) este exercício discursivo não só é cognitivamente ineficaz e incorrecto, b) mas ele também esconde uma técnica que é mais própria das autocracias do que das democracias, ou seja, a identificação de um inimigo interno e/ou externo não só para tocar a rebate e unir forças para o combate, mas também para esconder a pobreza doutrinária e cognitiva das forças que usam e abusam destas fórmulas. Em suma, uma lógica de guerra que não está alinhada com a natureza da democracia. A tendência para ver tudo a preto e branco não anuncia grandes resultados intelectuais nem políticos.
7.
Sylvie Laurent, para fundamentar a sua posição, lembra, e bem, o uso de determinadas expressões de Trump: o inimigo do interior; dia da libertação para uma América ocupada (o cinco de Novembro); nós defenderemos o nosso território, as nossas famílias, as nossas comunidades, a nossa civilização; nós não seremos conquistados; não seremos invadidos; vamos recuperar a nossa soberania; recuperaremos a nossa nação – e eu devolver-vos-ei a vossa liberdade e a vossa vida; e, finalmente, algo que soaria bem em Mussolini: “nós temos entre nós pessoas nocivas, doentes, loucos radicais de esquerda… será necessário ocupar-se deles, se necessário, pela Guarda nacional e, porque não?, pelas forças armadas”. Poder-se-ia, para finalizar, acrescentar: “I am your voice!”
O que resulta de tudo isto é a ideia de que a América precisa de uma guerra de libertação porque se trata de um país ocupado (mas só nos últimos 4 anos, entendamo-nos). Trata-se de uma linguagem bélica e de uso daquela categoria que Carl Schmitt considerava ser a dicotomia central da política: a relação amigo-inimigo. Só que esta relação pertence mais à lógica da guerra do que à lógica da política democrática, onde não há inimigos, mas adversários em competição regulada por normas por todos aceites. O que, a considerar-se o que aconteceu com as últimas eleições e com o episódio do assalto ao Capitólio, parece não ser o caso de Trump. A verdade é que ele “evoluiu” muito (mas de forma regressiva) desde a sua Presidência, designadamente em relação ao próprio partido, que hoje controla totalmente. Controlo que, pelos vistos, aspira a projectar para dentro do Estado, intensificando o que já fizera na sua presidência. Ou seja, controlando as instâncias que em democracia funcionam como contra-poderes (os famosos pesos e contrapesos) e tratando como inimigos todos os que estejam fora do seu perímetro político, se preciso usando as forças armadas. Um discurso que radicaliza ainda mais aquela que foi a sua gestão entre 2017 e 2021. Por isso, também eu, tal como Sylvie Laurent, me interrogo: e amanhã? JAS@10.2024