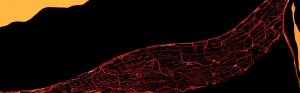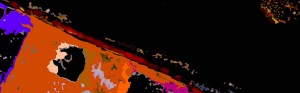IDIOSSINCRASIAS PRESIDENCIAIS
AFINAL, VIVEMOS, OU NÃO,
EM DEMOCRACIA PARLAMENTAR?
João de Almeida Santos

“S/Título”, JAS 2025
LI COM MUITA ATENÇÃO e interesse o recente artigo de Alberto Costa, no “DN”, “Dissolver, Dissolver, Dissolver” (27.03.2025). Título curioso e muito significativo. E não só porque põe em evidência a anomalia política e constitucional dessa espécie de “dissolução permanente”, como também suscita uma reflexão mais ampla sobre a evolução do processo político em moldura democrática e representativa.
1.
É claro que nós vivemos em regime de democracia parlamentar, onde o centro deveria estar no parlamento e não na figura do primeiro-ministro, sujeita que está às vicissitudes pessoais do próprio, muitas vezes problemáticas, como é actualmente o caso. Mas a verdade é que se tem vindo a evoluir para uma excessiva personalização da política, a ponto de tudo se centrar na figura dos líderes, sobretudo os dos partidos da alternância, os que se vêm alternando no poder. PS e PSD, no caso português. As eleições estão cada vez mais concentradas naquelas figuras, reduzindo o processo político a uma mera competição entre pessoas, sobretudo entre duas pessoas. Actualmente, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Confessemos que a escolha é muito reduzida, por se centrar em duas pessoas, num processo que envolve 230 mandatos, programas de governo e mundividências políticas. E, neste caso, as eleições até parece serem mais um plebiscito sobre Montenegro do que outra coisa, feridas que estão, à partida, pela questão da confiabilidade do actual PM, a única razão que as motivou. Se o plebiscito lhe for favorável não se abrirá uma espiral de promiscuidade maior do que a que já existe?
2.
Isto começou com a emergência da televisão na política democrática nos Estados Unidos (ademais um regime presidencialista) logo nos anos cinquenta, ao mesmo tempo que se iniciava também um processo de avaliação, digamos, “moral” dos candidatos a presidente, com as famosas “campanhas sujas” a alimentarem as campanhas presidenciais americanas, ao longo de décadas. Refiro somente algumas, que ficaram famosas, e sempre contra os candidatos democratas: as que visaram Michael Dukakis, John Kerry ou Barack Obama. Nos dois primeiros casos funcionaram. No caso de Obama, não.
3.
Decorre da sua extrema personalização que a política se passe a concentrar em lideranças pessoais, nas suas qualidades e nos seus defeitos, ficando, portanto, dependente delas, em detrimento dos próprios sistemas de poder. A política a afunilar nos líderes e na sua imagem e a evoluir para a hiperpersonalização. Mesmo nas democracias parlamentares se está a verificar esta tendência, com a redução das campanhas eleitorais (das permanent campaignings às pré-campanhas e às campanhas propriamente ditas) à figura do líder, quase deslizando para a figura do plebiscito (e as de Maio até parece serem mesmo isto) e tornando-as cada vez mais fungíveis e condicionadas pelas vicissitudes das pessoas em causa. Trata-se, pois, de um afunilamento que fragiliza a política e que abre uma espiral de psicologismo pouco compatível com a matriz da democracia parlamentar, mas também de pasto verdejante para os apetites judiciais e para o lawfare, cada vez mais frequente. A essa espiral estão sujeitos todos os partidos, mas sobretudo os que estão em condições de aceder ao governo do país.
4.
Na verdade, o que está em causa nas eleições e numa democracia representativa é a escolha de representantes para o legislativo (230, no caso português), a que se segue a constituição de maiorias parlamentares de onde resulta necessariamente a indigitação de um PM e a constituição de um executivo. O princípio da maioria é um princípio essencial dos sistemas representativos. No caso inglês, nenhum membro do governo poderá sequer ser escolhido fora do Parlamento, o que está a indicar, com meridiana clareza, a natureza parlamentar do regime e a centralidade iniludível do parlamento. Depois, as candidaturas ao parlamento são protagonizadas pelos partidos políticos ou por coligações e é nesse âmbito que se formam as maiorias. Partidos, não pessoas (e não é por acaso que o sistema não prevê candidaturas não partidárias). E muito mais nos sistemas eleitorais de tipo proporcional, com as suas propostas em listas fechadas. São eleitas pessoas, mas as escolhas e as propostas só podem ser feitas por partidos, em listas fechadas (vota-se na lista, mas através da sigla do partido, não se podendo sequer exprimir uma preferência, no caso do nosso sistema eleitoral). Assim sendo, reduzir as eleições às figuras dos líderes partidários candidatos a primeiro-ministro significa várias coisas: a) diminuir o papel do principal órgão de soberania, que é o Parlamento, porque é ele que integra os representantes; b) tornar mais fungível a política democrática por ficar dependente da figura do líder, do seu comportamento pessoal e das vicissitudes que ocorram (como se viu); c) transformar as legislativas em eleições para o executivo, desvirtuando profundamente o regime constitucional; d) abrir espaço para as famosas “campanhas negativas”; e) reduzir os partidos às figuras dos líderes, com gravíssimas consequências na própria composição dos seus órgãos internos e na propositura de candidatos a cargos institucionais; e, f) finalmente, pôr o sistema à mercê de inquéritos judiciais que podem ser promovidos por simples cartas anónimas, facilitando a prática de lawfare, cada vez mais frequente.
5.
Posto isto, qual a razão do título do artigo que acima referi? Claramente esta: o Presidente da República parece ter já assumido como doutrina oficial a hiperpersonalização do regime, onde o primeiro-ministro é o centro do sistema, decorrendo, pois, as eleições em torno da sua figura, ou seja, transformando-as em eleições para primeiro-ministro. Há quem lhe chame presidencialismo do primeiro-ministro. E há, no caso português, um momento muito claro relativo a esta assunção presidencial: o da tomada de posse de António Costa, em 2022, quando o PS obteve a maioria absoluta. Disse o PR mais ou menos isto: o senhor (não o PS, entenda-se) ganhou as eleições e, por isso, a sua saída implicará novas eleições. António Costa encontrou a oportunidade para (graças ao ministério público) sair imaculado em direcção a Bruxelas e houve eleições. É claríssima, aqui, a desvalorização do partido (que ganhou as eleições) e do parlamento (onde existia uma maioria absoluta desse mesmo partido). Depois, a questão da “confiabilidade” do PM. Surgiu a questão e, consequentemente, outra vez eleições. Há aqui um reajustamento do regime: as eleições, embora também sirvam, em via subordinada, para eleger 230 deputados, servem, no essencial, para eleger um todo-poderoso primeiro-ministro, capaz de reconfigurar o seu próprio partido e o sistema político à sua medida. Adapte-se, pois, o sistema à hiperpersonalização da política democrática e passe-se a eleger directamente o PM, dando forma constitucional ao presidencialismo do primeiro-ministro e, já agora, transformando a Presidência da República num simples cartório notarial. Constitucionalize-se, pois, o que já está a ser feito na prática, para que o processo seja legítimo. Mas, se assim, for terá razão a senhora Giorgia Meloni, ao propor, como fez, uma alteração constitucional para a eleição directa do PM italiano. Mas, ao menos, ela submeteu a mudança ao parlamento (e já passou no Senado) e, eventualmente, a um referendo (se não passar na Câmara dos Deputados, como é previsível). Pelo contrário, aqui, entre nós, e com um Presidente doutorado em direito constitucional (com uma tese sobre “Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português”), a fórmula já passou à prática, sem passar pelo parlamento ou pelos eleitores. Só que, por um lado, a nossa Constituição não prevê a eleição directa do PM, estando, por outro lado, o PR obrigado a cumprir e a fazer cumprir a Constituição, não possuindo legitimidade nem autoridade para produzir alterações constitucionais, formal ou informalmente. Só o parlamento, agora extremamente diminuído, o pode fazer, desde que, para o efeito, tenha uma maioria qualificada. Mas foi o que o PR fez: uma alteração informal do regime de democracia parlamentar, ao considerar irrelevante o Parlamento e os próprios partidos da alternância, perante o agigantamento das figuras dos líderes (no entendimento, errado, de que são eles que ganham, ou perdem, as eleições, e não os partidos). Esta visão é muito própria de quem vê o processo político exclusivamente como um processo comunicacional e não, também, como um complexo e difuso processo orgânico e territorial.
6.
Na verdade, já houve três dissoluções num só mandato presidencial. A primeira, devido à não aprovação do Orçamento de Estado (inevitável? Não está escrito que seja necessariamente assim); a segunda, depois da saída (para Bruxelas) de António Costa, justificada com o facto, anunciado publicamente, de estar a ser objecto de um inquérito-fantasma e apesar de o PS (de forma desastrada, diga-se, por não terem sido consultados os órgãos do partido), por iniciativa do seu secretário-geral, ter proposto um nome alternativo para a chefia do governo; a terceira, por uma questão de confiabilidade do PM (a que se segue, mais do que legislativas, um verdadeiro plebiscito). Mais claro do que isto parece ser impossível.
7.
A doutrina parece ter ficado estabelecida pelo actual PR, dando continuidade àquilo que na prática está a acontecer: a hiperpersonalização da política. Tendência que ele próprio pratica. Será isto aceitável? Não creio. Essa hiperpersonalização está a acontecer hoje nos Estados Unidos, com Donald Trump, e à revelia das próprias normas constitucionais, e as consequências já estão a ser absolutamente desastrosas e perigosas, incluindo a de anulação dos vínculos constitucionais, até já (ao que parece) na questão da duração dos mandatos presidenciais. O que está em causa é mesmo a natureza da democracia representativa e os seus mecanismos internos de “checks and balances”, para além da sua identidade como democracia representativa, ou seja, lá onde o poder está essencialmente centrado nos representantes, isto é, nos deputados, no parlamento, no poder legislativo.
8.
É claro que, como disse, há muito que se vem verificando esta tendência para a hiperpersonalização da política, muito devida ao domínio do audiovisual na comunicação política. Personalização que acontece quer no plano dos partidos quer no plano do Estado, sendo aqueles tributários deste, e vice-versa. Mas, mesmo assim, nunca se verificou uma tendência como aquela que estamos a viver no sentido de hiperpersonalizar a democracia representativa à revelia das próprias constituições, ou seja, sem que tenha havido as correspondentes alterações constitucionais. O deslize neste sentido tem vindo a verificar-se na Hungria de Orbán, verificou-se na Polónia de Kaczynski e também está a acontecer de forma prepotente e inconstitucional nos Estados Unidos do senhor Trump, do senhor Musk e do senhor Vance. Num só caso está a acontecer uma tentativa com dignidade constitucional, a mudança do sistema através de um “disegno di legge costituzionale”, na Itália da senhora Giorgia Meloni. Com efeito, em Novembro de 2023 ela apresentou um curioso “disegno di legge costituzionale” neste sentido.
9.
Não se trata, de facto, de quinquilharia constitucional. Trata-se, isso sim, de uma mudança estrutural que altera a natureza da democracia, alterando a geometria e os equilíbrios dos seus mecanismos internos. Uma mudança que, de resto, corresponde mais à orientação da direita radical do que à da direita moderada ou à da social-democracia. Para esta evolução chamei a atenção no meu recente livro “Política e Ideologia na Era do Algoritmo” (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024). Uma evolução não desejável porque não se inscreve na matriz liberal do sistema representativo nem na natureza da democracia parlamentar. A evolução, pelo contrário, deveria acontecer no sentido de uma política deliberativa e de uma democracia deliberativa, tanto mais necessárias quanto temos perante nós poderosas máquinas de construção do consenso, dominadas pela plutocracia populista, ou plutopopulismo, e capazes de garantir “democraticamente” a base consensual para o exercício hiperpersonalizado do poder. Falo do que está a acontecer nos Estados Unidos, com o já famoso “capitalismo da vigilância”, o das grandes plataformas digitais, o dos senhores Mark Zuckerberg e Elon Musk, agora alicerçado politicamente na própria Casa Branca e no seu inacreditável inquilino.
10.
Não quero com tudo isto dizer que o actual PR inscreva a sua acção política na lógica da direita radical, mas simplesmente que o seu exercício presidencial tem sido pouco conforme aos preceitos que servem de moldura constitucional à nossa democracia parlamentar. Preceitos que ele jurou cumprir e fazer cumprir quando tomou posse, mas que, à primeira dificuldade, ele transgride. Também não vejo na sua acção uma qualquer intenção conspirativa que se inscreva na lógica da direita radical. O que tenho visto, isso sim, é uma prática deformada de acção presidencial, sobretudo numa matéria de enorme relevância para a nossa democracia. Que o Presidente fale demais, isso pode tolerar-se; que interfira na esfera de competências do executivo já se aceita menos; mas que, pela sua acção, transforme por dentro a matriz do nosso regime de democracia parlamentar, isso é simplesmente inaceitável, por até ser contraditório com a função que foi chamado a desempenhar por mandato popular. JAS@04-2025

“NOVOS FRAGMENTOS (XIII)
Para um Discurso sobre a Poesia”
João de Almeida Santos

“S/Título”, JAS 2025
MOVIOLA
OS SONHOS são vida cifrada. Como a poesia. Só que aqui intervém a vontade e, depois, a estilização dos registos de sensibilidade. E sem que o tempo cronológico constitua uma fronteira ou barreira inultrapassável. O poeta observa, regista e compõe, na pauta poética, o seu próprio passado como se estivesse na “moviola”. A escrita poética é como uma mesa de montagem cinematográfica com banda sonora incorporada.
MARÇO
Confesso que a magnólia branca que está ali no meu jardim, ao lado do loureiro, com os seus farrapos brancos, me fascina. Ela aparece em Março e é como que a despedida da neve, que quase já não há, a não ser lá no alto do maciço central. Felizmente que a vejo do terraço da minha biblioteca, apontado a sul, na direcção do maciço. E visito-a quando vou ao Vale Glaciar buscar água – a montanha e a neve em forma líquida. A magnólia, para mim, é esse belo marco de fronteira. E a fronteira fica em Março, que é ao mesmo tempo inverno e primavera. E gosto dessa imagem do pássaro cheio de frio à espera que o sol da primavera espreite, o do Salvatore di Giacomo. Ele, o poeta, e Catarina. Sim, gosto do mês de Março.
FUGACIDADE
Enquanto comentava o meu poema “Março”, um Amigo disse-me que a neve caía, mas no fim também me informou que parara. É fugaz, sim, a neve. Cada vez mais. Fugaz e rara. É como os farrapos da magnólia. Também desaparecem rapidamente para darem lugar às folhas verdes. Sinais. A magnólia a dizer-nos, fugazmente, que vem aí o tempo dos frutos da terra e das flores. Desaparece a neve e abrem-se as portas da primavera. E os amores despontam e renovam-se. E o poeta espera sempre que uma mulher se anuncie com as flores. As flores gostam de mulheres. E elas de flores. E gostam da primavera, como Proserpina. Não é por acaso que ela regressa em Março e eu até acho que vem grávida do inverno (e do inferno). Bem sei que essa não foi cláusula negociada por Demetra com Hades, mas a verdade é que a sua chegada é já em tempo de germinação. É, sim. Tudo, em Março, com a chegada da primavera. Mês de transição, fronteira que permite ver para os dois lados, o passado e o futuro, o inverno e a primavera, a neve e as flores. Comprovadamente, a neve anunciou-se, dizendo, fugazmente: “ainda ando por aqui”. E ela sabe que é sempre bem-vinda. Agora espero que a neblina passe para a ver lá no alto, lá no topo da montanha. Com a neve há frio no corpo e calor na alma. E o poeta sente isso enquanto espera que o corpo também aqueça com a visão do sol da primavera sob forma de mulher.
PROSERPINA
Em Março regressa Perséfone (ou Proserpina, para os latinos). Do inferno e do inverno. Permaneceu lá desde Setembro a aquecer-se com Hades, que a raptara. Não sei se vem grávida, mas parece que sim, porque os rebentos da terra começam a aparecer. O que o amor faz!
SENSIBILIDADE
A poesia é reinvenção. Vamos à realidade, à que nos tocou a sensibilidade de forma intensa, e damos-lhe nova vida através de palavras. Mas não é “divertissement” nem exibição de virtuosismo. Não. É imperativo existencial. Algo perdurou na memória (como “lava” activa), obrigando o poeta a exteriorizá-lo, como “confissão”. Mas, neste caso, como discurso esteticamente comprometido para que possa ser partilhado e fruído como arte, assumindo, assim, uma existência fora do universo de si próprio. A forma ganha aqui uma enorme importância. Toda a importância, porque se não for belo (o que é dito) não suscita adesão e, por consequência, não se torna efectivo. A poesia só se torna performativa se suscitar adesão de sensibilidade. É por isso que digo que a musicalidade de um poema é essencial porque ela atinge mais directamente a sensibilidade (quase independentemente do conteúdo). Não digo que a semântica não importa. Importa, e muito. Mas a arte exige comunicação com poder sensitivo. Eu uso a sinestesia, além da musicalidade, da toada, para acrescentar força sensitiva/sensorial ao poema, embora a pintura também ganhe com isso porque lhe acrescenta sentido, significação. Na verdade, nos meus poemas acabo por contar sempre uma história.
É POETA QUEM SENTE A POESIA
A poesia é um hino à vida. Prolonga-a e torna-a mais bela e mais livre. Livre porque o acto de criação não conhece limites ou fronteiras quando acontece no interior do território do belo. A arte é liberdade. Uma forma especial de exercício da liberdade porque a sua única fronteira é a da beleza partilhada. Esta, sim, é a única responsabilidade do poeta. O poeta não comunica só o que lhe vai na alma. Tem de fazê-lo de forma a tocar directamente a sensibilidade de quem frui. De quem partilha. De quem sente aquilo também como seu. É nesta partilha que quem frui se torna também autor, poeta ele próprio. O poema também pertence a quem o lê. Torna-se também sua, a autoria.
INFINITO
Não lhe bastaram as palavras de que dispunha, ao Camilo Castelo Branco. E eram muitas e poderosas, como sabemos. O destino e as palavras não contiveram a força do Thánatos, que se sobrepôs ao Eros. Ficara diminuído nas suas capacidades físicas e o destino sobrepôs-se. Sim, é verdade que o infinito é perigoso porque produz vertigens. Mas é no infinito que se tocam os caminhos paralelos. É no infinito que se tocam os olhares. E às vezes este encontro produz vertigens. É verdade. Mas também pode ser salvação. Os caminhos no real são paralelos, mas poderão vir a cruzar-se na linha do infinito para onde apontam os olhares. É deste infinito que o poeta fala. E até pode ser o olhar da alma, o olhar íntimo. E até pode ser o encontro de olhares no belo, na obra de arte. O belo pertence ao infinito e é para lá que os olhares com ele comprometidos se devem orientar. O poeta olha, sim, mas tem medo de ser capturado e interrompido nessa sua tensão para o infinito. Sim, porque é aí que acontece o seu resgate. Por que razão diz ele, já no fim de um poema, que continuará a procurá-la onde, afinal, ela já não está? Talvez procure o milagre do encontro no infinito, através do olhar interior (seu e da musa que o acompanha na poesia). Sim, creio que é isto.
DEUS EX MACHINA
Há quem ache estranho o título do meu poema “Confissão”. Mas não está o poeta em permanente confissão, pergunto? Não interpela ele constantemente a sua musa? Sim, só que o faz numa dupla condição: por um lado, enquanto sujeito poético, que não coincide com o eu do poeta; depois, fá-lo em código, como se falasse para ‘iniciados’. Depois, ainda, o poeta coloca-se num intervalo, num espaço intermédio, de onde pode observar-se a si próprio, mas também o mundo. É um terreno que lhe permite uma certa distanciação. Dir-se-á: mas percebe-se que há nele aparentes contradições, movimentos em vários sentidos, que, de facto, até podem ser contraditórios. Sim. Por exemplo, que sentido tem dizer que continuará a procurá-la onde ela, afinal, já não está? Claro, isto só tem sentido no “tempo subjectivo” do poeta: ele vai à “moviola” e monta o filme da sua vida quando ela ainda estava presente. E é lá que vai procurá-la sempre que quiser. O banco de dados é a memória. Já lá não está, mas é esse o lugar que a ele interessa. Sugere-se que ele procura o que não quer encontrar porque o importante é a procura. E até que, se o encontrar, acabará aí o desejo ou talvez se anule mesmo como poeta. Isso é que não. Por isso, sim, é verdade. Tinha razão também o Machado. Mas é verdade que o que o move realmente é “lava” em combustão (o mundo de Dionísio)… Só que ele, mesmo assim, dissociando-se, pode deslocar-se para o tal intervalo de onde se observa e pode observar os próprios movimentos da musa (Apolo). Com a maquinaria poética. Como se fosse o “deus ex-machina” de si próprio. Aquele que desce ao palco para resolver o emaranhado existencial em que se envolveu ou se encontrou, sem querer. E, mais ainda, até pode fazê-lo de forma sedutora, podendo mesmo “atingir” a musa com a sua melodia, onde quer que ela esteja. Ele age sempre como se ela esteja ali mesmo à sua frente. Gosto dessa ideia de “epifania não consumada”, referida por um amigo. Epifania de algo não consumado, digo. Na verdade, um poema é sempre a epifania de um eventual fracasso (diria o Cioran), de uma dor, de uma perda. Ou seja, a perda ou a dor elevam-se, pela arte, ao sublime – epifania! O contraste entre a perda e o sublime e a viagem do poeta de uma situação para a outra. É neste intervalo que o desejo se alimenta e o poeta se move. Confissão de que o poeta não consegue (ou conseguiu) mesmo encontrar algo fora dele? Sim, é verdade, e é por isso mesmo que sente necessidade da poesia. De procurar dentro dele aquilo que foi incapaz de materializar fora de si. A escrita como solução da própria vida. É uma maneira de lidar com o inatingível. Por isso é que é uma tarefa sem fim. A poesia é exposição. Se não fosse, seria puro virtuosismo retórico. A poesia tem “gravitas”. Talvez mais do que qualquer outra arte. Veja-se o que diz o grande Manuel Bandeira, no poema “Desencanto”: “Eu faço versos como quem chora” (…) “Meu verso é sangue. Volúpia ardente…” (…) “Dói-me nas veias. Amargo e quente, / Cai, gota a gota, do coração” (…) “Eu faço versos como quem morre”. É como se não existisse mediação entre a alma e o verbo. Um fluxo ininterrupto a jorrar… em palavras. No princípio, era alma e, no fim, o verbo. O verbo como redenção.
EXPOR-SE
O comum dos seres humanos não se expõe publicamente, não revela os seus sentimentos, reserva para si o que lhe vai na alma. E há mesmo quem exagere a um ponto tal que chega a sufocar os próprios sentimentos. Sente a exposição como pecado. Como risco ou mesmo como tragédia. Por isso entrincheira-se. Como se uma eventual guerra o ameaçasse e o inimigo estivesse ali, à espreita, para lhe disparar à queima-roupa. É possível que haja traumas recalcados nestas pessoas e não se consigam libertar deles, pagando por isso um preço demasiado elevado. E arriscando a implosão ou a petrificação das suas vidas sentimentais. Só os poetas o fazem. Só os poetas se expõem. Mas não se sabe bem o que é seu, do poeta, ou do sujeito poético; e se é verdade ou é poético fingimento, por vezes até devido a puras exigências estéticas. A poesia também é mistério. JAS@03-2025