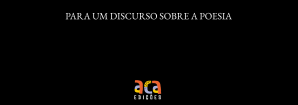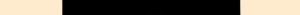A BURQA
João de Almeida Santos
ESTOU PLENAMENTE de acordo com aqueles que consideram que a lei da Burqa (e do Niqab) deveria ter tido um amplo debate, na linha daquilo que hoje se designa por “democracia deliberativa”, antes da apressada aprovação do projecto de lei do CHEGA pelo parlamento, deixando a suspeição de que não é o assunto em si que merece atenção parlamentar, mas a ideologia da direita radical e a sua estratégia política e ideológica. Por uma simples razão: verifica-se nesta lei uma eventual contradição entre a ideia de comunidade com poderes normativos e a ideia de legítimos direitos individuais, evidenciando uma velha discussão entre a visão republicana e a visão liberal, a primeira valorizando mais o papel do Estado e, a outra, pelo contrário, valorizando mais o papel dos direitos individuais. A discussão sobre a constitucionalidade da lei está já em cima da mesa. Entretanto, salta para a arena pública a ideia de que o que verdadeiramente está em causa é o desejo de colocar politicamente na agenda pública a ideologia anti-imigração, em particular a islâmica; ou, então, a contestação da lei devida exclusivamente a um critério quantitativo – sendo poucas as praticantes não se justificaria legislar sobre tão socialmente irrelevante assunto. Também não me parece muito adequada a posição “politicamente correcta” de recusar (porque sim ou por princípio) tudo aquilo que possa pôr em causa a visão multiculturalista radical que é professada por muitos dos que criticaram a lei. Compreende-se bem por que razão é adoptada esta posição. O identitarismo não conhece limites. Como adequada não me parece possa ser a recusa de um projecto de lei tendo apenas em consideração o rosto do seu proponente. Bem pelo contrário, o debate teria mesmo valido a pena nos termos de um sério confronto entre uma visão republicana e uma visão liberal da questão, até porque a nossa constituição inscreve-se em ambas as matrizes, estando estas visões na génese da nossa tradição político-institucional. A questão elevar-se-ia para um patamar em que se discutiria a relação entre o Estado e a liberdade, designadamente a liberdade religiosa, e os limites de ambos, o da intervenção do Estado e o da reivindicação dos direitos individuais, sejam eles religiosos ou não. E é isto que está em causa, para além de agendas ideológicas marcadas por prévios juízos de valor que só impedem uma avaliação séria do quer está realmente em causa. Não me parece, pois, razoável enquadrar o tema por opções ideológicas estranhas às razões específicas da doutrina democrática sobre a questão, ou seja, sobre a natureza do espaço público, por razões de proveniência do projecto de lei, por escassez de praticantes ou por submissão a uma agenda woke ou politicamente correcta. Ou, pior ainda, para ir comodamente na onda da tendência mediática dominante, que, de resto, tem vindo a alinhar paulatinamente num temperado politicamente correcto.
1.
Não tomo em consideração, por motivos óbvios, o facto de a questão de se pôr exclusivamente em relação à mulher, e não também em relação ao homem (qualquer que fosse a indumentária que produzisse os mesmos efeitos), o que permitiria tirar ilações directas sobre as razões desta diferença, designadamente sobre a aplicação do princípio da igualdade em matéria de exposição social do rosto ou do corpo. A questão da burqa, para o objectivo em vista, deverá ser colocada em abstracto em relação à cidadania, como se ela fosse aplicável quer a homens quer a mulheres.
2.
É claro que a lei parece estar mais do lado da visão republicana do que da visão liberal, ao sublinhar o imperativo comunitário relativamente ao imperativo dos direitos individuais. O que é verdade é que mesmo na visão liberal são aceites limitações aos direitos individuais se eles ferirem responsabilidades directas do Estado, por exemplo, responsabilidades relativas à soberania. A comunidade, a cidadania e a nação estão, em dimensões fundamentais, ao cuidado do Estado que as representa e que tem o dever de as preservar, legislando e agindo em conformidade para o conseguir legitimamente. Quando se fala da lei e da segurança, a propósito da burqa, é isso que se está a invocar, sendo certo que outras dimensões também deveriam ser postas em cima da mesa. Por exemplo, a questão da sociabilidade no espaço público e dos planos em que ela se processa. E até no plano social da relação estética, que Schiller elevou, nas suas Cartas sobre a Educação Estética do Homem, a factor primordial da boa sociabilidade. Ou da clara distinção entre o que pertence ao espaço público e o que pertence ao espaço privado. E o que coexiste em ambos. Lembro-me bem da discussão que houve em França a propósito do uso, não da burqa, mas simplesmente do uso do chador na escola pública e na proibição do proselitismo religioso nesse espaço público e laico (veja-se o meu ensaio Diversidade Cultural e Democracia, em: https://joaodealmeidasantos.com/2018/02/05/diversidade-cultural-e-democracia-2/). Mas, no meu entendimento, mais do que isso, a questão que se põe está centrada na questão do reconhecimento interpessoal no espaço público democrático. É esta, no meu entendimento, a clivagem principal que deve ser colocada no centro da reflexão.
3.
A questão da liberdade de uso do vestuário também fica posta, mas poder-se-á sempre pôr a questão de saber se é legítimo usar vestuário que impede esse reconhecimento e a relação comunitária que está implícita nele. Normalmente, a subtracção ao reconhecimento público é exercida através do legítimo refúgio no espaço privado e não através da colonização do espaço público pela linguagem do espaço privado com o cortejo de critérios que lhe são próprios, com a sua liturgia. É claro que uma projecção excessiva do espaço privado no espaço público é tão criticável como o excesso de projecção do que é público no espaço privado. A virtude reside em respeitar esse ponto de intersecção entre o que é público e o que é privado, esse lugar de fronteira. As ditaduras sempre procuraram anular esta fronteira, entrando prepotentemente por ela adentro, anulando-a a favor do Estado (totalitário), tudo reduzindo a espaço público (sujeito, pois, a controlo administrativo – é proibido tudo aquilo que não é permitido). Nestes regimes não está garantida a autonomia do espaço privado, que tende a desaparecer. A religião, porque julgo ser disso que se trata (mas numa versão radical que, pelos vistos, não existe sequer nas respectivas escrituras), situa-se no espaço privado e nas teocracias esse espaço expande-se para além da zona de fronteira, tendendo a absorver e a colonizar integralmente, com as suas liturgias, o espaço público. Coisa que não deve acontecer nas democracias, onde são os princípios constitucionais que devem ficar como marco delimitador da livre expressão das diversas identidades, seja de grupo seja individuais – é permitido tudo aquilo que não é proibido. Deste modo, o Estado só deve intervir com força sancionatória lá onde estes princípios forem gravemente ofendidos. Mas se o fizer de forma excessiva lá estarão os tribunais constitucionais para o corrigir. O que é imperativo é que a constituição deva proteger o espaço público naquilo que ele tem de essencial e de ineludível pois é ele que define a democracia naquilo que ela tem de mais específico. Ao colocarmos o voto na urna devemos identificar-nos de modo a garantir que a nossa soberania individual não foi confiscada por outrem – voto secreto, mas identificado na sua titularidade. Em democracia, um cidadão com burqa não está autorizado a colocar o seu voto secreto na urna.
4.
Um amigo lembrava-me que nós vemos remotamente a democracia como um espaço territorial onde as pessoas estão reunidas fisicamente, olhando-se olhos-nos-olhos, argumentando, corrigindo-se ou convencendo-se acerca das boas ideias e razões para um bom governo da comunidade. O modelo até poderia ser o da agorá ateniense onde se discutiam os assuntos da polis depois de preparados pela Assembleia dos Quinhentos. Um modelo que esteve sempre sob os holofotes e que, de certo modo, ainda estava implícito como modelo remoto na célebre Enciclopédia de Diderot e D’Alembert, de meados do século XVIII. Ou seja, parece ser pouco estranha uma democracia que se possa fundar em cidadãos que se cobrem o rosto no espaço público e que, nessa qualidade, possam decidir acerca dos destinos da comunidade (falo de cidadãos com plenos direitos). A aplicarmos o imperativo categórico de Kant, em tese até poderia ser concebida como moralmente legítima uma democracia de embuçados – “age como se a máxima da tua vontade pudesse valer sempre e ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal”. Não havendo numa democracia uma discriminante acerca dessa possibilidade, isso seria possível para os cidadãos que professassem uma moral fundada no imperativo categórico, um princípio que pode ser adoptado como definidor do princípio democrático por excelência. Se eu uso a burqa no espaço público de forma moralmente assumida e convicta estou a admitir que todos legitimamente a usem, admitindo, assim, em tese, uma democracia de embuçados.
5.
O assunto, de resto, já mereceu atenção por parte de vários tribunais constitucionais estrangeiros tendo respostas diferentes. Em França, a decisão foi validada pelos tribunais superiores. E até o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos validou as decisões de proibir o uso da burqa em espaços públicos. Mas a matéria é complexa, delicada e sensível. E, todavia, ao que parece, e invocando razões diferentes, a quase totalidade dos opinionistas portugueses tem-se manifestado contra a lei, enquanto a maioria do parlamento foi a favor, sendo a generalidade da oposição também contra. Incluído o PS. Uma profunda divisão talvez porque nunca houve um aprofundado debate analítico sobre a questão.
6.
A verdade é que o debate começou quando não devia, com excesso de polarização política e com argumentos estranhos à matéria em causa. Tivesse começado antes da decisão parlamentar e tudo teria sido diferente. Embora compreenda, como já disse, os argumentos contra a decisão do parlamento e respeite a liberdade religiosa, não vejo, todavia, por que razão não pode o Estado legitimamente legislar como legislou sobre esta matéria. Em França, a proibição foi validada pela autoridade judicial máxima, mas em Portugal a génese política do diploma acabou por arrastar posições que poderiam ser diferentes se a lei tivesse tido outra génese política. Talvez a teoria da “espiral do silêncio” (na opinião pública, que não na esfera política) possa explicar isto. O que não se pode é tomar uma posição invocando razões e argumentos que não tocam no essencial do que está em causa.
7.
O uso da burqa não é tecnicamente equivalente ao uso do bikini naqueles tempos, nos anos ’50, em que era isso era proibido porque considerado atentado à moralidade dominante, ao pudor, à decência. Não só não é questão de pudor, sendo até o seu exacto contrário, como também é de nível superior. Nem sequer é, pelas mesmas razões, equivalente à fractura da nudez integral em espaços públicos, mas que nem sequer conhece proibição legal directa, creio, sendo punível somente quando associada a outro tipo de imputação. Não. Também aqui o uso da burqa é de nível superior. A comparação é feita somente para se compreender melhor a natureza do espaço público e a normatividade que pode recair sobre ele. O problema central, no meu entendimento, consiste no reconhecimento sensível e intersubjectivo da pessoa, na identidade pessoal exibida no espaço comunitário ou público através do rosto. E não parece ser sequer questionável a afirmação de que é o rosto que define a pessoa, o cidadão. A persona, a expressão visível da sua existência social. A obrigatoriedade de foto do rosto nos documentos de identidade é prova disso. O rosto é a janela da alma, como dizem os grandes poetas. Escondê-lo é, pois, esconder a alma, naquilo que ela tem de pertença social, rejeitando, deste modo, o reconhecimento comunitário ou societário e o próprio sentimento de pertença à comunidade que interage no espaço público. Seja qual for a motivação. É remeter o reconhecimento totalmente para a esfera privada ou íntima, um espaço onde, afinal, isso é natural e onde as categorias do reconhecimento público não são, portanto, aplicáveis, porque se trata de planos completamente diferentes. Não “dar a cara”, a não ser no espaço privado ou íntimo, é não reconhecer o próprio espaço público na sua essência ou, então, é considerá-lo como ameaça, estranho, profano. O que significa também não reconhecer, nele, o outro – no acto de me negar publicamente ao outro também o nego a ele, ipso facto, anulando assim a própria ideia de sociabilidade, de pertença a uma comunidade ou, então, esgotando a ideia de comunidade na ideia redutora de espaço privado. Só reconheço a minha comunidade privada e só perante ela me identifico. A verdadeira comunidade seria, pois, aquela em que o espaço privado acabaria por colonizar o espaço público, considerado, este, como espúrio e profano, onde a revelação da identidade não deveria, pois, acontecer, ser acessível. Uma teocracia torna o espaço público num espaço também ele regulado por normas de comportamento ditadas pela respectiva liturgia identitária. Em última análise, esta visão representa a rejeição da sociabilidade democrática e do Estado laico que a garante. A identidade aqui sobrepõe-se a um espaço societário diferenciado, sim, mas com regras de convivência comuns, onde a diferença é manifesta, reconhecida e protegida. Diferença, não desigualdade no uso do espaço público. Uma conversa parecida é verificável também no wokismo. Eu creio que a matriz liberal ou republicana não aceitam, por definição, que o espaço público seja amputado de uma sua dimensão fundamental de sociabilidade, a do reconhecimento interpessoal. E creio mesmo que o problema, entendido democraticamente, seja somente este, devendo a discussão ficar, neste plano, completamente liberta de valoração ideológica.
8.
O que significa, pois, esse espaço público que, assim, se rejeita e não se reconhece, por recusa de “dar a cara” nesse mesmo espaço? “Dar a cara” num duplo aspecto: revelá-la e assumir as respectivas responsabilidades, impedindo até que outros se apropriem indevidamente da sua própria identidade (oculta). Não se trata aqui de moral, de liberdade individual ou sequer de ritual religioso. Trata-se simplesmente de um problema de identidade social e de reconhecimento interpessoal numa sociedade, a contemporânea, que adoptou a transparência como valor universal, mas que, em tese, também, como nunca, mantém protegida a esfera privada, através precisamente da democracia. É claro que a questão da segurança é factor a ter em consideração, mas não é, no meu entendimento, o elemento decisivo. O reconhecimento interpessoal no espaço público é, sim, o elemento decisivo porque esse reconhecimento é que institui a dimensão comunitária, a dimensão pública da sociedade, a sociabilidade. E a burqa impede-o, ainda que assumida com toda a autenticidade e adesão interior. Mas, ao impedi-lo ou recusá-lo, revela-se hostil à democracia, quer na sua versão liberal quer na sua versão republicana. Usá-la nos espaços privados e religiosos ou em casos em que se justifique deve ser permitido, mas transpor o seu uso habitual para o espaço comunitário ou público levantará sempre o problema do reconhecimento interpessoal, que, afinal, é o elemento discriminante e definidor da sociabilidade no espaço público. A sociabilidade implica o reconhecimento recíproco e a igualdade nas relações no espaço público, que é, afinal, o espaço próprio da deliberação pública.
9.
Não me admira, pois, que os que sempre criticaram a democracia representativa como democracia burguesa sejam hoje grandes críticos desta lei. O que me admira é que um partido como o PS apareça a criticar uma lei que se funda numa das dimensões essenciais do espaço público democrático, ou seja, na ideia do reconhecimento interpessoal como processo decisivo da dialéctica democrática e da sociabilidade. Infelizmente, não é caso único, pois o que se constata é algum desnorte ideológico das recentes lideranças deste partido, que ainda é e será o meu. JAS@10-2025