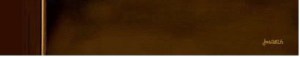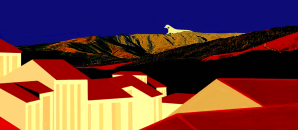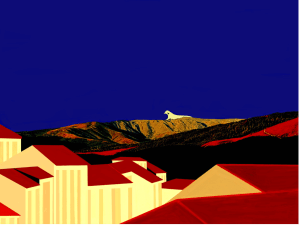O PLEBISCITO
As Eleições que Ninguém Queria
João de Almeida Santos

“S/Título”. JAS 2025
AFINAL, DO QUE SE TRATA, NESTAS ELEIÇÕES, não é só de um plebiscito sobre um primeiro-ministro eticamente (se não judicialmente) problemático, mas sobre todo o governo. Um desvio de atenção para um plano mais amplo. E o poder legislativo, cuja reconstituição deveria ser o centro das atenções, aparece neste processo como um vago cenário de enquadramento de um autêntico plebiscito sobre Luís Montenegro e o governo.
1.
A verdade é que o que motivou estas eleições foi um problema de confiabilidade do PM, sendo, pois, natural que o que deveria estar em causa fosse precisamente isso. Ou seja, a confiabilidade da pessoa do PM. Mas Luís Montenegro quis tornar as eleições sobre o seu problema pessoal, o plebiscito sobre a sua conduta, sobre a sua confiabilidade, em plebiscito sobre o seu próprio governo, repondo a política no debate, tornando-a a verdadeira moeda de troca. Uma mudança substancial, pois. Porquê? Porque decidiu levar 66,6% (72,2% se contarmos com Miguel Pinto Luz, n.º2 na lista de Lisboa) dos seus ministros a escrutínio directo dos eleitores – doze ministros, em 18, são cabeças de lista nos 22 círculos eleitorais (54, 5%), a que acrescem ainda dois secretários de Estado como cabeças de lista (um deles, Hernâni Dias, foi, mas já não é SE), elevando para 77,77% a presença governativa na liderança do PSD nos círculos eleitorais (14 em 22). Nem sei mesmo por que razão Luís Montenegro não levou todo o governo, a nível ministerial (mesmo todo, 100%), a sufrágio, tornando assim ainda mais claro que não se trata de eleições legislativas, mas de eleições executivas, isto é, eleições sobre si e o seu governo, sob forma de plebiscito. Algo ainda mais profundo do que o famoso “premierato” (a eleição directa do PM) da senhora Giorgia Meloni. Algo inédito na nossa democracia e talvez mesmo em todas as democracias do mundo. A prova? O Conselho de Ministros acaba de entrar directamente em campanha eleitoral no mercado do Bolhão, no Porto, sem um sobressalto digno de nota. Formalmente, nada a apontar, mas estas eleições (escolhidas por Luís Montenegro, com o acordo de Pedro Nuno Santos, que as tornou possíveis) são uma operação que visa relegitimar directamente o governo e, por implicação, a figura do próprio primeiro-ministro. E se vencer as eleições a conclusão é clara: os eleitores ter-lhe hão dito que aprovam o seu comportamento, lhe reiteram a confiança e que pode continuar com a mesma equipa e nos mesmos termos em que governou até agora. Quem são os deputados que irão representar a nação, isso tem pouca ou nenhuma importância. Um mal de que a nossa democracia representativa sofre cada vez mais.
2.
Mas, diriam os orgânicos do PSD, de qualquer modo, o argumento não pode ser exactamente este, porque só há como cabeças de lista 66,6% (ou 77,77%) do governo e não 100%. Mas, digo eu, além de ser uma gigantesca representação governativa em directo confronto eleitoral, talvez a restante percentagem não aconteça para não comprometer excessivamente a formação do próximo executivo, porque, a ser integralmente sufragado no dia 18 de Maio, este governo, em coerência, deveria ser reposto na sua forma original, fazendo, depois, e por consequência, subir ao Parlamento as outras obscuras figuras que figuram em segundo lugar e que ninguém conhece. Algo parecido a isto acontece nas eleições autárquicas, com o executivo a ser eleito directamente. Mas talvez o PM não tenha querido assumir este compromisso tão global, até porque, por exemplo, um dos membros relevantes do seu governo vai ser candidato à Câmara do Porto, Pedro Duarte. Ou porque não tenciona indicar certos ministros para o futuro governo, por exemplo, a Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues (que, todavia, já disse em entrevista ao JN que gostaria de continuar) ou a da Administração Interna, Margarida Blasco, por razões bem conhecidas, ou seja, por uma prática excessivamente conflitual ou por manifesta incompetência, respectivamente. Mas, como disse, o número de ministros apresentados (12, em 18, sem contar com Pinto Luz) é mais do que suficiente para surgir como um sufrágio para a reconfirmação e a relegitimação directas do governo. E mais: de um governo já remodelado. Luís Montenegro faz, assim, uma tripla operação: a) remodela o governo em pleno processo eleitoral; b) transfere para o conjunto do governo o seu problema pessoal; e c) transforma as legislativas em eleições directas para o executivo, ou seja, um plebiscito, ou um referendo, sobre o conjunto da equipa governativa, agora remodelada. Uma operação arguta, sem dúvida, mas muito problemática à luz da matriz constitucional do nosso sistema político, para não dizer à luz da própria matriz da democracia representativa, mas em linha com a interpretação presidencial do sistema, aqui por mim evidenciada no meu último artigo. (https://joaodealmeidasantos.com/2025/04/01/artigo-196/). A democracia parlamentar, tal como está configurada na Constituição, a deslizar progressivamente para o presidencialismo e o decisionismo do primeiro-ministro. Concordarão os eleitores com este desvio à constituição e, já agora, à própria ética pública a que deve obedecer o exercício de funções públicas desta dimensão?
3.
Mas o problema não fica por aqui, pois esta evolução para o presidencialismo do primeiro-ministro, para um problemático decisionismo e para a centralidade do executivo, a ponto de desviar o sistema do seu centro axial, que é o parlamento, também tem consequências profundas sobre o sistema de partidos, em especial, sobre os chamados partidos da alternância, os que estão em condições de aceder à gestão governativa do país. O que acontece é que os primeiros-ministros, tendo a faculdade constitucional de escolher os membros do governo, adquirem, ipso facto, um poder que transborda para os respectivos partidos, dando lugar a uma autêntica e efectiva colonização do território partidário, até tendo em conta que estes partidos vivem cada vez mais do aparelho de Estado (em empregos e em finanças). E como? Enviando os “centuriões” governativos (por si livremente escolhidos e portadores de prestígio governamental) para a gestão e a representação do território partidário e dando lugar a uma autêntica colonização deste território, onde os “nativos” deixam de contar, como se vê pela formação das listas do PSD (mas não só) para as eleições ditas legislativas e, em parte também, para as câmaras municipais. “Paraquedistas” com patine governativa e com chancela presidencial (do presidente do partido e PM). O que, ao fim e ao cabo, acontece é uma imposição a duas escalas (parlamento e partido) da vontade do líder, com o consequente atrofiamento do corpo orgânico quer do parlamento quer do partido, este substituído quer pelos “centuriões” quer por agências de comunicação. Uma cabeça grande num corpo atrofiado. Algo pouco compatível com a cultura democrática e com a própria matriz da democracia representativa. Todo o complexo institucional é constituído à imagem e semelhança do líder.
4.
Este caso do PSD e do governo de Luís Montenegro é bastante exemplar neste sentido. Mas já com António Costa algo muito parecido foi acontecendo. E, todavia, no caso actual, a escolha destes ministros (e já não falo da escolha do Presidente da AR, Aguiar Branco, ou do seu líder parlamentar, Hugo Soares, que são escolhas naturais), do secretário de Estado das comunidades, José Cesário, ou do antigo secretário de Estado, Hernâni Dias, para cabeças de lista, que, como disse, se contabilizados, fariam subir de 66,66% para 77,77% a percentagem de cabeças de lista com chancela governativa, atinge uma tal dimensão que é difícil não retirar daí ilações sobre os seus efeitos na própria natureza do sistema político. Neste processo é, pois, também a natureza dos partidos que é posta em causa. A personalização extrema da política, que é uma tendência geral, está a ter efeitos que já põem em causa a própria matriz do sistema representativo e o sistema de partidos tal como os conhecemos.
5.
Esta evolução do nosso sistema político não me parece ser boa para a saúde da democracia. Em primeiro lugar, porque anula a centralidade do parlamento, ou seja, da pluralidade dos representantes da nação; em segundo lugar, porque entroniza o líder que chegou a primeiro-ministro e permite a captura integral do partido que lhe serve de suporte; em terceiro lugar, porque menoriza o território partidário, o torna integralmente dependente do Estado e do líder de turno e impede a emergência de figuras autónomas e independentes da vontade (sempre) centralizadora das lideranças. Ainda por cima reforçada com o tipo de sistema eleitoral que temos, com listas fechadas e identificadas com o símbolo do partido. Numa palavra, o partido fica reduzido a mera projecção da vontade do líder, como se está a ver neste caso, com um PSD totalmente “domesticado” e alinhado com a estratégia pessoal do seu líder, ou seja, com o seu comportamento pessoal e privado, mesmo que generalizadamente posto em causa. Impera, assim, uma linearidade exasperante em partidos que atingiram uma considerável dimensão eleitoral porque é suposto representarem uma grande diversidade de sensibilidades. Com esta mudança, a diversidade no interior do partido, mas também no próprio parlamento, passa a ser coisa do passado. E a verdade é que esta tendência é a mesma que se está manifestar com toda a exuberância na direita radical. Mas, pelos vistos, até nos partidos de centro-direita ou mesmo de centro-esquerda ela parece estar a fazer o seu caminho com grande sucesso.
6.
O que se está a passar neste momento em Portugal é uma profunda anomalia relativamente à matriz da democracia representativa e à sua matriz constitucional. Uma espécie de via paralela que está a ser seguida nas margens da constituição: o legislativo tornou-se simplesmente um sub-rogado irrelevante do executivo, tal como o próprio partido que lhe serve de suporte; as eleições adquirem uma natureza de tipo plebiscitário e estão inteiramente subordinadas à vontade do líder e chefe do governo; e, finalmente, a ideia de representação política parece estar a ser substituída por um decisionismo exacerbado, centrado no primeiro-ministro, que confisca as competências do legislativo e do partido maioritário e os transforma em meros instrumentos de combate numa guerra de generais por ele nomeados. O melhor espelho, muito deformado, de tudo isto é o que está a acontecer, neste momento, nos Estados Unidos, com a presidência de Donald Trump. JAS@04-2025
IDIOSSINCRASIAS PRESIDENCIAIS
AFINAL, VIVEMOS, OU NÃO,
EM DEMOCRACIA PARLAMENTAR?
João de Almeida Santos

“S/Título”, JAS 2025
LI COM MUITA ATENÇÃO e interesse o recente artigo de Alberto Costa, no “DN”, “Dissolver, Dissolver, Dissolver” (27.03.2025). Título curioso e muito significativo. E não só porque põe em evidência a anomalia política e constitucional dessa espécie de “dissolução permanente”, como também suscita uma reflexão mais ampla sobre a evolução do processo político em moldura democrática e representativa.
1.
É claro que nós vivemos em regime de democracia parlamentar, onde o centro deveria estar no parlamento e não na figura do primeiro-ministro, sujeita que está às vicissitudes pessoais do próprio, muitas vezes problemáticas, como é actualmente o caso. Mas a verdade é que se tem vindo a evoluir para uma excessiva personalização da política, a ponto de tudo se centrar na figura dos líderes, sobretudo os dos partidos da alternância, os que se vêm alternando no poder. PS e PSD, no caso português. As eleições estão cada vez mais concentradas naquelas figuras, reduzindo o processo político a uma mera competição entre pessoas, sobretudo entre duas pessoas. Actualmente, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Confessemos que a escolha é muito reduzida, por se centrar em duas pessoas, num processo que envolve 230 mandatos, programas de governo e mundividências políticas. E, neste caso, as eleições até parece serem mais um plebiscito sobre Montenegro do que outra coisa, feridas que estão, à partida, pela questão da confiabilidade do actual PM, a única razão que as motivou. Se o plebiscito lhe for favorável não se abrirá uma espiral de promiscuidade maior do que a que já existe?
2.
Isto começou com a emergência da televisão na política democrática nos Estados Unidos (ademais um regime presidencialista) logo nos anos cinquenta, ao mesmo tempo que se iniciava também um processo de avaliação, digamos, “moral” dos candidatos a presidente, com as famosas “campanhas sujas” a alimentarem as campanhas presidenciais americanas, ao longo de décadas. Refiro somente algumas, que ficaram famosas, e sempre contra os candidatos democratas: as que visaram Michael Dukakis, John Kerry ou Barack Obama. Nos dois primeiros casos funcionaram. No caso de Obama, não.
3.
Decorre da sua extrema personalização que a política se passe a concentrar em lideranças pessoais, nas suas qualidades e nos seus defeitos, ficando, portanto, dependente delas, em detrimento dos próprios sistemas de poder. A política a afunilar nos líderes e na sua imagem e a evoluir para a hiperpersonalização. Mesmo nas democracias parlamentares se está a verificar esta tendência, com a redução das campanhas eleitorais (das permanent campaignings às pré-campanhas e às campanhas propriamente ditas) à figura do líder, quase deslizando para a figura do plebiscito (e as de Maio até parece serem mesmo isto) e tornando-as cada vez mais fungíveis e condicionadas pelas vicissitudes das pessoas em causa. Trata-se, pois, de um afunilamento que fragiliza a política e que abre uma espiral de psicologismo pouco compatível com a matriz da democracia parlamentar, mas também de pasto verdejante para os apetites judiciais e para o lawfare, cada vez mais frequente. A essa espiral estão sujeitos todos os partidos, mas sobretudo os que estão em condições de aceder ao governo do país.
4.
Na verdade, o que está em causa nas eleições e numa democracia representativa é a escolha de representantes para o legislativo (230, no caso português), a que se segue a constituição de maiorias parlamentares de onde resulta necessariamente a indigitação de um PM e a constituição de um executivo. O princípio da maioria é um princípio essencial dos sistemas representativos. No caso inglês, nenhum membro do governo poderá sequer ser escolhido fora do Parlamento, o que está a indicar, com meridiana clareza, a natureza parlamentar do regime e a centralidade iniludível do parlamento. Depois, as candidaturas ao parlamento são protagonizadas pelos partidos políticos ou por coligações e é nesse âmbito que se formam as maiorias. Partidos, não pessoas (e não é por acaso que o sistema não prevê candidaturas não partidárias). E muito mais nos sistemas eleitorais de tipo proporcional, com as suas propostas em listas fechadas. São eleitas pessoas, mas as escolhas e as propostas só podem ser feitas por partidos, em listas fechadas (vota-se na lista, mas através da sigla do partido, não se podendo sequer exprimir uma preferência, no caso do nosso sistema eleitoral). Assim sendo, reduzir as eleições às figuras dos líderes partidários candidatos a primeiro-ministro significa várias coisas: a) diminuir o papel do principal órgão de soberania, que é o Parlamento, porque é ele que integra os representantes; b) tornar mais fungível a política democrática por ficar dependente da figura do líder, do seu comportamento pessoal e das vicissitudes que ocorram (como se viu); c) transformar as legislativas em eleições para o executivo, desvirtuando profundamente o regime constitucional; d) abrir espaço para as famosas “campanhas negativas”; e) reduzir os partidos às figuras dos líderes, com gravíssimas consequências na própria composição dos seus órgãos internos e na propositura de candidatos a cargos institucionais; e, f) finalmente, pôr o sistema à mercê de inquéritos judiciais que podem ser promovidos por simples cartas anónimas, facilitando a prática de lawfare, cada vez mais frequente.
5.
Posto isto, qual a razão do título do artigo que acima referi? Claramente esta: o Presidente da República parece ter já assumido como doutrina oficial a hiperpersonalização do regime, onde o primeiro-ministro é o centro do sistema, decorrendo, pois, as eleições em torno da sua figura, ou seja, transformando-as em eleições para primeiro-ministro. Há quem lhe chame presidencialismo do primeiro-ministro. E há, no caso português, um momento muito claro relativo a esta assunção presidencial: o da tomada de posse de António Costa, em 2022, quando o PS obteve a maioria absoluta. Disse o PR mais ou menos isto: o senhor (não o PS, entenda-se) ganhou as eleições e, por isso, a sua saída implicará novas eleições. António Costa encontrou a oportunidade para (graças ao ministério público) sair imaculado em direcção a Bruxelas e houve eleições. É claríssima, aqui, a desvalorização do partido (que ganhou as eleições) e do parlamento (onde existia uma maioria absoluta desse mesmo partido). Depois, a questão da “confiabilidade” do PM. Surgiu a questão e, consequentemente, outra vez eleições. Há aqui um reajustamento do regime: as eleições, embora também sirvam, em via subordinada, para eleger 230 deputados, servem, no essencial, para eleger um todo-poderoso primeiro-ministro, capaz de reconfigurar o seu próprio partido e o sistema político à sua medida. Adapte-se, pois, o sistema à hiperpersonalização da política democrática e passe-se a eleger directamente o PM, dando forma constitucional ao presidencialismo do primeiro-ministro e, já agora, transformando a Presidência da República num simples cartório notarial. Constitucionalize-se, pois, o que já está a ser feito na prática, para que o processo seja legítimo. Mas, se assim, for terá razão a senhora Giorgia Meloni, ao propor, como fez, uma alteração constitucional para a eleição directa do PM italiano. Mas, ao menos, ela submeteu a mudança ao parlamento (e já passou no Senado) e, eventualmente, a um referendo (se não passar na Câmara dos Deputados, como é previsível). Pelo contrário, aqui, entre nós, e com um Presidente doutorado em direito constitucional (com uma tese sobre “Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português”), a fórmula já passou à prática, sem passar pelo parlamento ou pelos eleitores. Só que, por um lado, a nossa Constituição não prevê a eleição directa do PM, estando, por outro lado, o PR obrigado a cumprir e a fazer cumprir a Constituição, não possuindo legitimidade nem autoridade para produzir alterações constitucionais, formal ou informalmente. Só o parlamento, agora extremamente diminuído, o pode fazer, desde que, para o efeito, tenha uma maioria qualificada. Mas foi o que o PR fez: uma alteração informal do regime de democracia parlamentar, ao considerar irrelevante o Parlamento e os próprios partidos da alternância, perante o agigantamento das figuras dos líderes (no entendimento, errado, de que são eles que ganham, ou perdem, as eleições, e não os partidos). Esta visão é muito própria de quem vê o processo político exclusivamente como um processo comunicacional e não, também, como um complexo e difuso processo orgânico e territorial.
6.
Na verdade, já houve três dissoluções num só mandato presidencial. A primeira, devido à não aprovação do Orçamento de Estado (inevitável? Não está escrito que seja necessariamente assim); a segunda, depois da saída (para Bruxelas) de António Costa, justificada com o facto, anunciado publicamente, de estar a ser objecto de um inquérito-fantasma e apesar de o PS (de forma desastrada, diga-se, por não terem sido consultados os órgãos do partido), por iniciativa do seu secretário-geral, ter proposto um nome alternativo para a chefia do governo; a terceira, por uma questão de confiabilidade do PM (a que se segue, mais do que legislativas, um verdadeiro plebiscito). Mais claro do que isto parece ser impossível.
7.
A doutrina parece ter ficado estabelecida pelo actual PR, dando continuidade àquilo que na prática está a acontecer: a hiperpersonalização da política. Tendência que ele próprio pratica. Será isto aceitável? Não creio. Essa hiperpersonalização está a acontecer hoje nos Estados Unidos, com Donald Trump, e à revelia das próprias normas constitucionais, e as consequências já estão a ser absolutamente desastrosas e perigosas, incluindo a de anulação dos vínculos constitucionais, até já (ao que parece) na questão da duração dos mandatos presidenciais. O que está em causa é mesmo a natureza da democracia representativa e os seus mecanismos internos de “checks and balances”, para além da sua identidade como democracia representativa, ou seja, lá onde o poder está essencialmente centrado nos representantes, isto é, nos deputados, no parlamento, no poder legislativo.
8.
É claro que, como disse, há muito que se vem verificando esta tendência para a hiperpersonalização da política, muito devida ao domínio do audiovisual na comunicação política. Personalização que acontece quer no plano dos partidos quer no plano do Estado, sendo aqueles tributários deste, e vice-versa. Mas, mesmo assim, nunca se verificou uma tendência como aquela que estamos a viver no sentido de hiperpersonalizar a democracia representativa à revelia das próprias constituições, ou seja, sem que tenha havido as correspondentes alterações constitucionais. O deslize neste sentido tem vindo a verificar-se na Hungria de Orbán, verificou-se na Polónia de Kaczynski e também está a acontecer de forma prepotente e inconstitucional nos Estados Unidos do senhor Trump, do senhor Musk e do senhor Vance. Num só caso está a acontecer uma tentativa com dignidade constitucional, a mudança do sistema através de um “disegno di legge costituzionale”, na Itália da senhora Giorgia Meloni. Com efeito, em Novembro de 2023 ela apresentou um curioso “disegno di legge costituzionale” neste sentido.
9.
Não se trata, de facto, de quinquilharia constitucional. Trata-se, isso sim, de uma mudança estrutural que altera a natureza da democracia, alterando a geometria e os equilíbrios dos seus mecanismos internos. Uma mudança que, de resto, corresponde mais à orientação da direita radical do que à da direita moderada ou à da social-democracia. Para esta evolução chamei a atenção no meu recente livro “Política e Ideologia na Era do Algoritmo” (S. João do Estoril, ACA Edições, 2024). Uma evolução não desejável porque não se inscreve na matriz liberal do sistema representativo nem na natureza da democracia parlamentar. A evolução, pelo contrário, deveria acontecer no sentido de uma política deliberativa e de uma democracia deliberativa, tanto mais necessárias quanto temos perante nós poderosas máquinas de construção do consenso, dominadas pela plutocracia populista, ou plutopopulismo, e capazes de garantir “democraticamente” a base consensual para o exercício hiperpersonalizado do poder. Falo do que está a acontecer nos Estados Unidos, com o já famoso “capitalismo da vigilância”, o das grandes plataformas digitais, o dos senhores Mark Zuckerberg e Elon Musk, agora alicerçado politicamente na própria Casa Branca e no seu inacreditável inquilino.
10.
Não quero com tudo isto dizer que o actual PR inscreva a sua acção política na lógica da direita radical, mas simplesmente que o seu exercício presidencial tem sido pouco conforme aos preceitos que servem de moldura constitucional à nossa democracia parlamentar. Preceitos que ele jurou cumprir e fazer cumprir quando tomou posse, mas que, à primeira dificuldade, ele transgride. Também não vejo na sua acção uma qualquer intenção conspirativa que se inscreva na lógica da direita radical. O que tenho visto, isso sim, é uma prática deformada de acção presidencial, sobretudo numa matéria de enorme relevância para a nossa democracia. Que o Presidente fale demais, isso pode tolerar-se; que interfira na esfera de competências do executivo já se aceita menos; mas que, pela sua acção, transforme por dentro a matriz do nosso regime de democracia parlamentar, isso é simplesmente inaceitável, por até ser contraditório com a função que foi chamado a desempenhar por mandato popular. JAS@04-2025